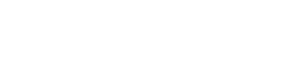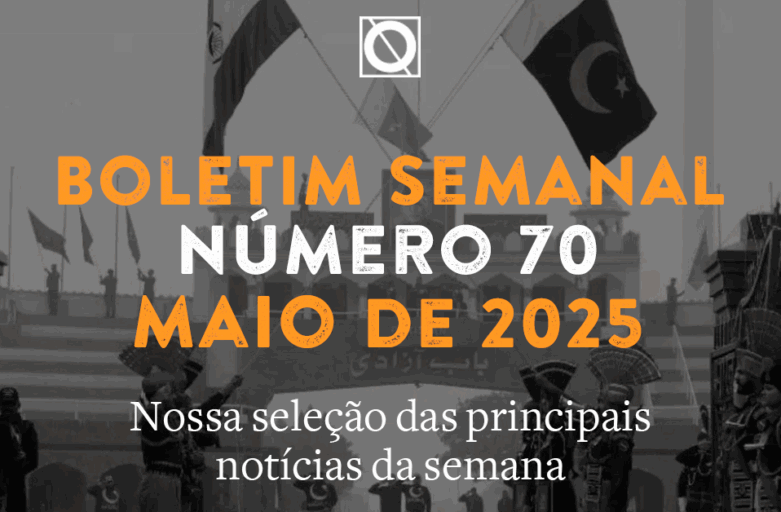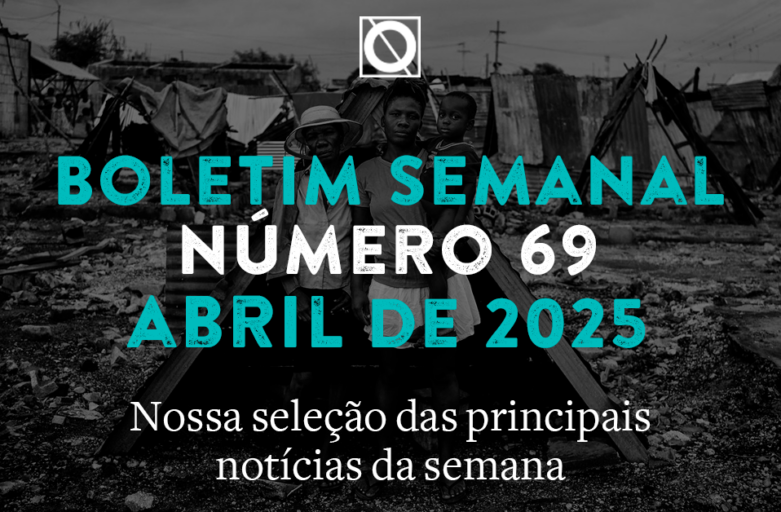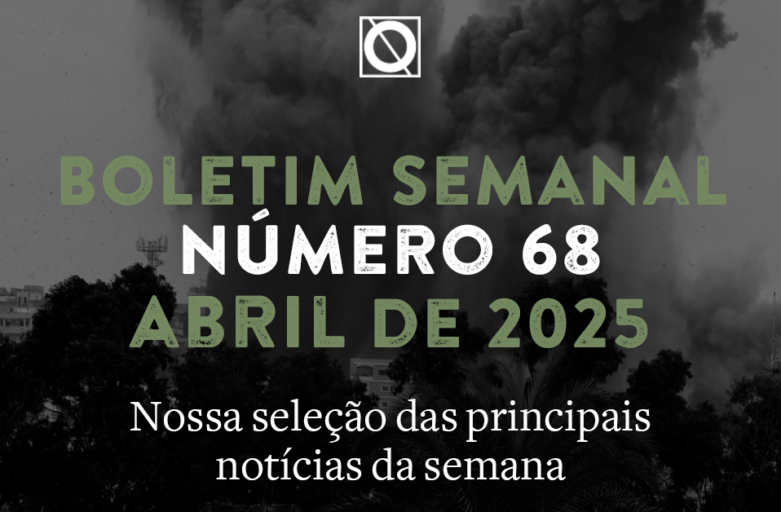por: Raúl Zibechi1 e Silvia Beatriz Adoue2
Introdução ao dossiê sobre a Venezuela
O processo que se abriu em Venezuela a partir do Caracazo chamou a atenção de América Latina e despertou o entusiasmo de não poucos militantes do continente. Levantando bandeiras de unidade latino-americana e de superação do capitalismo dependente. Várias foram as tentativas, que passaram pelo confronto com a proposta estadunidense da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA) e pela formação da Aliança Bolivariana das Américas (ALBA), unindo governos que se erigiram com promessas de superação das políticas neoliberais e movimentos sociais do continente. Também propostas de um mercado e uma moeda comuns. Propostas todas que foram empalidecendo ao calor da demanda extrativa das grandes cadeias de acumulação. Porém, Venezuela permanecia como curadora dessa promessa não cumprida para esses militantes que viram na proposta bolivariana não apenas um projeto de superação do capitalismo dependente, senão também uma concomitante transformação do exercício do poder, do Estado às comunas, como forma de exercício do poder popular.
Façamos um pouco de história
O Caracazo, em 1989, inaugurou uma sucessão de rebeliões populares contra as transformações neoliberais que as demandas da acumulação capitalista impuseram ao mundo. Anunciadas explicitamente pela primeira ministra do Reino Unido, Margaret Tatcher, essas medidas eram coroadas pelo mantra T.I.N.A. (“There is no alternative” -não há alternativa). Como nas que seguiram na América Latina, na rebelião de Caracas predominou a espontaneidade de quem viu suas referências cotidianas implodir sem mediação de suspeitas prévias. As gentes, até então conformadas, que levantavam de manhã e eram surpreendidas por um aumento das tarifas de transporte e um conjunto de medidas de ajuste que afetavam todos seus planos.
A rebelião surpreendeu a todos, inclusive a seus próprios participantes, que mediram a força popular contra a repressão, que perceberam sua falta de organização. As organizações de esquerda e populares não deram conta de prever, quanto menos organizar o movimento, brutalmente reprimido. No entanto, o protagonismo popular dessas jornadas, guardado na memória, permitia fazer novos planos, o que exigia tecer redes mais amplas e traçar estratégias comuns. Isso demora: supõe tempo, pequenas lutas nas quais testar formas organizativas e confiança mútua. É impossível pular de uma força espontânea para uma frente comum que possa preparar ações coordenadas capazes de impor mudanças.
Mas teve uma organização que, por seu regime interno, a “ordem cerrada”, conseguiu agir rapidamente. Uma corrente interna das forças armadas, já organizada desde 1982, o Movimento Bolivariano Revolucionário 200 (MBR-200), urgida pela intenção de não ser confundida com a repressão ao Caracazo, lançou-se a um putch, em 1992. Sem laços orgânicos com os movimentos populares, o grupo, até então, desconhecido pela gente comum, não obteve apoio popular. O putch foi sufocado, os líderes, entre eles o tenente-coronel Hugo Chávez, foram presos. Porém, e contra as expectativas das grandes maiorias, Chávez não fez qualquer acordo. Replicando, com outras palavras, a peça de defesa do jovem estudante Fidel Castro, quando foi preso pelo ditador Fulgencio Batista, “a história me absolverá”, Chávez admitiu que haviam perdido “por enquanto”. Esse pequeno gesto foi lido por essas grandes maiorias como uma disposição para continuar a peleja, em lugar da claudicação prognosticada pela desconfiança popular frente aos militares.
O que aconteceu depois é mais conhecido: Chávez candidatou-se à presidência de Venezuela em 1998 e ganhou com 56% dos votos; desde o governo, promoveu reformas anti-neoliberais e uma nova constituição, ainda sem romper com a dependência das exportações de petróleo; em 2002, sofreu uma tentativa de golpe de Estado que foi revertido imediatamente por uma sublevação popular; com mais força, promoveu reformas mais profundas, como a reforma agrária. Em 2007, lançou o Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), reunindo várias organizações de apoio para efeitos eleitorais. O apoio com o qual contava, porém, ia para além dessa organização partidária e tinha suas raízes na confiança que havia conquistado frente às grandes maiorias e nas numerosas organizações populares de base territorial que floresceram em torno das políticas públicas.
Em 2010, Hugo Chávez propôs a Lei Orgânica de Comunas, uma forma de organização de “participação e protagonismo” popular que fazia parte do que se chamou “a nova geometria do poder”. Chávez propunha uma transição socialista baseada na substituição paulatina do Estado pelas Comunas. Esse seria o caminho bolivariano em pós do “Socialismo do Século XXI”. Enquanto esse socialismo não chegava, essas organizações de base seriam alimentadas com políticas públicas de transferência de renda para fortalecer sua autonomia produtiva e para, assim, acabar com a dependência das exportações de petróleo e as práticas de “rentismo” que tinham se consolidado ao longo da história venezuelana com o abandono da produção agrícola. A soberania alimentaria era base fundamental para se livrar da dependência. Por outro lado, esse processo não deslanchava e, na prática, as políticas de apoio às organizações eram absorvidas pelos automatismos do “rentismo” (dependência do fluxo de recursos públicos procedentes das exportações petroleiras). Quer dizer, mais que uma estratégia para sair do círculo fechado da dependência das exportações, essas políticas tinham um efeito de distribuição de renda.
Resultante de uma iniciativa de cima e com o controle do Estado sobre o fluxo de recursos, as comunas não davam mostras de autonomia política e, quando as davam, chocavam com a burocracia de um Estado pesado e labiríntico, quando não de um rápido “disciplinamento”. Para além de que tivessem o amparo da razão ou não, autonomia é também autonomia para errar. As primeiras atingidas por tal “disciplinamento” foram justamente as comunas formadas dentro da indústria, com a força que supõe a produção em escala. O que se esperava que fosse a tendência a ser afirmada, a autonomia das comunas, terminou sendo algo excepcional.
Por outro lado, as importações de alimentos e produtos manufaturados não podiam parar. O governo promoveu acordos com empresas de procedência chinesa e com o próprio Estado chinês, para fomentar o desenvolvimento interno, como alternativa à dependência da venda de petróleo num mercado dominado pelas transnacionais de procedência estadunidense. Também promoveu um empresariado que levasse adiante as importações e industrializasse, com a esperança de manter a economia em funcionamento. Na prática, essa burguesia fomentada por políticas de Estado, longe de estar disposta a cumprir um papel “transitório”, aprofundava o “rentismo” ao fazer seus negócios, e gerava relações de dependência permanente.
Essa transferência de renda para alimentar um setor privado com interesses de lucro e num país que desacelerou qualquer projeto industrializador desde a descoberta das ricas jazidas de petróleo, estava longe de fomentar o desenvolvimento de uma burguesia industrial. Mais bem nutriu uma camada um tanto “pirata” com interesses privados e corruptora de funcionários da burocracia estatal, com a qual se acertava para rapinar os recursos públicos. A corrupção, porém, argamassa predominante nos “consensos” do capitalismo dependente, não era tratada como estrutural, e sim como simples desvio moral.
Já no leito de morte, e percebendo a encruzilhada na que o processo por ele iniciado se encontrava, Chavez quis deixar uma palavra de ordem que não admitisse ambiguidades: “Comuna ou nada!”. Era fácil dizer. Quem assumiriam essa tarefa?
Processo “congelado”?
Para a maioria dos militantes de América Latina que viram com bons olhos o processo bolivariano, a história da Venezuela parece congelada naquele momento, mais como uma esperança no papel que como uma realidade efetiva e concreta. Já se passaram 11 anos desde a morte de Hugo Chávez. Muita água passou debaixo da ponte.
A soberania alimentaria não se concretizou, e, através dos vínculos com o mercado mundial, imposições externas têm efeitos deletérios na economia interna, inclusive na economia monetária. O salário mínimo caiu a níveis impensados e a escassez de produtos de primeira necessidade levaram um número altíssimo de trabalhadores a migrar. Calcula-se em mais de 7 milhões os que saíram do país. Muitos desses migrantes são trabalhadores qualificados que, porém, aceitam empregos de baixa remuneração em outros países.
Longe de romper com a dependência das exportações de petróleo, há uma diversificação das exportações que vem crescendo com a extração mineira no Arco do Orinoco. Em 2018, o presidente Nicolás Maduro, que substituiu Chávez, promulgou um decreto que atribui às Forças Armadas Bolivarianas o comércio do minério do Arco do Orinoco. Isto é, além do orçamento do Estado, as forças armadas contam com recursos próprios provenientes do extrativismo mineiro. Isso consolida vínculos com interesses econômicos bem concretos que fortalecem a matriz exportadora de commodities, e militariza a defesa dessa matriz. Isso redunda não apenas em mais repressão contra os povos que defendem os territórios da destruição, senão também em repressão a tudo que ameaçar as políticas de ajuste neoliberal que vêm sendo tomadas para a economia.
A ruptura com a dependência das exportações e o extrativismo parece cada vez mais distante e difícil. Em termos existenciais, vive-se uma “fadiga” social, e decepção perante os anos de promessas não cumpridas. O “Comuna ou nada!” resulta hoje uma ironia cruel para muitos que apostaram na estratégia que, na prática, não saiu do papel. Os funcionários do governo já não podem repeti-la sem vergonha, preferem outras palavras de ordem que lhes retirem responsabilidades.
Depois de várias tentativas da velha burguesia tradicional aliada aos Estados Unidos de retomar o governo, seja pelo golpe de Estado ou por eleições, incluindo a formação de um suposto “governo alternativo” reconhecido por potências alinhadas com os ianques, assistimos recentemente a novas eleições. Desta vez, a aliança opositora apresentou um desempenho eleitoral muito mais do que eficiente. Não são suas qualidades as que permitiram esse resultado: a aliança catalisou a fadiga e o descontentamento que não achou alternativas de recuperação do que se pensou em algum momento como estratégia bolivariana. A Unión Comunera, fundada como movimento político em 2019, para além do PSUV, com militantes das comunas, terminou emprestando seu principal dirigente, Angel Prado, para fortalecer o governo de Nicolás Maduro como ministro das Comunas, afastando toda possibilidade de se apresentar perante os venezuelanos como alternativa ao estancamento.
Cabe, para os militantes latino-americanos, abandonar a imagem congelada de uma Venezuela que não mais existe e que derivou num labirinto do qual “apenas dá para sair por cima”. É a eles que está dirigido este dossiê: um conjunto de entrevistas a venezuelanos críticos, homens e mulheres que em algum momento apostaram na possibilidade de transformações estruturais de curto prazo.
Entrevista com Emilianoi Teran Mantovani
Entrevista com Omar Vázquez Heredia
Entrevista com Luis Bonilla-Molina
Entrevista com Las Comadres Púrpuras
Entrevista com Juan Carlos La Rosa Velazco
Posfácio ao dossier de entrevistas sobre Venezuela
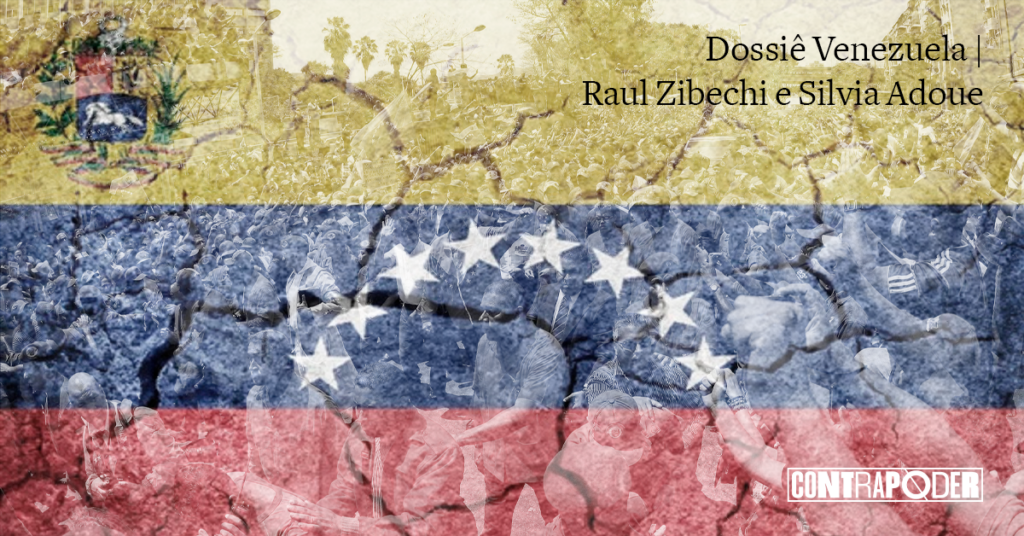
As perguntas sobre Venezuela que os companheiros e companheiras responderam nas entrevistas são aquelas que muitos militantes latino-americanos temem pronunciar, ainda que as formulem para si mesmos secretamente. A polarização que tomou conta das práticas políticas no continente inibe essa indagação tão necessária. Necessária, ainda quando as respostas resultem na “queda funda dos cristos da alma”, como dizia César Vallejo. Tudo que acreditávamos saber sobre Venezuela é posto em xeque. A leitura destas entrevistas faz com que voltemos os olhos “como quando por sobre o ombro nos chama uma palmada” e já não possamos aludir ignorância.
Não se trata apenas de Venezuela. Encarar a deriva do processo bolivariano, em contraste com as expectativas que se criaram anos atrás, oferece-nos um espelho para olhar muitas das práticas políticas e projetos que empurraram a esquerda latino-americana a eludir os desafios de superar a dependência, de organizar-se autonomamente em relação ao Estado e de defesa dos territórios e suas gentes em face da destruição das cadeias extrativistas. A omissão diante de tais desafios não pode ser mascarada com retórica anti-imperialista.
Este texto não passou pela revisão ortográfica da equipe do Contrapoder.
Referências
- Jornalista, escritor, militante, educador popular e teórico político uruguaio.
- Professora da Unesp, editora e colunista do Contrapoder