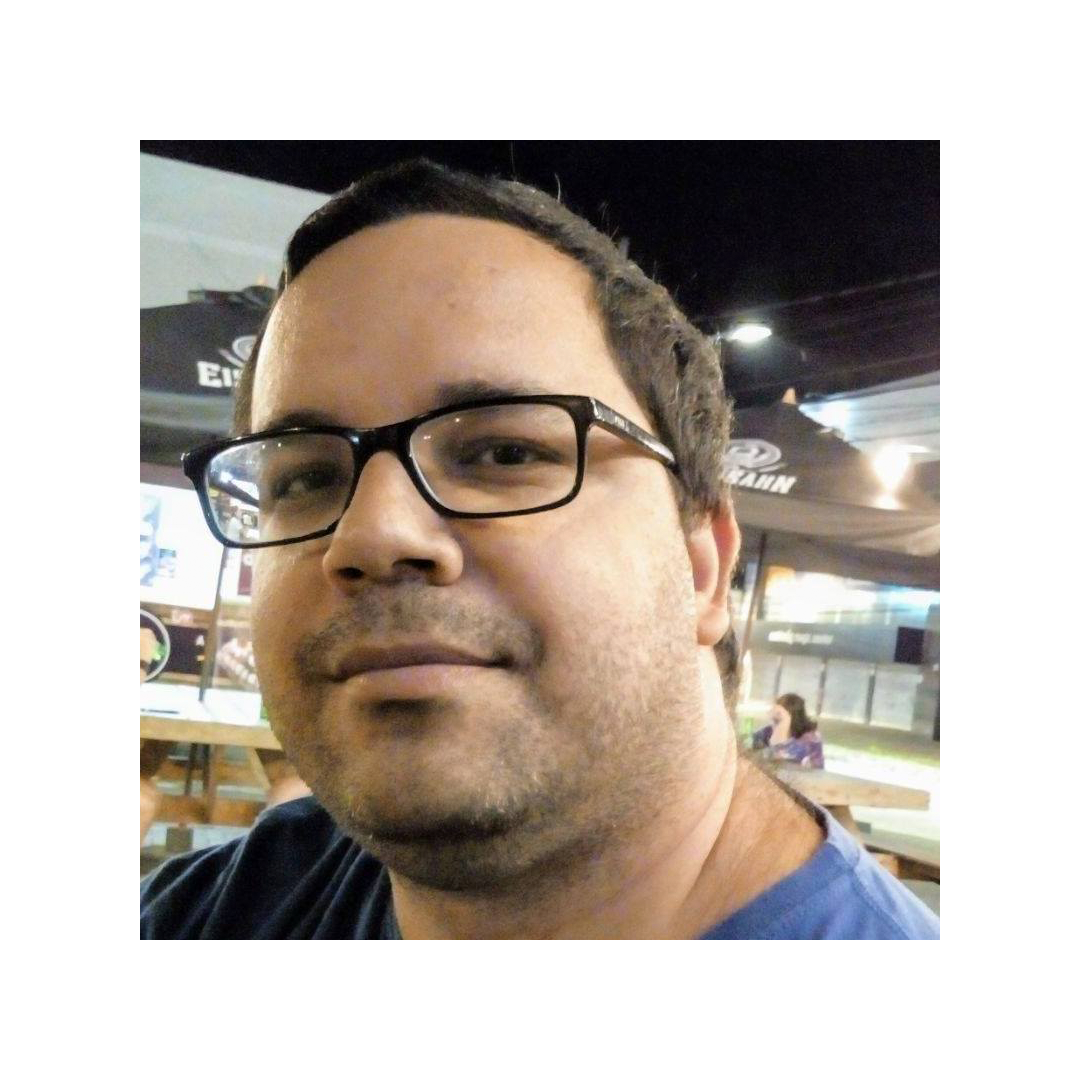Por Michel Goulart1
Na primeira cena de Ficção americana, Monk, o protagonista do filme, é questionado por uma aluna sobre o uso da palavra “negro” em sala de aula. Monk explica que o uso do termo se deve ao contexto da “literatura do sul dos Estados Unidos” a ser discutido e trabalhado na disciplina. Essa literatura, ressalta Monk, deve ser entendida em seu contexto, ainda que expresse “pensamentos antiquados e linguagem grosseira”. Mas a estudante reafirma sua ideia de que “não deveríamos mais usar a palavra com n”, deixa a sala de aula e formaliza uma reclamação contra o professor.
Nessa passagem, fica evidente a forma como o discurso dominante trata a questão dos negros, não encarando o problema como parte da exploração capitalista, mas a partir da ideia de busca por uma representatividade superficial e pela ocupação de espaços. Em determinado momento do filme, o agente de Monk diz de forma bastante lúcida: “Os brancos acham que querem a verdade, mas, na verdade, não querem. Só querem se sentir inocentes”. O próprio Oscar, vencido em roteiro adaptado por Ficção americana, se tornou um espaço onde as produções são obrigadas a cumprir certos critérios de “cotas” para negros e mulheres, sem questionar as condições materiais dos trabalhadores.
Monk, um brilhante escritor negro – e que nunca escreveu sobre negros – se vê diante de um mercado editorial que gostaria que ele escrevesse algo “de negro”. O filme explica didaticamente o que seria esse estereótipo “de negro”, quando Monk descreve essa obra idealizada: “Eles querem um livro de um policial matando um adolescente ou de uma mãe solo em Dorchester criando cinco filhos”.
O filme também apresenta Sintara, uma jovem escritora que fazia sucesso com um livro intitulado “Nóis vive no gueto”. E o ideal dessa literatura “de negro” é explicado ainda mais detalhadamente quando se mostra uma passagem do livro de Sintara. Essa passagem basicamente é uma descrição do cotidiano de pessoas negras, ou seja, algo que valoriza, de forma simplista e superficial, uma idealizada “experiência negra” ou algo do tipo.
Diante disso, Monk acaba por escrever, sob um pseudônimo, um livro cheio de clichês e estereótipos sobre os negros, como forma de ironizar as exigências das editoras. Monk explica para seu agente que o livro “tem de tudo” dos clichês esperados: “Tem pais ausentes, rappers, crack, e ele é morto por um policial no final. Não acha que é bem preto?”
Sua ideia inicialmente era ridicularizar o mercado editorial e não publicar a obra. O livro, segundo o próprio Monk, era uma “piada”. Mas o livro acaba sendo adorado por uma grande editora. “Não lia um livro perfeito assim em muito, muito tempo. Muito cru e verdadeiro”, diz a representante da editora. O livro é idolatrado pela crítica. “Foi como encarar uma ferida aberta” e “é o livro afro-americano mais forte que li em muito tempo”, falam os críticos, entre outras coisas.
Monk tenta de todas as formas sabotar o próprio livro, chegando a exigir que se mudasse o título para “Porra”. Os editores, ainda que hesitantes inicialmente, terminam por aceitar o novo título, afinal esse proposta era algo bastante “negro”. E a história fica ainda mais bizarra quando o próprio Monk e seu agente inventam, ainda em tom de ironia para a editora, que o autor do livro seria um foragido da justiça. Por mais bizarro que possa ser, e o filme faz questão de escrachar isso, esse tipo de ideia se encaixa no estereótipo que se tem do “negro”.
O filme vai didaticamente mostrando como a ideia de raça impregna a percepção da realidade e como isso condiciona a percepção que se tem biológica e culturalmente de uma parcela da população. Em resposta a isso, o próprio Monk diz abertamente que não acredita na existência de raças. “O problema é que todo mundo acredita”, responde seu agente.
O filme mostra-se um exercício de crítica à ideia de que as narrativas sobre os negros devam ser limitadas à pobreza, à escravidão ou ao sofrimento ou mesmo que um negro deva escrever apenas sobre as experiências vividas por sua “raça”. Monk, em um momento de desabafo, fala para sua namorada sobre seu próprio livro: “minha vida é uma desastre, mas não do jeito que está nesta porcaria. Essas coisas nos reduzem e fazem isso várias e várias vezes porque muitas pessoas brancas e, pelo visto pessoas como você, gostam de devorar isso como porcos na lixeira para terem o que comentar nos coquetéis”.
O ponto alto do filme é o prêmio literário para o qual Monk é convidado para ser jurado. E, de última hora, até o livro que escreveu sob o pseudônimo deve ser avaliado. Por conta da representatividade, Monk e Sintara são convidados como jurados. Na discussão sobre a avaliação dos livros, os únicos negros do júri são os que criticam “Porra” por ser um livro, nas palavras do próprio Monk, “que foi escrito para satisfazer o gosto dos brancos que se sentem culpados”.
E a ironia acaba sendo ainda mais profunda, afinal o mesmo que se critica em um filme sobre a escrita “negra” também pode ser levado para o cinema produzido em Hollywood, com seus estereótipos e ideias de representatividade. Numa cena bastante sarcástica, Monk e seu agente conversam sobre a adaptação cinematográfica do livro. Monk não acredita que isso chegaria a acontecer, dada a falta de qualidade da obra. Mas seu agente “explica” que em Hollywood os produtores só leem resumos feitos pelos seus assistentes…
O final do filme fica em aberto, mas, novamente, é explicado didaticamente o porquê disso, mostrando três possíveis finais: o que seria o escolhido por Monk, um final que daria um tom de comédia romântica e outro que seria algo “de negro”. Seguindo a lógica sarcástica do filme, não fica dúvida de qual o final que mais agradou o produtor…
Publicado originalmente em marxismo.org
Este texto não passou pela revisão ortográfica da equipe do Contrapoder.