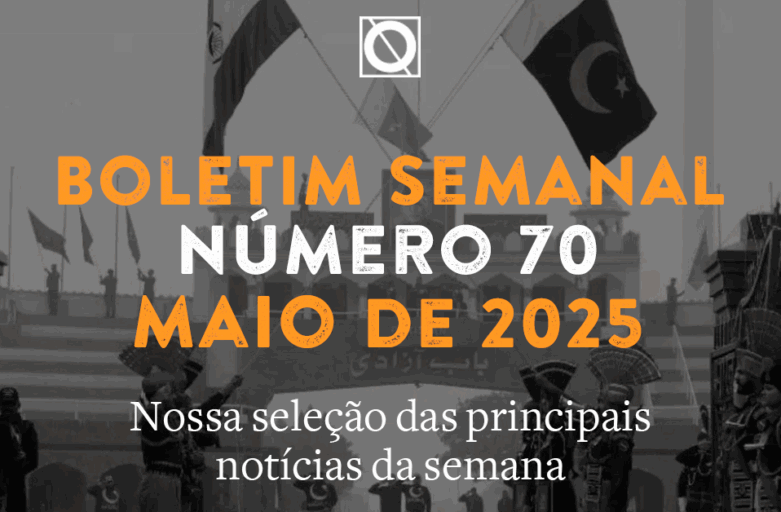Por Stephen Sefton1
3 de novembro de 2023
Após sua derrota na Primeira Guerra Mundial, os territórios do Império Otomano na Síria (hoje Síria e Líbano), Mesopotâmia (hoje Iraque) e Palestina foram divididos em 1920 entre a França e a Grã-Bretanha por meio da Conferência de San Remo, sob a autoridade da Liga das Nações. O Mandato Britânico sobre a Palestina incorporou a Declaração Balfour de 1917, ao abrigo da qual o governo britânico se comprometeu, de uma forma completamente arbitrária, a estabelecer um Estado nacional judeu no território da Palestina. Trinta anos após a Declaração Balfour, em 29 de novembro de 1947, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a Resolução 181 autorizando a divisão da Palestina, e assim surgiu o Estado de Israel. Não houve nenhum processo de consulta democrática à população árabe nativa da Palestina, que naquele momento era o dobro da população judaica.
No momento da votação, apenas 56 países membros da ONU participaram; hoje, a ONU tem 193 países membros. Desses 56 países, 33 votaram a favor da resolução, 13 países, principalmente países árabes, votaram contra e 10 países se abstiveram. Precisamente no início da era da descolonização na maior parte do mundo, a Organização das Nações Unidas, dominada pelas potências imperialistas, criou um estado colonial baseado numa ideologia suprematista, o sionismo, com um governo determinado a expulsar a população árabe para garantir uma democracia judaica. Mesmo antes do fim do Mandato Britânico, em 15 de maio de 1948, as forças sionistas iniciaram uma limpeza étnica de mais de 200.000 pessoas da população árabe, aplicando tácticas de terrorismo e massacre.

Foi nesse contexto que os países árabes vizinhos declararam guerra contra Israel, durante a qual as forças israelitas expulsaram outra parte da população palestina, mais de meio milhão de árabes, e ocuparam suas terras. A conquista e ocupação das terras palestinas pelos sionistas justificaram as palavras proféticas de Vladimir Jabotinsky, líder da Haganah, a organização armada sionista, que escreveu em 1925:
“Uma reconciliação voluntária com os árabes está fora de questão agora ou no futuro. Se você quiser colonizar uma terra onde já vivem pessoas, você precisa fornecer uma guarnição militar para a terra, ou encontrar algum homem rico ou benfeitor que forneça uma guarnição em seu nome.”
Na verdade, os benfeitores e protetores de Israel foram os países ocidentais que garantiram que as numerosas resoluções da ONU e quaisquer outras medidas de direito internacional em defesa dos direitos do povo palestino não fossem implementadas. Toda esta história demonstra as raízes coloniais da fundação de Israel e o neocolonialismo ocidental sistemático que o mantém, protege e defende, mesmo face aos massacres genocidas em curso em Gaza neste momento. A divisão da Palestina ocorreu no período do fim da era colonial, que viu a criação de Estados-nação independentes, principalmente baseados em fronteiras coloniais.
Durante o mesmo período, foi também imposta a divisão de muitos outros países, o Líbano da Síria, a Irlanda do Norte da República da Irlanda, a divisão da Coreia e, até 1975, a divisão do Vietnã. O legado de 500 anos de colonialismo europeu e de sua substituição gradual pela dominação dos Estados Unidos ao longo dos últimos 150 anos tem sido décadas de conflitos sangrentos e guerras destrutivas. No caso da Palestina, a criação de Israel permitiu aos Estados Unidos e aos seus aliados terem seu “porta-aviões inafundável” no coração de uma região estratégica para seus interesses geopolíticos, em razão de sua localização e de seus recursos de hidrocarbonetos.
Neste momento é impossível saber o resultado político-militar dos combates em curso em Gaza, muito menos da iminente guerra regional em formação. Contudo, muitos governos definiram suas propostas para uma possível resolução do conflito. A maioria defende a implementação da Resolução 242 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Essa Resolução do Conselho de Segurança foi adotada há cinquenta e seis anos, promovendo a criação de um Estado palestino equivalente ao Estado israelense.
Como comentou o proeminente ex-funcionário das Nações Unidas, Alfredo de Zayas:
“A obrigação de Israel nos termos da Resolução 242 do Conselho de Segurança, datada de 22 de novembro de 1967, é retirar-se dos territórios ocupados e permitir a implementação prática do direito do povo palestino à autodeterminação, [que é] inalienável e consagrado nos artigos 1 e 55, capítulos XI e XII da Carta das Nações Unidas, bem como no artigo 1º comum ao Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (PIDCP) e ao Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC)”.
Vários observadores comentaram que o Tribunal Internacional de Justiça (CIJ) reafirmou em 2004 o direito dos Povo palestino à autodeterminação e condenou as inúmeras violações do direito internacional por parte de Israel. Além disso, como observou o Embaixador da Federação Russa na ONU, Vasily Nebenzia, Israel não tem direito à autodefesa nos territórios que ocupou ilegalmente durante décadas. Assim, a resistência palestina tem plena legitimidade para reivindicar os direitos fundamentais do povo palestino em suas terras ocupadas, até mesmo por meio da resistência armada.
A proposta da maioria dos governos do mundo para resolver o conflito prolongado entre Israel e a Palestina, de acordo com o direito internacional, é a criação de um Estado palestino. Apesar deste consenso majoritário internacional para a chamada “solução de dois Estados”, existe um corpo de opinião influente no mundo que questiona sua viabilidade e defende a criação de um Estado único. O raciocínio desta posição segue o argumento de Muammar al Gaddafi, que argumentou que os Acordos de Oslo de 1993 foram um engano cujo culminar lógico seria a assimilação da população palestina num único Estado. As propostas mais otimistas de um Estado único levantam a possibilidade de um Estado unitário ou federado capaz de acomodar as aspirações de Israelitas e Palestinos com base na igualdade e na não discriminação.
O que grande parte da discussão de ambas as possibilidades em nível internacional tende a rejeitar, omitir ou mesmo negar é a insistência do povo palestino no imperativo de assegurar um processo de descolonização que corresponda à profunda injustiça histórica que sofreu. E é instrutivo comparar a situação colonial e o contexto neocolonial da luta do povo palestino por sua libertação com outras lutas revolucionárias de libertação que alcançaram seu objetivo. Os exemplos das lutas anticoloniais em Angola, Argélia, Moçambique e Zimbábue esclarecem os vários dilemas que acompanham a luta contra os sistemas coloniais baseados na supremacia racista.
O genocídio do povo palestino e a anexação total de seu território seguem a prática histórica das elites coloniais e de seus governos europeus. Simone Weil, ilustre filósofa francesa, comentou certa vez que a principal inovação da Alemanha nazi foi aplicar a prática da conquista genocida pelo colonialismo europeu à própria população europeia. Certamente, esta foi a experiência das quatro lutas de libertação nacional em Angola, Argélia, Moçambique e Zimbábue, que passaram por diferentes fases de resistência, guerra aberta e negociação até alcançarem a vitória.
A guerra na Argélia terminou com os Acordos de Evian de 1962, em Angola com os Acordos de Alvor de 1975, em Moçambique com os Acordos de Lusaka de 1974 e no Zimbábue com os Acordos de Lancaster House de 1979. Todos estes acordos incluíam medidas para garantir o pleno reconhecimento da soberania nacional e do direito à autodeterminação do povo libertado, com a transferência de poder de forma consensual e programada, que permitiria a partida pacífica em cada caso de centenas de milhares de colonos. Incluíam também medidas para a devida transferência de funções administrativas, a renovação ordenada da polícia nacional e das forças armadas e uma gestão equilibrada da redistribuição de terras e propriedades. Os acordos também incluíam anistias para os acontecimentos ocorridos antes de sua assinatura e garantias de proteção e não discriminação aos colonos que decidissem ficar.
Em todos os casos, os governos metropolitanos correspondentes aceitaram o direito de suas antigas colônias à independência. Na França, o Presidente De Gaulle enfrentou uma violenta rebelião terrorista de direita contra sua decisão de concordar com a independência da Argélia em 1962. Foi a derrubada em 1974 do governo fascista em Portugal pela Revolução dos Cravos que permitiu ao novo governo socialista português concordar com a paz em Angola e Moçambique. E no caso do Zimbábue, foi o apoio resoluto do governo britânico do Partido Trabalhista, que concordou com a decisão de facilitar a independência do Zimbábue em 1980, apesar da resistência do regime rebelde e racista dos colonos.
No momento, o caso da Palestina é diferente, ainda mais complexo e desafiante, porque o governo israelita tem o apoio incondicional do governo dos EUA, que ocupa o papel de estado metropolitano que sustenta o regime colonial sionista em Israel. Com a derrota estratégica já sofrida pelos Estados Unidos e por seus subordinados europeus na Ucrânia, o tempo favorece a causa palestina. Isto pode muito bem explicar a decisão israelense de intensificar o ritmo de seus massacres genocidas face à ofensiva palestina do dia 7 de outubro passado.

Qualquer que seja a resolução finalmente negociada para garantir alguma medida de justiça ao povo palestino, com dois Estados ou com um Estado, as questões mais intratáveis serão do mesmo tipo das existentes nos processos de descolonização anteriores. Principalmente, trata-se do direito do povo palestino à autodeterminação em seu território nacional e à recuperação de seu território nacional da ocupação sionista. A proposta do movimento palestino Hamas neste momento é de um cessar-fogo, de abertura das fronteiras, especialmente com o Egito, e de uma troca de prisioneiros. A liderança palestina espera estabelecer um processo de paz política que culmine num Estado palestino independente com capital em Jerusalém e no direito à autodeterminação.
Parece inevitável, no atual contexto histórico de desenvolvimento de um mundo multicêntrico, que a lógica da descolonização, de uma forma ou de outra, prevaleça no caso da Palestina. Resta ver até que ponto serão resolvidos os dilemas profundos, como, por exemplo, os relativos ao direito de regresso dos milhões de famílias palestinas deslocadas durante décadas pela limpeza étnica sionista. Os colonos sionistas vão ter de aceitar desistir das terras que usurparam, e aqueles dentre eles que não conseguem tolerar estar num Estado que reconheça seus homólogos palestinos como iguais terão de partir para onde quer que seja, tal como aconteceu em Angola, Argélia, Moçambique e Zimbabwe.
As mudanças políticas e institucionais que todos os partidos terão de facilitar e assimilar serão enormes e profundas. Entre elas está o desafio colossal de tornar possível às famílias palestinas superar as consequências psicossociais inimagináveis da dor e da injustiça que sofreram durante mais de um século. No final, todos os antecedentes da descolonização mostram que é inevitável que a Palestina seja livre, graças, como em todas as lutas pela libertação nacional, à força extraordinária e à resistência intransponível do seu Povo.
Publicado originalmente em: https://www.tortillaconsal.com/bitacora/node/2907