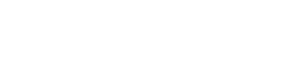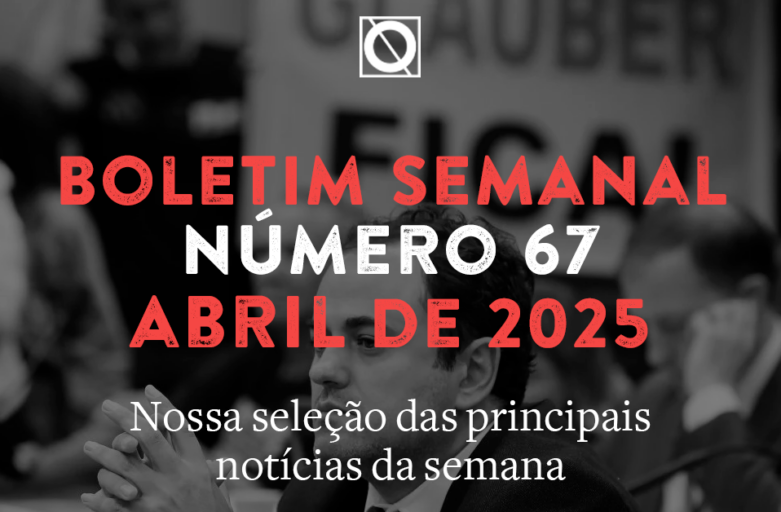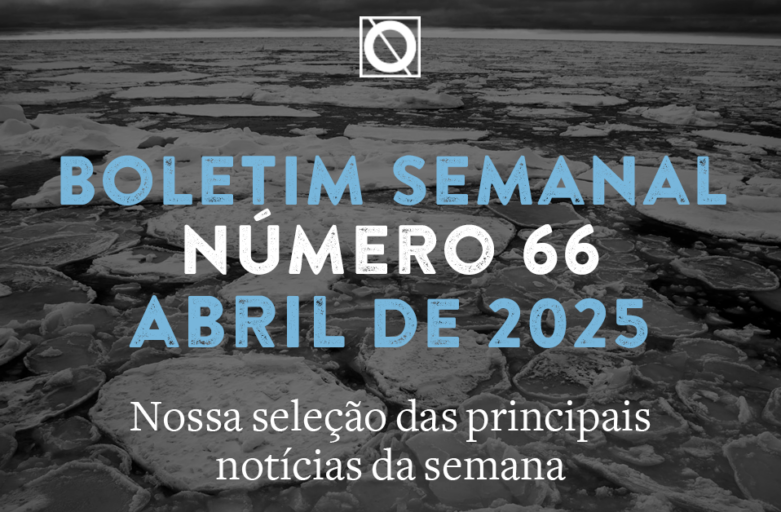Na semana em que se celebra o 13 de Maio, é necessária uma discussão que conecte o momento atual com a forma que se deu a abolição, como ela segue influenciando a questão da democracia no Brasil e o nível tradicional de vida e como isto ficou evidente com a atual crise exponenciada pelo caos sanitário. Vejamos a razão desta necessidade.
A crise atual do Brasil não começou pelo estabelecimento da pandemia do novo coronavírus. Ela trouxe uma dimensão sanitária a uma crise já existente que tem facetas econômica, social, política e ambiental. Sintomas destas dimensões são, respectivamente, os fatos de que o PIB brasileiro cresceu mero 1,1% em 2019; a retirada acelerada de direitos a partir de 2015 com as reformas trabalhista, fiscal, previdenciária e tentativa de reforma administrativa; a crise institucional sem precedentes que vivemos desde 2013 e os casos de crimes ambientais que se reproduzem como os casos de Mariana e de Brumadinho.
Nossa percepção é que o momento demanda uma análise de conjuntura que conecte os problemas que vivemos à luz de uma análise da estrutura socioeconômica brasileira. Assim, esta análise de conjuntura leva em conta interpretações da formação socioeconômica brasileira que sinalizam as raízes de alguns dos problemas da realidade brasileira na sua história a fim de propor um conjunto de ações para o futuro. Propomos que o momento atual faz parte de um movimento maior que combina as especificidades de nossa formação socioeconômica, a vigente crise estrutural do capital apresentada por István Mészáros, e a correlação de forças, interna e externa, do momento.
A crise estrutural do capital é a manifestação das contradições que o sistema de reprodução social do capital impõe a si mesmo desde fins dos anos setenta com a proliferação do neoliberalismo pelo mundo. O neoliberalismo é expressão da tentativa de solução da burguesia para esta crise estrutural e sua dinâmica se dá por um conjunto unitário e amplo de características que concatenam o atual estado de manifestação do capitalismo, políticas econômicas, um conjunto de ideias que dizem prezar pela liberdade do indivíduo e equacionam a luta de classes em favor do capital.
De acordo com Mészáros, a crise estrutural do capital tem no mínimo quatro dimensões: a crise crônica do emprego, o papel truncado do Estado nacional num momento de mundialização do capital, a insustentabilidade da expansão do capital com o meio ambiente (que se expressa, no Brasil, com a expansão do agronegócio) e a premência dos dilemas identitários enquanto uma questão conectada com a luta de classes e a demanda por igualdade substantiva. Centralizaremos nossa análise no aspecto do desemprego crônico, da democracia e na atuação do Estado a partir de uma perspectiva da classe trabalhadora, pois, como mostram os mapas geográficos da crise, quem têm sofrido mais são as pessoas de baixa renda, os negros e mestiços, as pessoas que vivem em favelas e nas periferias e os trabalhadores de aplicativos.
Começando pelo problema do trabalho, vale um comentário sobre a conjuntura dos EUA, país mais poderoso no cenário geopolítico atual. Pelos dados de começo de maio publicizados pelo Departamento de Trabalho dos EUA, o país se encontra com uma taxa de desemprego de 14,4% (há dois meses era 3,5%) e cerca de 33 milhões de pessoas entraram com o pedido de seguro-desemprego nas seis semanas que antecederam à divulgação. Este número alarmante não representa o número de empregos que foram definitivamente destruídos por conta das regras de isolamento social, já que muitas das pessoas retornarão às suas atividades com o relaxamento da quarentena. Entretanto, conforme fala do presidente Trump, há uma projeção de que 20,5 milhões de empregos serão de fato eliminados. O que nos chama atenção é que pelo próprio departamento de trabalho 2008 gerou para a economia estadunidense, entre 2009 e fevereiro de 2020, cerca de 21,5 milhões de empregos. Portanto, a destruição de empregos em seis semanas foi quase equivalente à criação empregos nos dez últimos anos, isto é um reflexo da incapacidade do sistema em absorver a força de trabalho existente até no seu centro.
Quando olhamos o Brasil, um país dependente, dados da dados da PNAD-contínua liberados nas últimas semanas mostram que o Brasil registrou uma taxa de desemprego de 12,2% de sua população economicamente ativa (vale lembrar que em 2014 ela atingiu a mínima histórica de 5%), cerca de 13 milhões de desempregados e a assombrosa taxa de informalidade de 39,9%. Algumas pesquisas acadêmicas[3] complementam a conjuntura sinalizando que a taxa de subemprego, que representa empregos precários, gira historicamente em torno de um terço da população economicamente ativa. Segundo os dados do CAGED, que tiveram publicização interrompida desde janeiro, a maior parte dos empregos gerados eram na faixa de 0 a 3 salários mínimos.
Desta exposição da conjuntura da questão do trabalho no Brasil, queremos destacar na nossa formação socioeconômica as raízes estruturais deste problema e sua forma de manifestação na atual conjuntura, para isso nos apoiaremos basicamente em Florestan Fernandes e Caio Prado Jr. Na semana em que se celebra a abolição da escravidão, vemos como urgente sinalizar que não é a mera ação de libertação da população escravizada que nos interessa, mas sim o processo de libertação gradual que se deu na segunda metade do século 19, em meio a 2ª onda de revolução industrial inglesa e da transformação social da sociedade brasileira do período.
De início, sinalizamos que o processo de abolição não resolveu e nem pretendeu resolver o problema da negra e do negro e dos mestiços, senão que foi um movimento para resolver o problema de força de trabalho para os negócios das oligarquias brancas brasileiras e para a conformação de um mercado mundial liderado pela Inglaterra. Ao contrário, a forma que se deu a abolição no Brasil garantiu que os libertos não pudessem se inserir na sociedade civil e na sociedade política de um Brasil de classes que estava se formando naquele momento. Isto se deu pela criação de instituições econômicas, jurídicas e policiais que colocaram os negros em deliberado estado de pauperismo e anomia social. É importante não confundir anomia deliberada com incapacidade de resistência e de organização dos ex-escravizados, o movimento negro tem um histórico de luta importante tanto durante o processo abolicionista como depois (como é o caso da Frente Negra Brasileira fundada em 1931 e cassada durante o Estado Novo). Sinalizamos que estas instituições criadas pelas oligarquias impediram a efetiva libertação do negro.
Nominalmente, estas instituições foram respectivamente: i) a lei de terras de 1850 que impedia a posse da terra a partir da ocupação para fins de produção de bens de subsistência e extinguiu o regime de sesmarias, a única forma permitida de posse da terra era após sua alienação pecuniária (compra e venda). Ora, como os futuros libertos não tinham patrimônio, o que esta lei fez foi impedir seu acesso à terra; ii) a lei do ventre livre de 1871 e a lei do sexagenário de 1885 expuseram à não preocupação com as condições de vida de crianças (que apesar de nascerem como pessoas livres viviam nas mesmas condições de suas mães escravizadas) e com as pessoas que eventualmente conseguissem atingir 60 anos que passavam a ser livres, mas sem nenhum respaldo estatal; iii) o código penal de 1890 promulgado logo após a proclamação da República e que tornava questão de polícia algumas formas de sociabilidade da população negra e mestiça como a capoeira, o candomblé e o batuque.
Por que esta peculiaridade de nossa formação é importante para nossa conjuntura? Porque a instituição da escravidão segue como balizadora, como parâmetro, das remunerações do trabalho, dos benefícios sociais (como o Benefício de Prestação Continuada e a aposentadoria rural) e da qualidade do emprego que vigora hoje. Ademais, a escravidão também serve como um marco do caráter de nossa democracia, a qual funciona como um circuito fechado que só funciona para aqueles que conseguem se integrar no Estado através da posse de bens e de uma posição no mercado formal de trabalho. Assim, a massa da população, chamada de “condenados do sistema” por Florestan Fernandes, segue excluída da ordem vigente. Isto quer dizer que a abolição instaurou a questão social do Brasil de classes e colocou o racismo como uma questão estrutural em uma sociedade em que já não existia mais escravidão legalizada.
Ao se tornarem força de trabalho excedente para as necessidades do capital, com a deliberada concorrência com a força de trabalho branca e europeia, os recém-libertos participariam da conformação de uma nova sociedade com o início da revolução burguesa no Brasil na era Vargas. Para não cair na armadilha de sobrepolitizar a formação socioeconômica brasileira, destacamos que este período foi marcado por uma base econômica de uma industrialização dependente que nunca conseguiu autonomizar o desenvolvimento das forças produtivas de forma a atender os interesses da maioria da população brasileira. Assim, as classes dominantes brasileiras promoviam a “arcaização do moderno” (uma industrialização espúria) e a “modernização do arcaico” (novas formas de exploração da força de trabalho). Tal processo de acumulação e dominação teve um conteúdo consolidado no regime de 1964-1985 com a conformação de uma classe burguesa antinacional (desconectada com os anseios do conjunto da população), antissocial (baseada na retirada de direitos e na exploração do trabalho) e antidemocrática (restringe os direitos do cidadão à plutocracia).
A transição democrática brasileira seria peculiar porque estaria marcada por uma forma incipiente de um mecanismo de conciliação de classes que nascera no período do milagre econômico (1968-1973), a democracia de cooptação, que prometia a possibilidade de incorporação dos setores pequeno-burgueses e até de setores da classe trabalhadora na ordem. Nascia a Nova República com a constituição de 1988, que instaurou o Estado democrático de direito, uma formalização de uma promessa de civilização da sociedade que não seria cumprida. Paradoxalmente, a cooptação seria exercida de forma mais intensa por um partido de origem na classe trabalhadora, o Partido dos Trabalhadores (PT). Curiosamente, o Estado democrático de direito se estabelecia novamente no Brasil junto com a proliferação do neoliberalismo no mundo e, por consequência, acompanhou um processo de desindustrialização que evidencia aquela tendência ao desemprego crônico que apontou Mészáros. Então a promessa de 1988 ficaria só no papel, mesmo que, entre 2003 e 2014, o país possa ter parecido, para alguns, que iria se transformar.
Ocorre que desde 2013, vivemos a maior crise institucional da história do país, que instaurou o começo do fim da Nova República e que deixou claro o estado de agonia terminal em que ela se encontra após o golpe jurídico-parlamentar. Portanto, vivenciamos um período de transição em que ainda não sabemos o conteúdo do que nascerá da evanescente Nova República. Por hora, quem tem conduzido esta construção do que estar por vir são as frações de classe burguesas brasileiras, mesmo em sua guerra fratricida expressa nas disputas entre os poderes e no Congresso Nacional. Neste momento, a esquerda não demonstra o poder de atuar como sujeito político relevante na medida em que boa parte de sua massa ainda está atrelada ao projeto do PT. Se a esquerda não se organizar e estabelecer um programa de ação independente, priorizando os interesses da classe trabalhadora, ela afundará, temporariamente, junto com a Nova República. O que podemos apontar é que o que está nascendo parece se conectar com o que Caio Prado Jr. chamou de uma feitoria moderna, orientada pelo sentido dos negócios. Daí a priorização de Bolsonaro da economia em detrimento das vidas pelo governo diante da crise.
Voltando à nossa denúncia de que o estatuto da escravidão serve de parâmetro para o padrão tradicional de vida do brasileiro, destacaremos algumas das medidas tomadas pelo governo Bolsonaro após decretado o estado de calamidade pública.
Por um lado, o salário mínimo nominal, um preço político que serve de base para a maior parte dos benefícios da Seguridade Social, é hoje de R$1045,00, enquanto que pelos cálculos do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos apontam que, segundo os princípios constitucionais (conforme o Artigo 7º, inciso IV da Constituição Federativa do Brasil) para uma vida digna do trabalhador, o salário mínimo necessário para o trabalhador manter a si e à sua família seria, em abril de 2020, de R$ 4673,06. Por outro lado, o auxílio emergencial de somente R$ 600,00 (podendo chegar a R$ 1200,00 no caso de famílias em que a mulher é a única responsável pelo lar) está muito aquém do valor da renda média habitual mensal de R$ 2398,00 divulgada pela PNAD-contínua de março de 2020. Vale lembrar que boa parte da população trabalhadora na informalidade conseguia auferir uma renda em torno deste valor e agora está recebendo cerca de quatro vezes menos. Além disso, a base de dados utilizada pelo governo para o pagamento dos benefícios, o CadÚnico, já revelou um total de cerca de 50 milhões de brasileiros que estavam invisíveis para o Estado brasileiro e que entraram com o pedido.
Ainda no mercado de trabalho, as Medidas Provisórias 927 e 928, ratificadas em março, ficaram conhecidas como as MPs da escravidão. De fato, a escravidão está no subconsciente e se revela objetivamente no cotidiano da sociedade brasileira. Segundo tais medidas, são priorizados os acordos escritos individuais entre empregador e trabalhador, ao invés de se regular as relações de trabalho pelos acordos coletivos e sindicais. Isto garante um conjunto de flexibilizações das relações de trabalho durante uma parte do período de quarentena com a retórica de salvar empregos. Na verdade, as MPs garantem segurança jurídica aos empregadores ao possibilitarem a instituição do teletrabalho, da antecipação de férias individuais e de feriados, a instauração de férias coletivas deliberadas no período de quarentena e a imposição, no caso em que o trabalhador adquira a Covid-19, do ônus para o trabalhador da prova de que a doença foi adquirida no local de trabalho. Caso contrário, o empregador fica isento de arcar com os serviços e atendimentos necessários. Por fim, outra medida, a MP 936, trata da redução dos salários, que podem variar de acordo entre 25% e 70%, de acordo com a redução das jornadas de trabalho. Tais medidas já estão em vigor num momento em que, pelo contrário, a renda e os direitos trabalhistas deveriam ser garantidas e não retirados.
O estatuto da escravidão segue, portanto, como uma baliza socioeconômica fundamental para a classe trabalhadora brasileira, apesar de o status de escravizado já não existir mais juridicamente. A remuneração de boa parte da população brasileira permanece referida a um nível de subsistência que muitas vezes nem é atingido. Ao mesmo tempo, a qualidade do emprego também é precária mantendo relação com o excedente de força de trabalho para o capital e as caraterísticas dificuldades históricas dos trabalhadores brasileiros garantirem seus direitos contra uma burguesia antissocial, o que abre espaço para existência de empregos em condições análogas à escravidão. Neste último movimento, a retirada de direitos contemporânea capitaneada por um neoliberalismo que vive a crise estrutural do capital e evidenciará, cada vez mais, seus limites absolutos como o desemprego crônico e a atuação do Estado nacional, expressa a própria crise da formação da Nação e os determinantes internos de uma sociedade dependente. Tudo isso ocorrendo no contexto de uma sociedade dita democrática e sob um Estado democrático de direito.
Do ponto de vista dos trabalhadores, a manutenção histórica das estruturas racistas e antissociais das relações de trabalho faz com que a crise do regime de acumulação capitalista neoliberal, acompanhada pela crise da democracia liberal, apareça apenas como um aprofundamento de um sentimento cotidiano de que a democracia não trouxe grandes ganhos à classe. As perdas acumuladas são muito evidentes e duras e a construção política de que “tecnicamente” não há alternativas econômicas ao austericídio social se afirmou. Talvez isso possa nos ajudar a compreender o porquê de 32% da população brasileira (aqui incluídos boa parte dos trabalhadores) ainda apoiarem Bolsonaro.
[1] Pesquisador do Laboratório de Estudos Marxistas do Instituto de Economia da UFRJ. Atualmente professor substituto da Universidade Federal de Alfenas.
[2] Coordenadora do Laboratório de Estudos Marxistas do Instituto de Economia da UFRJ. Professora do Instituto de Economia.
[3] Ver os trabalhos de José Geraldo Portugal e os de Gustavo Zullo no Instituto de Economia da Unicamp.