
Por Gabriel dos Santos Rocha*
A história nos demostra a relação intrínseca entre capitalismo e racismo, desde a escravidão colonial e mercantilista do antigo regime (século XVI-XIX), ao capitalismo contemporâneo. O tema foi amplamente debatido e analisado por importantes autores marxistas como Clóvis Moura, Florestan Fernandes, Octávio Ianni, Emília Viotti da Costa, Jacob Gorender, Wilson Barbosa, Frantz Fanon, Amílcar Cabral, Angela Davis, James Boggs, C.L.R. James, Eric Williams, Steve Biko, Kwame Nkrumah, dentre tantos outros. Há uma presença substancial e fundamental de autores marxistas no debate sobre o racismo, dentre os quais autores negros. Se ainda conhecemos poucos marxistas negros no Brasil, tal fato não se dá por uma ausência de negros no campo marxista, mas por um déficit racista do mercado editorial e das universidades brasileiras. Daí a importância de disputarmos estes espaços.
Estudar a obra destes autores por um lado nos possibilita compreender a pertinência da teoria marxista para a análise da questão racial e para a luta antirracismo; por outro, nos mostra como a análise da questão racial amplia o entendimento da luta de classes em sua concretude, e torna mais coerente a caracterização do marxismo como ciência da totalidade, conceito este fundamental no pensamento de Marx. De acordo com Lukács: “Não é o predomínio de motivos econômicos na explicação da história que distingue decisivamente o marxismo da ciência burguesa, mas o ponto de vista da totalidade”; e “a primazia da categoria da totalidade é portadora do princípio revolucionário da ciência”[1].
Ao considerarmos o papel da raça – assim como, do gênero – nas relações sociais capitalistas, entendemos a classe para além de um conceito abstrato e vazio, mas como uma categoria dinâmica que contém frações e contradições em seu interior. O capitalismo não pode ser apreendido em sua totalidade sem levar em conta o racismo como uma de suas dimensões, sobretudo em sociedades multiétnicas como o Brasil, como nos mostra Silvio Almeida:
“Se é possível dizer que o marxismo permite uma compreensão científica da questão racial, também se pode afirmar que a análise do fenômeno racial abre as portas para que o marxismo cumpra sua vocação de tornar inteligíveis as relações sociais históricas em suas determinações mais concretas. Os conceitos de classe, Estado, imperialismo, ideologia e acumulação primitiva, superexploração, crise e tantos outros ganham concretude histórica e inteligibilidade quando informados pelas determinações raciais. Nesse sentido, é importante dizer quão essencial o estudo das relações raciais é para a compreensão das especificidades de cada formação social capitalista, especialmente nos países da América, do Caribe, da África e da Ásia[2]
Clóvis Moura, por exemplo, aborda o problema racial em nossa formação histórico-social em sua dimensão superestrutural (cultural, institucional, política, ideológica) vinculada à dimensão estrutural, ou seja, ao nível de desenvolvimento das forças produtivas e ao conjunto das relações de produção, assim compreendendo as especificidades do capitalismo brasileiro. Para tanto, ampara-se na análise crítica de nosso processo histórico desde a colônia até a república entendendo o antagonismo entre as classes fundamentais de cada período como o principal elemento dinamizador. Na perspectiva de Marx:
Na própria emergência da civilização, a produção começa a se fundar no antagonismo entre as ordens, os estamentos, as classes e, enfim, no antagonismo entre o trabalho acumulado e o trabalho imediato. Sem antagonismo não há progresso. Essa é a lei a que se submeteu, até hoje, a civilização. Até o presente, as forças produtivas se desenvolveram graças ao regime antagônico de classes [3]
É justamente o desenvolvimento e a dinâmica das forças produtivas que estão em questão quando Moura aborda as rebeliões negras no Brasil escravista, assim como, as lutas dos trabalhadores e movimentos antirracismo no período republicano[4]. Não há oposição entre raça e classe na sociedade escravista, nem na sociedade capitalista. Ao contrário, há uma complementariedade e interdependência entre estas categorias, sendo ambas categoriais históricas e sociais integrantes da própria formação e dinâmica do sistema capitalista. Portanto, isolar uma categoria de outra é estabelecer uma falsa dicotomia.
Tomar a ideia de raça sem considerar sua historicidade, seu papel na divisão social do trabalho, e consequentemente na estratificação social, é reduzir o racismo à sua dimensão simbólica e subjetiva, e perder de vista sua concretude, sua materialidade, ou mesmo sua razão de existência, suas implicações econômicas e sociais no funcionamento do capitalismo. Do mesmo modo, ignorar o racismo como um fator que opera na própria formação e no interior das classes, ou reduzi-lo a uma pauta menor, é perder a dimensão concreta da categoria de classe, tornando-a abstrata e vazia. É negar a história e reduzir a luta de classes a um jargão.
A falsa dicotomia entre raça e classe gera debates desgastantes, insolúveis e distópicos. Em outras palavras: mais confunde do que explica a realidade, e impõe-se como um obstáculo nas lutas sociais da classe trabalhadora. Combater todas as formas de opressão que conformam a formação e a dinâmica do capitalismo – dentre as quais as opressões racial e de gênero – é um dever de todos que lutam por uma sociedade igualitária, e pela emancipação humana.
Casos mais extremados – que por vezes chegam a ser caricatos – das divergências sobre a relação entre raça e classe se verificam tanto em setores sectários da esquerda (situados dentro e fora dos partidos) que reduzem a categoria de classe a uma concepção mecanicista de renda (desconsiderando as demais determinações) quanto em setores liberais do movimento negro que muitas vezes reduzem a questão racial a uma luta por representatividade nos marcos da ordem vigente (ou a uma essencialização da identidade)[5].
É importante ressaltar que estamos nos referindo a determinados setores de cada um dos espectros, ou seja, seria injusto e desonesto generalizar as críticas deste artigo para toda a esquerda ou para todo o movimento negro (considerando também que a parte mais combativa deste movimento situa-se na esquerda). Nem toda a esquerda está presa a uma noção abstrata e vazia de classe que desconsidera suas múltiplas determinações e seu movimento real. E nem todo o movimento negro se limita a falar em representatividade nos marcos do liberalismo. Há um importante legado do movimento negro de esquerda, de orientação marxista, nas lutas sociais do século XX, em âmbito nacional e internacional, a exemplo das revoluções anticoloniais em África e na luta antirracismo nas Américas. No caso brasileiro, também podemos destacar o papel do movimento negro na luta contra a ditadura militar (1964-1985).
No que pese as contradições, os erros e acertos de comunistas e marxistas ao tratarem a questão racial, é incorreto afirmar que a “esquerda é branca” e que o “marxismo é eurocêntrico”, como o fazem os referidos setores que abordam a questão racial por uma perspectiva liberal. Tal afirmação invisibiliza ainda mais o legado de revolucionários negros, e desconsidera o fato de que com exceção da Rússia (cuja menor parte se situa em território europeu), todas as revoluções do século XX ocorreram fora da Europa e contaram com a participação decisiva de marxistas (quando não foram por eles lideradas). No caso brasileiro, tal afirmação equivocada desconsidera o legado de comunistas e marxistas negros como Carlos Marighella, Clóvis Moura, Claudino Silva, Edison Carneiro, Solano Trindade, Minervino Oliveira, Eloy Marins, Osvaldão, Wilson Barbosa, Hamilton Cardoso, Thereza Santos.
Se por um lado, no campo do movimento negro, há grupos e indivíduos que evocam um discurso antirracismo esvaziado de um sentido de classe; por outro, no campo da esquerda (dentro e fora dos partidos), há aqueles que simplesmente ignoram o racismo e tentam diluir a questão racial em uma ideia abstrata e homogênea de classes. Alguns chegam a acusar os movimentos negros, feministas e LGBT de divisionistas.
Um caso ilustrativo da confusão causada pela falsa dicotomia entre raça e classe está nos debates em torno das assim chamadas pautas identitárias[6]. O debate tem sido feito de maneira bastante empobrecida, reducionista e distorcida. Muitas críticas ao assim chamado identitarismo confundem o discurso liberal sobre determinadas pautas, com as pautas em si. É como se a crítica ao racismo, ao machismo à homofobia e opressões correlatas fossem “pautas identitárias por natureza”, como se não houvesse uma apropriação política destas pautas por determinados grupos. É importante considerar que o assim chamado identitarismo não está nas pautas em si, mas na forma como as mesmas são apresentadas por determinados grupos.
Tais generalizações desonestas, desconsideram o legado marxista no combate ao racismo, e outras opressões. O que poderia ser uma crítica construtiva e coerente às apropriações e distorções liberais e oportunistas destas pautas, torna-se basicamente um negacionismo de causas que atingem a maioria da população. Tais setores que se negam a debater o racismo relegam a tarefa de lutar junto com a maioria oprimida, e jogam no colo dos liberais as pautas que deveriam ser encabeçadas pela esquerda.
Fazem o oposto de Florestan Fernandes, um dos maiores intelectuais brasileiros, notório pensador marxista, socialista irredutível, com vasta produção sobre as relações raciais, foi um importante aliado do movimento negro na luta antirracismo desde os anos 1950 até o fim da vida em 1995. Florestan demonstrou a importância de pautar o problema do racismo na sociedade de classes. Era Florestan um identitário?[7] Ao se dedicar em desvendar o racismo à brasileira, ao lutar junto com o movimento negro, Florestan não se tornou menos socialista, ao contrário, compreendeu nossa realidade muito mais a fundo. Foi verdadeiramente radical.
Quem ao menos se inspirar no exemplo de Florestan contribuirá muito mais na luta pelo socialismo do que aqueles que se engajam em lançar mais um jargão – o identitarismo – que não explica nada, apenas serve como mais um estereótipo para grupos que já são historicamente estigmatizados.
Tal negacionismo da questão racial demonstra desconhecimento, comodismo, ou mesmo falta de interesse em debater seriamente o problema. Conscientemente ou não, ignorar ou minimizar o problema do racismo é uma forma de manter as vantagens e “benefícios” que a sociedade racista proporciona aos brancos: uma forma de garantir algumas migalhas a mais no próprio prato, um lugar menos degradante na cadeia produtiva, garantir a possibilidade de subir alguns degraus a mais da escada.
Tanto um militante liberal da causa antirracismo que ignora a questão de classes (por conveniência ou ingenuidade), quanto um esquerdista que descobriu na crítica ao identitarismo uma boa desculpa para sua indisposição em lutar contra racismo (às vezes contra seu próprio racismo) e outras opressões: ambos se (des)orientam por uma falsa dicotomia. Cada qual aborda uma dimensão da realidade e ignora outras. Cada qual profere meias verdades. Ambos carregam contradições de uma realidade (da qual também são frutos) que talvez queiram transformar parcialmente.
* Doutorando em História Econômica (USP), mestre em História Social (USP), graduado em História (USP), educador e pesquisador, membro do NEPAFRO e da Equipe Editorial da Sankofa: Revista de História da África e Estudos da Diáspora Africana.
BIBLIOGRAFIA
ALMEIDA, Silvio Luiz de. “Apresentação”, Dossiê: marxismo e questão racial, in: Margem Esquerda, n.27: outubro de 2016.
ALMEIDA, Silvio Luiz de. O que é racismo estrutural?. Belo Horizonte (MG): Letramento, 2018.
FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de classes (2 vols.). São Paulo: Editora Globo, 2008.
FERNANDES, Florestan. Circuito Fechado: quatro ensaios sobre o “poder institucional”. São Paulo: Globo, 2010.
FERNANDES, Florestan. O negro no mundo dos brancos. São Paulo: Global, 2007.
FERNANDES, Florestan. Significado do protesto negro. São Paulo: Expressão Popular: Fundação Perseu Abramo, 2017.
HAIDER, Asad, Armadilha da Identidade: raça e classe nos dias de hoje. São Paulo: Veneta, 2019
LUKÁCS, Georg. História e Consciência de Classe: estudos sobre a dialética marxista. 2ª ed.. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2012.
MARX, Karl. Contribuição à Crítica da Economia Política. 3ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
MARX, Karl. Miséria da Filosofia: resposta à Filosofia da miséria do sr. Proudhon. São Paulo: Expressão Popular, 2009.
MOURA, Clóvis. Dialética radical do Brasil negro. 2ª ed. São Paulo: Anita Garibald: Fundação Maurício Grabois, 2014.
MOURA, Clóvis. Rebeliões da Senzala: quilombos, insurreições, guerrilhas. 5ª ed. São Paulo: Anita Garibald / Fundação Maurício Grabois, 2014.
MOURA, Clóvis. Sociologia do Negro Brasileiro. São Paulo: Editora Ática, 1988.
Notas
[1] Georg Lukács, História e Consciência de Classe. P.21
[2]Silvio Luiz de Almeida, “Apresentação”, Dossiê: marxismo e questão racial, in: Margem Esquerda, n.27: outubro de 2016. P.24. Do mesmo autor ver também: O que é racismo estrutural?
[3] Karl Marx, Miséria da Filosofia. P.75
[4] Ver: Clóvis Moura, Rebeliões da Senzala; Sociologia do Negro Brasileiro; Dialética Radical do Brasil Negro.
[5]Aqui não se trata de uma negação da importância da luta representatividade, mas em pontuar que a pauta antirracismo deve considerar todo o conjunto de fatores e implicações históricas, econômicas, sociais e culturais que conformam a situação do negro na sociedade de classes.
[6] Um trabalho lúcido e coerente sobre o tema: Asad Haider, Armadilha da Identidade.
[7] Dentre tantos outros trabalhos de Florestan Fernandes sobre o tema, ver: A integração do negro na sociedade de classes (2 vols.); O negro no mundo dos brancos; Circuito Fechado; Significado do Protesto Negro.
Publicado originalmente em:
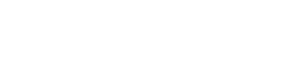
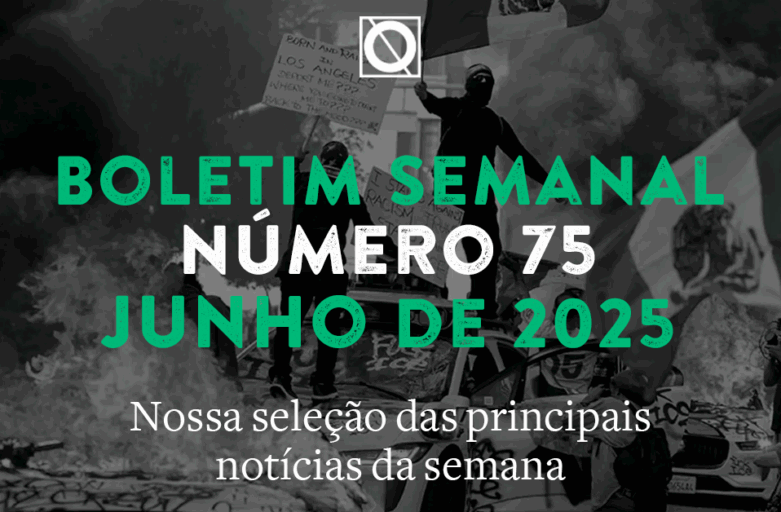

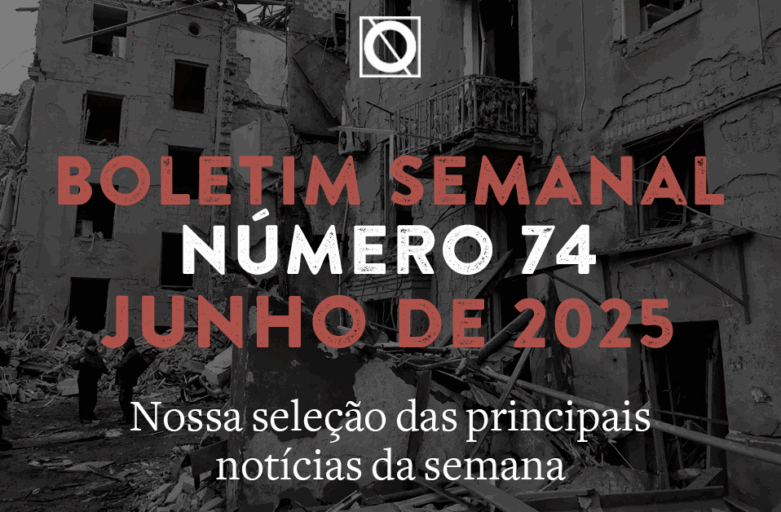

Excelente texto!