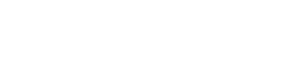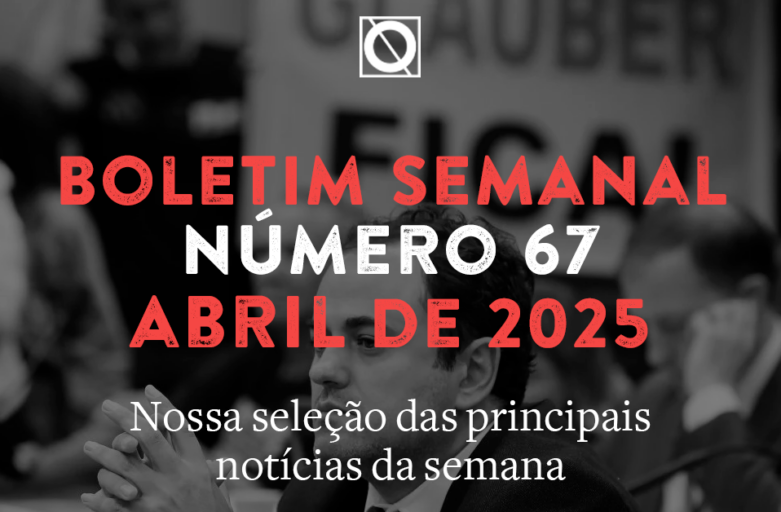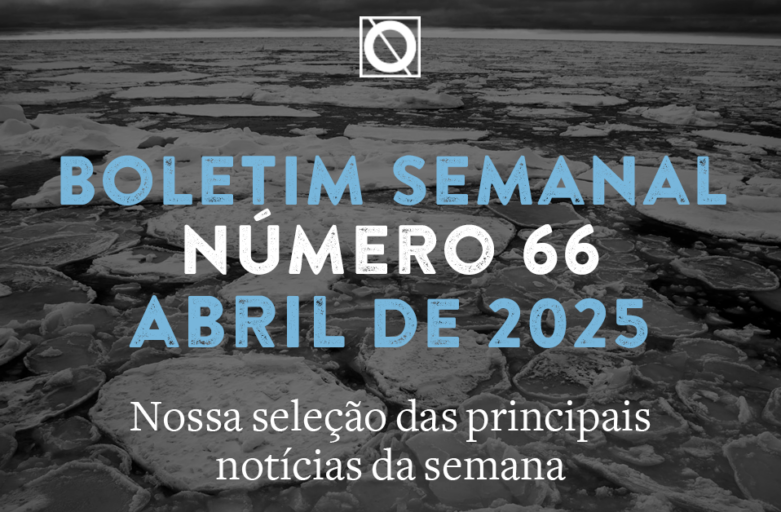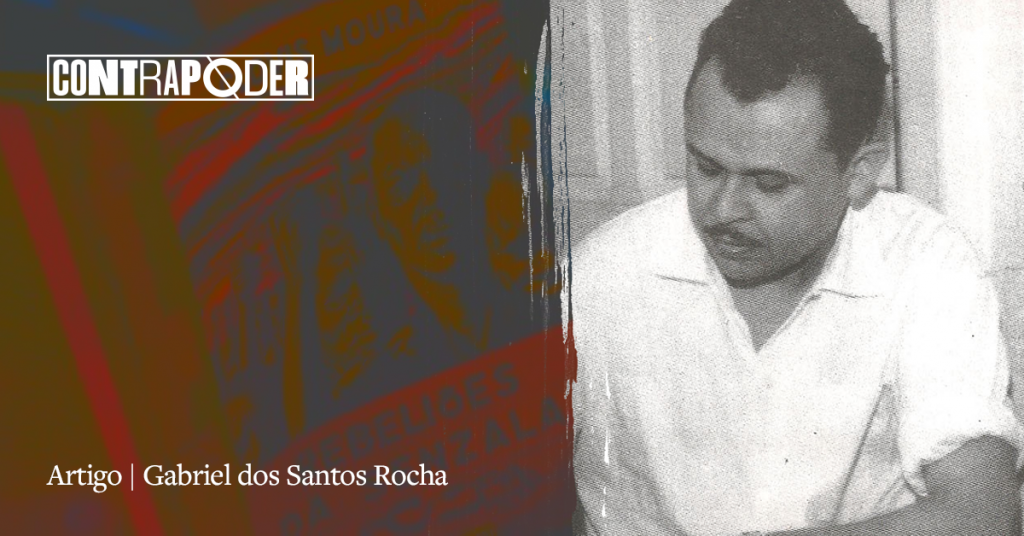
Por Gabriel dos Santos Rocha*
Até a publicação do livro Rebeliões da Senzala (1959) de Clóvis Moura, os estudos sobre escravidão no Brasil tinham sido produzidos em geral: 1) na perspectiva eugenista de Nina Rodrigues, Sílvio Romero, Oliveira Vianna; 2) na chave culturalista de Gilberto Freyre e Arthur Ramos. Os primeiros buscavam explicações para os fatos históricos na biologia, na pseudociência evolucionista, hierarquizavam os grupos humanos nas supostas raças superiores (europeias), e raças inferiores (negros, indígenas, mestiços e asiáticos). Os segundos voltavam-se para aspectos culturais, “folclóricos”, “exóticos”, atribuídos ao negro e vistos como supostas reminiscências africanas na cultura brasileira; buscavam explicações para os fatos históricos nos processos de assimilação e aculturação dos africanos em contato com as culturas europeias. Sobre este contexto Moura nos mostra que:
O problema dos escravos negros ainda era considerado, na época em que iniciamos nossas pesquisas em arquivos e outras fontes, um tema esporádico, secundário e, quando muito, manifestações de movimentos antiaculturativos. Tirava-se, com isto, o conteúdo que produzia o dinamismo interno desses movimentos, elidia-se a contradição fundamental que os produzia – a luta de classes no sistema escravista – para reduzi-los a um mero jogo de choques entre padrões, traços e complexos culturais que os negros trouxeram da África e os da cultura ocidental que os recebeu. Esta posição teórica e sua continuação metodológica levavam a que sempre se procurasse uma interpretação culturalista para o conflito social que se desenvolvia em consequência das contradições do sistema escravista que se formava no Brasil. O modo de produçãoescravista, gerador de contradições, era substituído pela visão harmônica dessa estrutura e os movimentos antiaculturativos representavam apenas uma rejeição por parte do negro dos padrões culturais do senhor e não uma decorrência da sua situação de escravo; da sua posição de homem desumanizado, transformado em simples coisa
(MOURA, 2014: P.34).
Quanto aos pares marxistas de Clóvis Moura, estes quando abordavam o passado escravista pouco davam atenção para a agência do escravizado, o qual era visto apenas em sua dimensão de mercadoria e capital fixo, ignorando que era também sujeito produtivo[1]; e as insurreições negras daquele período eram vistas como movimentos episódicos, esporádicos e pré-políticos. Moura não apenas demonstra que tais lutas eram constantes e sistemáticas, como atribui significado político a elas. Mais do que um trabalho sobre escravidão, Rebeliões da Senzala é “um clássico sobre a luta de classes no Brasil” como demonstra José Carlos Ruy:
Clóvis Moura extraiu dos arquivos públicos, principalmente o da Bahia, a documentação reveladora de que, como em todas as nações, aqui também houve luta de classes sob o escravismo, e ela abrangeu todo aquele longo período histórico, em todo o território nacional. (…) A premissa teórica marxista fundamental que orientou toda a obra de Clóvis Moura é a de que, como em todas as sociedades divididas em classes, na sociedade escravista existiu luta de classes. Ele a investigou para compreender as lutas do presente e forjar os instrumentos conceituais que permitam, aos oprimidos de todos os matizes, lutar pela igualdade entre os homens e por uma forma superior de organização da sociedade
(RUY, 2014: PP.24, 28).
As fugas, sabotagens, insurreições, formação de quilombos, guerrilhas e outras expressões de rebeldia e insubordinação dos negros não foram fatos episódicos, ao contrário, constituíram a dinâmica da própria ordem escravocrata. O movimento dialético no qual se construiu, se desenvolveu, se desgastou e ruiu o escravismo teve em seu epicentro a contradição entre senhor e escravizado. Moura nos mostra que para além de revoltas pontuais, as rebeliões negras sinalizavam a possibilidade de projetos políticos alternativos (OLIVEIRA, 2014: P.18). O antropólogo Kabengele Munanga considera que Rebeliões da Senzala:
Foi a primeira obra da historiografia brasileira a tratar da questão das rebeliões negras de maneira sistemática, mostrando com fatos históricos o alastramento desse fenômeno em todo o território brasileiro. Na esteira desta nascerão mais tarde outros estudos como o Palmares – A guerra dos escravos, de Décio Freitas (1971) e o Rebelião Escrava no Brasil – A História do Levante dos Malês em 1835, de João José Reis (1986). Ele foi sem dúvida o pioneiro e o primeiro a desmistificar a ideia do negro submisso que não se importava com sua situação de cativo, e a colocar em pauta a questão de sua participação no processo abolicionista e libertário, habilitando-o como sujeito de sua história e da história do Brasil e tirando-o da posição de mero objeto de pesquisa acadêmica
(MUNANGA, 2014: P. 14).
Ao dar centralidade para a rebeldia dos escravizados e a ela atribuir significado político, Clóvis Moura também foi pioneiro em mostrar o negro escravizado como agente social e protagonista na luta por emancipação[2]. Em sua obra o negro é visto como importante agente no processo de transformação social e na própria superação do sistema escravista, como nos mostra Augusto Buonicore:
Rebeliões da Senzala rompeu com o paradigma predominante, que subestimava o papel dos negros escravizados no processo de construção da nação brasileira e da sua própria libertação. Os escravos não eram – como em geral se afirmava – uma massa passiva sobre a qual os verdadeiros atores interpretavam o drama histórico. Durante todo o período colonial e imperial eles protestaram e lutaram por sua liberdade e dignidade. As revoltas e os quilombos não foram algo excepcional, exceções que confirmavam a regra. Constituíram-se como uma maneira de ser dos trabalhadores numa sociedade assentada na mais brutal forma de exploração: a escravidão. Mais de um século antes dois grandes intelectuais revolucionários alemães haviam afirmado que “a luta de classes era o motor da história”. No Brasil as coisas não podiam ser diferentes
(BUONICORE, 2014: P.23).
Rebeliões da Senzala também é pioneiro em tratar a questão da desumanização e da humanização do ser escravizado, tema um tanto controverso em décadas posteriores, sobretudo nos anos 1980 e 1990 quando historiadores daquela geração, dedicados aos estudos do cotidiano, passaram a se contrapor à historiografia e sociologia marxista. Tais pesquisadores geralmente acusavam os marxistas de tratarem o escravizado como coisa e não como sujeito, e de ignorarem o papel dos negros como agentes sociais no período escravista. Tal apontamento faz sentido para alguns estudos, da década de 1950 e 1960, daquela que ficou conhecida com Escola Paulista de Sociologia[3], os quais enfatizaram sobretudo a questão da violência e da alienação – ou coisificação, termo usado na época – como mecanismos de sujeição dos cativos.
Porém, tal apontamento se torna problemático quando tomado de maneira generalizada para o marxismo e para todos aqueles que utilizam as ideias de Marx como aporte teórico. Aliás, é comum tal apontamento ser acompanhado de um discurso no qual o marxismo é tratado como uma teoria eurocêntrica, limitada para a compreensão dos problemas brasileiros (como se o Brasil estivesse fora do mundo capitalista), ideológico, reducionista, economicista, “ultrapassado” etc.. Enfim, o que poderia ser uma crítica aos limites das análises de alguns autores se tornou uma busca de invalidação generalizada da cientificidade do marxismo e de seus teóricos. Talvez até tenha se tornado um instrumento de disputa por espaço e visibilidade no campo de estudos sobre o tema da escravidão. É comum uma escola que se apresenta como nova, afirmar-se através da negação de sua antecessora.
Tais posicionamentos ignoram ou ofuscam as contribuições e o pioneirismo da produção de Clóvis Moura para a historiografia. O alinhamento do autor com o marxismo e sua militância comunista frequentemente foram usados como premissas para a invalidação da cientificidade de seus estudos.
Sem desconsiderar o fato da alienação social[4], Moura defendeu que o negro escravizado afirmava sua humanidade ao lutar contra as estruturas opressivas e desumanizadoras da escravidão. A rebeldia do escravizado contra os mecanismos que buscavam sua alienação social – ou coisificação –, sua insubordinação, era uma expressão de sua humanidade. O conjunto de lutas dos negros contra os escravocratas, nas mais variadas dimensões, constituem um processo de constante afirmação de humanidade, de luta pela superação da condição reificada de escravizado. Moura foi pioneiro em afirmar a agência histórica do escravizado, e o fez na mesma medida em que analisava a própria estrutura e a dinâmica das relações de produção do sistema escravista.
Notas:
[1] O escravizado não vende sua força de trabalho, ele próprio é submetido a condição de mercadoria. Porém, é ele também o produtor de mercadorias no sistema escravista, logo, é sujeito da produção. Ver Jacob Gorerender, O Escravismo Colonial.
[2] O sociólogo Fábio Nogueira de Oliveira (2009) define Clóvis Moura como um intelectual da práxis negra.
[3] Os autores mais conhecidos desta “escola” são: Florestan Fernandes, Octavio Ianni e Fernando Henrique Cardoso.
[4] O termo recorrentemente aparece na literatura sobre o tema como “cosificação”. Historiadores marxistas como Clóvis Moura, Emília Viotti da Costa e Jacob Gorender abordam a “coisificação” ou “alienação” do ponto de vista social, e não subjetivo. Do ponto de vista subjetivo, generalizar o fato da alienação para toda a população escravizada é um erro, já superado na historiografia. No entanto, algum historiador ou cientista social discordaria que a condição de bem semovente caracteriza uma forma de alienação social?
Bibliografia:
BUONICORE, Augusto, “O pensamento radical de Clóvis Moura”, In: MOURA, Clóvis. Dialética radical do Brasil negro. 2ª ed. São Paulo: Anita Garibald: Fundação Maurício Grabois, 2014.
COSTA, Emília Viotti da. Da senzala à colônia. 4ª ed. São Paulo: UNESP, 1998.
FARIAS, Márcio. Clóvis Moura e o Brasil. São Paulo: Editora Dandara, 2019.
FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de classes (2 vols.). São Paulo: Editora Globo, 2008.
GORENDER, Jacob. A escravidão reabilitada. São Paulo: Expressão Popular, Fundação Perseu Abramo, 2016.
GORENDER, Jacob. O escravismo colonial. 6ª ed. São Paulo: Expressão Popular: Perseu Abramo, 2016.
IANNI, Octavio. Raças e classes sociais no Brasil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1971.
MESQUITA, Érika. Clóvis Moura: uma visão crítica da história social brasileira [dissertação de mestrado]. São Paulo: Unicamp, 2002.
MOURA, Clóvis. “A história do trabalho no Brasil ainda não foi escrita”, in: Princípios, edição 37, mai/jun/jul, 1995.
MOURA, Clóvis. Dialética radical do Brasil negro. 2ª ed. São Paulo: Anita Garibald: Fundação Maurício Grabois, 2014.
MOURA, Clóvis. Rebeliões da Senzala: quilombos, insurreições, guerrilhas. 5ª ed. São Paulo: Anita Garibald / Fundação Maurício Grabois, 2014.
MUNANGA, Kabengele, “Prefaciando Rebeliões da Senzala de Clóvis Moura”, In: MOURA, Clóvis. Rebeliões da Senzala: quilombos, insurreições, guerrilhas. 5ª ed. São Paulo: Anita Garibald / Fundação Maurício Grabois, 2014.
OLIVEIRA, Fábio Nogueira. Clóvis Moura e a sociologia da práxis negra [dissertação de mestrado]. Niterói: UFF, 2009.
RUY, José Carlos. “Um clássico sobre a luta de classes no Brasil”, In: MOURA, Clóvis. Rebeliões da Senzala: quilombos, insurreições, guerrilhas. 5ª ed. São Paulo: Anita Garibald / Fundação Maurício Grabois, 2014.
SOUZA, Gustavo Orsolon de. “Rebeliões na Senzala”: diálogos, memória e legado de um intelectual brasileiro [dissertação de mestrado]. Rio de Janeiro: UFRRJ, 2013.
[Excerto extraído de um artigo de minha autoria intitulado “Rebeliões da Senzala de Clóvis Moura: uma abordagem histórica da luta de classes no Brasil”, aceito no “Simpósio Temático 17: História Econômica: perspectivas de investigação e debates historiográficos”, coordenado pelo professor “Everaldo de Oliveira Andrade (USP – Universidade de São Paulo)”, que ocorrerá no XXV Encontro Estadual de História da ANPUH-SP: História, desigualdades e diferenças, a ser realizado entre 08 e 11 de setembro de 2020.]
* Doutorando em História Econômica (USP), mestre em História Social (USP), graduado em História (USP), educador, membro do NEPAFRO e da Equipe Editorial da Sankofa: Revista de História da África e Estudos da Diáspora Africana.
Publicado originalmente em: https://www.nepafro.org/post/rela%C3%A7%C3%B5es-de-produ%C3%A7%C3%A3o-e-rebeldia-no-brasil-escravista-uma-an%C3%A1lise-marxista-da-ag%C3%AAncia-do-escravizado