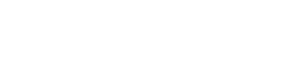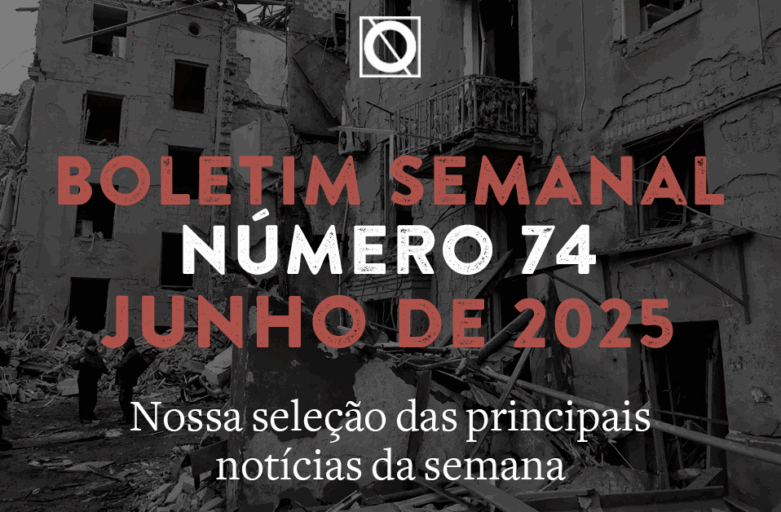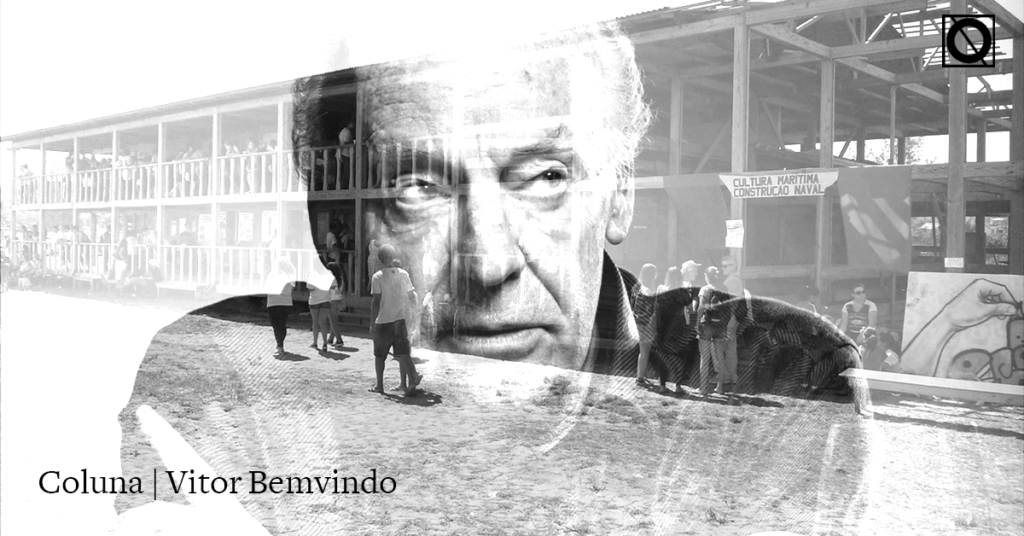
O mundo ao avesso nos ensina a padecer a realidade ao invés de transformá-la, a esquecer o passado ao invés de escutá-lo e a aceitar o futuro ao invés de imaginá-lo: assim pratica o crime, assim o recomenda. Em sua escola, escola do crime, são obrigatórias as aulas de impotência, amnésia e resignação. Mas está visto que não há desgraça sem graça, nem cara que não tenha sua coroa, nem desalento que não busque seu alento. Nem tampouco há escola que não encontre sua contraescola.
Eduardo Galeano
Dez anos sem Eduardo Galeano… Mais do que uma lembrança, sua obra segue como ferramenta viva de interpretação e transformação do mundo. Cronista das dores e esperanças do nosso continente, Galeano foi capaz de unir literatura e crítica social com rara sensibilidade. Em sua escrita, a denúncia das injustiças caminhava lado a lado com a celebração da dignidade rebelde dos povos. Das Veias Abertas da América Latina ao Livro dos Abraços, construiu uma obra que pulsa entre a denúncia e a construção da utopia. É nesse território de contradições — entre a brutalidade do mundo e a beleza de sua reinvenção — que emergem também suas reflexões sobre a educação, especialmente sobre a escola (BEMVINDO, MACIEL, 2020).
Em De Pernas pro Ar: a escola do mundo ao avesso (2011), Eduardo Galeano dedica um livro inteiro à crítica da educação sob a lógica da sociedade burguesa contemporânea. Com seu estilo poético, entrelaçado de ironia e indignação, o autor uruguaio constrói uma crônica aguda das contradições de um mundo invertido, que “despreza a honestidade, castiga o trabalho, recompensa a falta de escrúpulos e alimenta o canibalismo”. A alegoria poética de Galeano escancara as contradições estruturais da sociedade burguesa e do modo de produção capitalista, revelando seus efeitos corrosivos sobre as relações humanas e a vida em comum.
Nesse mundo ao avesso, a escola deixa de questionar a ordem e passa a reproduzi-la. Em vez de combater a injustiça, o medo, o racismo, o machismo e a ganância, ela os naturaliza. Ao longo do livro, Galeano mostra como a educação, longe de libertar, adestra: desumaniza sujeitos e os molda para a sociabilidade do trabalho alienado, ensinando-os a aceitar, não a transformar.
Embora seja uma obra literária, De Pernas pro Ar dialoga profundamente com formulações teóricas de autores marxistas que pensaram criticamente a educação no contexto do capitalismo. Entre esses pensadores, destacamos dois: Antonio Gramsci e István Mészáros. Gramsci, ao analisar as contradições da escola burguesa, propôs o princípio da escola unitária — uma concepção pedagógica que busca romper com a fragmentação entre trabalho manual e intelectual, afirmando o trabalho, em sua dimensão ontológica, como princípio educativo e base para uma nova sociabilidade.
Para Gramsci, a escola ocupa um lugar central na construção da hegemonia burguesa no interior da sociedade capitalista. Esse processo hegemônico se sustenta na atuação dos intelectuais — responsáveis por forjar e difundir a cultura — e dos chamados aparelhos de hegemonia, que operam como veículos dessa formação ideológica. Esses aparelhos, localizados na esfera da sociedade civil, são definidos por Gramsci como “privados”, justamente por não pertencerem diretamente ao aparato estatal, mas por desempenharem papel estratégico na consolidação do consenso e na reprodução da ordem social vigente (GRAMSCI, 2004, p. 119).
Sendo a escola um aparelho de hegemonia, ela tende a incorporar e reproduzir a ideologia da classe dominante — quando atua na manutenção da ordem — ou pode, em certos contextos, ser tensionada por projetos contra-hegemônicos vinculados às classes subalternas. Gramsci identifica essa disputa no interior do sistema educacional capitalista de sua época, ao analisar a divisão entre escola clássica e escola profissional. Para ele, tratava-se de uma separação racionalizada: à escola clássica reservava-se a formação dos futuros intelectuais da burguesia; à escola profissional, a preparação das chamadas “classes instrumentais” para funções técnicas e subordinadas.
Essa divisão é, para Gramsci, expressão daquilo que denominou “crise escolar” — provocada pela proliferação de “um sistema de escolas particulares, específicas e especializadas”, voltadas à reprodução das desigualdades sociais. Tal crise resultou na “[…] tendência […] de abolir qualquer tipo de escola ‘desinteressada’ […] e ‘formativa’, ou de conservar apenas um seu reduzido exemplar, destinado a uma pequena elite”. Como alternativa, Gramsci propõe a constituição de uma “[…] escola única inicial de cultura geral, humanista, formativa, que equilibre de modo justo o desenvolvimento da capacidade de trabalhar manualmente (tecnicamente, industrialmente) e o desenvolvimento das capacidades de trabalho intelectual” (GRAMSCI, 2004, p. 33).
Essas contradições, que Gramsci analisa teoricamente, ganham forma sensível na elaboração poética de Galeano: “Na escola do mundo ao avesso o chumbo aprende a flutuar e a cortiça a afundar. As cobras aprendem a voar e as nuvens a se arrastar pelos caminhos” (GALEANO, 2011, p. 5). Através da inversão absurda das lógicas naturais, Galeano escancara o quanto a escola legitima o ilógico e naturaliza o injusto, ensinando os corpos a se dobrarem à lógica da opressão e exploração.
Assim como Gramsci, Mészáros destaca o papel estratégico da escola na reprodução da ordem capitalista, reafirmando seu caráter funcional à manutenção da cultura do capital: “a educação tem duas funções principais numa sociedade capitalista: a produção das qualificações necessárias ao funcionamento da economia, a formação de quadros e a elaboração de métodos para um controle político” (MÉSZÁROS, 2006, p. 275). Nessa perspectiva, a escola se configura como um poderoso dispositivo de controle social, regulando comportamentos e ajustando corpos às engrenagens do capital. Galeano traduz essa violência silenciosa com precisão lírica: “A sociedade as espreme, vigia, castiga e às vezes mata: quase nunca as escuta, jamais as compreende” (GALEANO, 2011, p. 14). Negando às crianças o direito de serem crianças, o mundo ao avesso as enquadra antes que possam sonhar.
No mesmo horizonte crítico de Gramsci e Mészáros, Galeano aponta a escola como espaço privilegiado de reprodução das contradições da sociedade burguesa. A metáfora da “escola do mundo ao avesso” simboliza a profunda desconexão entre os sistemas educativos hegemônicos e as demandas populares. Sua alegoria revela uma dualidade estrutural que atravessa os modelos escolares forjados sob a hegemonia liberal-burguesa: de um lado, a promessa de formação plena; de outro, a prática sistemática da exclusão, da fragmentação e da submissão.
Em Galeano, a denúncia nunca vem desacompanhada da esperança. Sua escrita é feita de indignação e ternura, de crítica e reinvenção. Por isso, mesmo diante da brutalidade da escola do mundo ao avesso, o uruguaio insiste: “não há desgraça sem graça, nem cara que não tenha sua coroa, nem desalento que não busque seu alento”. Se a escola hegemônica atua como engrenagem de reprodução das contradições burguesas, é necessário sonhar — e construir — formas de educação que as enfrentem. É nesse gesto que emerge, em sua obra, a categoria poético-política de contraescola: uma imagem de resistência que se opõe à hegemonia educacional dominante. Se o mundo ao avesso define as regras da escola, a contraescola é a sua antítese contra-hegemônica, feita daquilo que resiste, que escapa, que insiste em ensinar o que a ordem deseja calar.
Para compreender com mais profundidade a noção de contraescola que emerge na obra de Galeano, é útil dialogar com a contribuição de Raymond Williams, que, inspirado em Gramsci, complexifica o conceito de hegemonia. Segundo ele:
Uma hegemonia vivida é sempre um processo. Não é, exceto analiticamente, um sistema ou uma estrutura. É um complexo realizado de experiências, relações e atividades, com pressões e limites específicos e mutáveis. Isto é, na prática a hegemonia não pode nunca ser singular. Suas estruturas internas são altamente complexas, e podem ser vistas em qualquer análise concreta. Além do mais […], não existe apenas passivamente como forma de dominação. Tem de ser renovada continuamente, recriada, defendida e modificada. Também sofre uma resistência continuada, limitada, alternada, desafiada por pressões que não são as suas próprias pressões. Temos então de acrescentar ao conceito de hegemonia o conceito de contra-hegemonia e hegemonia alternativa, que são elementos reais e persistentes da prática.
WILLIAMS, 1979, p. 115-116
Essa leitura ajuda a compreender a “contraescola” não apenas como a negação abstrata da escola hegemônica, mas como expressão concreta de formas de resistência que emergem nos interstícios da cultura dominante, tal como a imagem de Drummond1 da flor que nasceu na rua, que fura “o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio”. Ao se contrapor ao modelo escolar que Galeano denuncia — a escola do mundo ao avesso — a contraescola se apresenta como prática viva de contra-hegemonia: inacabada, plural, enraizada nas lutas populares e na invenção de novos modos de aprender e ensinar.
A contraescola, portanto, emerge como expressão das resistências à escola do mundo ao avesso, configurando-se como alternativa viva ao modelo hegemônico de cultura escolar. Mais do que uma negação abstrata, ela encarna formas concretas e contra-hegemônicas de pensar e fazer educação — desde a crítica às estruturas sistêmicas que sustentam o projeto burguês de escolarização até as experiências pedagógicas situadas que subvertem, na prática cotidiana, os valores e lógicas dominantes. Trata-se, assim, de uma pedagogia da ruptura, que se constrói nas frestas, nos embates e nas invenções coletivas que desafiam o que se impõe como natural.
No livro em questão, Galeano não sistematiza a categoria de contraescola nem oferece uma definição precisa sobre suas características. Ao contrário: a noção aparece de forma poético-política, aberta e indeterminada. O autor não delimita critérios para identificar uma experiência contraescolar, tampouco a associa diretamente a uma crítica estruturada das bases tradicionais da escola hegemônica. O capítulo final de De Pernas pro Ar, que menciona a contraescola, está dedicado não à análise de instituições educativas formais, mas à celebração de múltiplas experiências de resistência aos princípios do mundo invertido. O foco está nas práticas contra-hegemônicas que brotam na vida concreta, muitas vezes fora dos espaços escolares.
Galeano afirma:
Na urdidura da realidade, por pior que seja, novos tecidos estão nascendo e esses tecidos são feitos de uma mistura de muitas e diversas cores. Os movimentos sociais alternativos se expressam não só através dos partidos e dos sindicatos: também assim, mas não só assim. O processo nada tem de espetacular e ocorre, sobretudo, em nível local, mas por toda parte, no mundo inteiro, estão surgindo mil e uma forças novas. Brotam de baixo para cima e de dentro para fora. Sem estardalhaço, estão contribuindo expressivamente para a retomada da democracia, nutrida pela participação popular, e estão recuperando as maltratadas tradições de tolerância, ajuda mútua e comunhão com a natureza.
GALEANO, 2011, p. 299
A contraescola, portanto, ultrapassa a concepção tradicional de uma educação que simplesmente se opõe, dentro dos limites da escola, ao modelo hegemônico. Seu sentido está enraizado no próprio ato de resistir aos valores do mundo ao avesso. O educar contraescolar não se resume a práticas pedagógicas formais, mas se realiza nas lutas coletivas, nos gestos cotidianos de insurgência e nas formas de organização popular que desafiam a lógica dominante. Movimentos como o MST, no Brasil, os zapatistas, no México, e os revolucionários cubanos exemplificam expressões concretas dessa educação insurgente. A contraescola, assim, não habita exclusivamente o espaço da escola: ela floresce na política em movimento, na resistência social, na construção de novas formas de vida.
Na América Latina, são uma perigosa espécie em expansão: as organizações dos sem-terra e dos sem-teto, os sem-trabalho, os sem-tudo; os grupos que trabalham pelos direitos humanos; os lenços brancos das mães e avós inimigas da impunidade do poder; os movimentos que congregam vizinhos de bairro; as frentes de cidadãos que lutam por preços justos e produtos saudáveis; os que lutam contra a discriminação racial e sexual, contra o machismo e contra a exploração das crianças; os ecologistas; os pacifistas; os voluntários da saúde pública e os educadores populares; os que promovem a criação coletiva e os que resgatam a memória coletiva; as cooperativas que praticam a agricultura orgânica; as rádios e as televisões comunitárias; e muitas outras vozes da participação popular, que não são setores auxiliares dos partidos nem capelas submetidas a qualquer Vaticano. Com frequência, essas energias da sociedade civil são acossadas pelo poder, que às vezes chega ao ponto de enfrentá-las a tiros. Alguns militantes tombam pelo caminho, crivados de balas. Que os deuses e os diabos os tenham na glória: são as árvores que dão frutos as que mais levam pedradas.
GALEANO, 2011, p. 300
Embora Galeano apresente a ideia de contraescola a partir de manifestações culturais e políticas que resistem aos valores do mundo ao avesso, propomos, neste artigo, a ampliação dessa categoria para abarcar também experiências educacionais de caráter explicitamente contra-hegemônico. Ao mencionar figuras como os educadores populares e movimentos como o MST, compreendemos que tais sujeitos não apenas constroem práticas de resistência no campo político, mas também elaboram formas alternativas de cultura escolar — capazes de subverter as lógicas tradicionais e instituir outros modos de ensinar, aprender e conviver. Assim, a contraescola não se limita ao campo simbólico da insurgência: ela se materializa também na reinvenção pedagógica cotidiana, na construção concreta de outras possibilidades formativas.
Dessa forma, a contraescola pode ser entendida não apenas como uma metáfora poética ou um gesto simbólico de resistência, mas como uma categoria político-pedagógica que nos permite reconhecer e valorizar práticas educativas que rompem com os fundamentos da escola tradicional. Trata-se de uma chave analítica e propositiva que nos ajuda a identificar experiências que, ao tensionarem os currículos, as metodologias e os sentidos da educação, afirmam um outro projeto de formação humana: coletivo, emancipador, enraizado nas lutas populares e comprometido com a transformação social.
Em tempos de ofensiva neoliberal, em que reformas educacionais buscam aprofundar a lógica da mercantilização e do controle, pensar e fortalecer as contraescolas torna-se tarefa urgente. Retomar Galeano, dez anos após sua partida, é reafirmar que a esperança se faz com memória, com crítica e com luta. E que toda escola pode — e deve — encontrar sua contraescola.
Referências Bibliográficas
BEMVINDO, Vitor; MACIEL, Cosme L. Almeida. “Contraescola: apontamentos introdutórios. __________ (org.) Contraescola: a experiência do Instituto Politécnico de Cabo Frio. Marília: Lutas Anticapital, 2020. Disponível em: https://lutasanticapital.com.br/products/contraescola-a-experiencia-do-instituto-politecnico-de-cabo-frio
GALEANO, Eduardo. De pernas pro ar: A Escola do Mundo ao Avesso. Porto Alegre: L&PM Editores, 2011.
GRAMSCI, Antonio. Cadernos do Cárcere: os intelectuais, o princípio educativo, jornalismo. v. 2. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004.
MÉSZÁROS, István. A Educação para Além do Capital. São Paulo: Boitempo, 2008.
WILLIAMS, Raymond. Marxismo e Literatura. Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1979.
Este texto não passou pela revisão ortográfica da equipe do Contrapoder.
Referências
- Poema “A Flor e a Náusea”, de Carlos Drummond de Andrade: “Uma flor nasceu na rua! / Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. / Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto. / Façam completo silêncio, paralisem os negócios, garanto que uma flor nasceu. / É feia. Mas é flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio”.