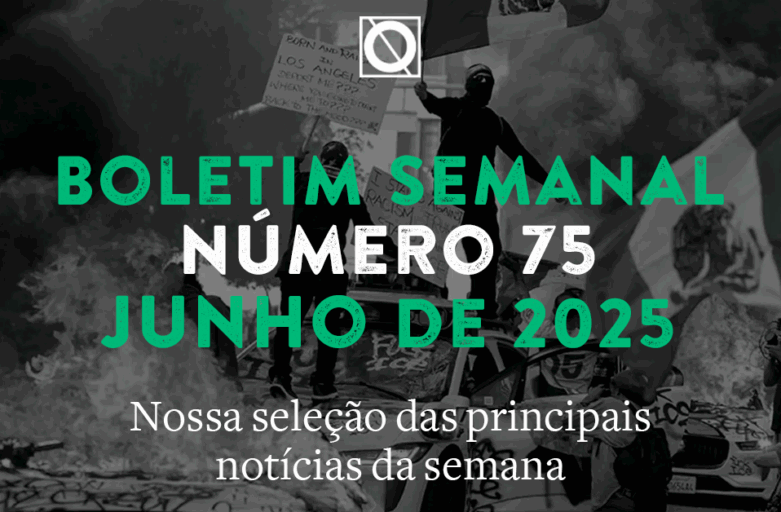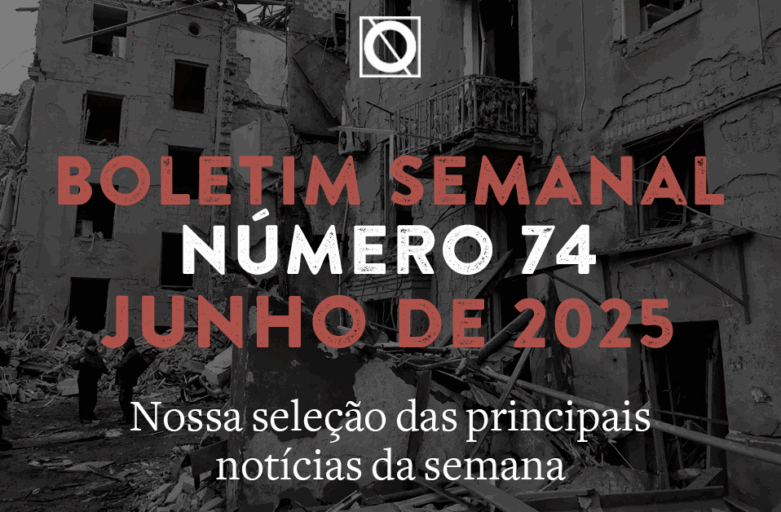No Livro I de O Capital, Marx faz sua crítica da economia política a partir da análise da mercadoria. Ele mostra que a mercadoria tem valor de uso e valor de troca. Para ter valor de troca, a mercadoria precisa ter valor de uso. O valor de uso é consequência do trabalho concreto, ao passo que o valor de troca o é do trabalho abstrato. O valor de troca é relacional e se realiza na esfera da circulação, com base no valor produzido na esfera da produção. Valor que, por sua vez, é a quantidade de trabalho socialmente necessária para a produção de uma mercadoria.
Marx aponta ainda que o processo de produção capitalista é um processo de destruição. Ele registra notadamente:
“Quanto mais um país, como, por exemplo, os Estados Unidos da América do Norte, tem na grande indústria a base de seu desenvolvimento, tanto mais rápido é esse processo de destruição. Por isso, a produção capitalista só desenvolve a técnica e a combinação do processo de produção social ao minar os mananciais de toda riqueza: a terra e o trabalhador.” 1
Não obstante, o que move o sistema capitalista não é a produção em si, mas a produção de mais-valor. O capital é valor que se valoriza.
Marx explica no Livro III:
“A fórmula geral do capita é D-M-D’; isto é, uma soma de valor é posta em circulação para dela se extrair uma soma de valor maior. O processo que cria essa soma de valor maior é a produção capitalista; o processo que a realiza é a circulação do capital. O capitalista produz a mercadoria não em razão dela mesma, não em razão de seu valor de uso ou para o consumo próprio. O produto que o capitalista tem realmente em vista não é o produto palpável em si, mas o excedente de valor do produto, acima do valor do capital nele consumido.” 2
A crise do capital é, por conseguinte, a desmedida do valor, ou seja, o valor que não se valoriza.
Precedendo o colossal estrago provocado pela pandemia do novo coronavírus, em meados de 2007 eclodiu a crise das hipotecas imobiliárias na Meca do capitalismo globalizado. Desde então, de espanto em espanto, o pensamento único foi se desmilinguindo.
A financeirização da economia capitalista produziu uma bolha de 600 trilhões de dólares em ativos financeiros para um produto bruto mundial de 60 trilhões de dólares. Essa foi a pior crise do capitalismo desde 1929. Ela produziu reviravoltas inesperadas: a intervenção do Estado na economia foi reclamada por economistas que até à véspera defendiam o receituário neoliberal, sem margem para controvérsias. E quem diria que o governo Bush promoveria a estatização de bancos?
Há nesse processo uma relação dialética entre acumulação de capital, geração de excedente de liquidez e criação de capital fictício, engendrando a bolha financeira que, quando murcha, é a crise.
É claro que estamos tratando aqui do valor. No capitalismo, entretanto, o valor de uso está subsumido ao valor. E, quando se fala em crise do capital, está se falando do valor que não se valoriza.
Se olharmos o mesmo processo do ponto de vista do valor de uso, a conclusão será diferente. Por exemplo. Temos um enorme deficit habitacional; logo, há carência de novas habitações para satisfazer as necessidades humanas de milhões. Pelo ângulo desses milhões de sem teto, há uma brutal crise. Mas o problema é que o sistema é capitalista e nele só se reconhecem as demandas do mercado consumidor. Essas necessidades evidenciadas pelo deficit de moradias estão fora de mercado, porque o poder aquisitivo dos pobres é baixo e, em consequência, o seu consumo é pouco. Resultado, embora para os pobres haja uma brutal crise de moradia, para a indústria da construção civil não há crise nenhuma, desde que o mercado de imóveis esteja “aquecido”, desde que exista gente com dinheiro interessada em comprar imóveis, permitindo desse modo que os capitais aí investidos se valorizem. Assim, a tendência é que o capital gere crises de superprodução em situações de carência, ou seja, o capital tende a gerar uma oferta superior à demanda. E isso ocorre porque o que qualifica a demanda é o poder aquisitivo dos consumidores e não as necessidades humanas postas pela população.
Como se pode ver, a crise do capital não se produz por carência, mas por abundância, exuberância; não por falta, mas por excesso, pletora. A hýbris do capital não reconhece limites na sua ânsia pelo lucro máximo. E é a hýbris do capital que cria suas formas amalucadas: o capital fictício, lastreado em papéis supervalorizados, que, por sua vez, estão lastreados em coisa nenhuma, pura ilusão de valor (mas, atenção, o capital é mestre em vender ilusões!).
No seu afã de acumulação, o capital vai transformando tudo em mercadoria. E não apenas a força de trabalho tem seu preço no salário, mas tudo o mais tem seu preço, inclusive os valores morais e a honra pessoal. Como a gente cansa de ouvir, “tudo tem seu preço”. E por aí fica claro que a consciência também pode ser comprada. É por isso que se diz que a corrupção no capitalismo é sistêmica: é porque ela está inscrita na lógica mercantil do capital.
Mas, do mesmo modo que há duas maneiras de avaliar a crise ─ do horizonte próprio do valor ou do horizonte próprio do valor de uso ─, assim também há duas perspectivas para seu enfrentamento: do ponto de vista dos capitalistas ou do ponto de vista dos trabalhadores.
Para o capitalista, trata-se de recolocar a economia nos eixos do mercado. E, embora sua predileção seja liberal, seu senso prático não renuncia ao estatismo. Então, o burguês liberal recorre ao Estado para salvar o mercado. Como? De várias formas, mas principalmente transferindo renda pública para a empresa privada em bancarrota, socorrendo a livre iniciativa malsucedida; em suma, privatizando lucros e socializando prejuízos. E o faz com tal ênfase, que não seria abusivo afirmar que, no final das contas, o capitalismo resulta em uma espécie de “socialismo dos ricos”.
Assim, o Estado burguês repõe a economia capitalista nos eixos do mercado. Até a próxima crise. Sim, porque a crise é da própria essência do regime do capital: desde 1854, o sistema capitalista contabiliza ao menos trinta e quatro grandes crises econômicas. A mais grave delas, a de 1929, se arrastou por vinte anos e só foi resolvida com a destruição criadora proporcionada pela Segunda Guerra Mundial.
Essas crises sempre prenunciaram grandes transformações. No curso da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, ocorreu a vitória da Revolução Bolchevique na Rússia de 1917. No entre guerras, a ascensão do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha. E a partir de 1946, a construção do Estado de bem-estar, que estabilizou o capitalismo por 25 anos.
Já para o trabalhador, é o caso de dar curso a uma reformulação profunda, para que a produção satisfaça as necessidades humanas colocadas pela população, em vez de atender à demanda imposta pelo poder aquisitivo do mercado. O móvel dessa nova economia terá que ser o bem-estar social (no lugar do lucro, que move a economia de mercado). Mas está aí algo muito fácil de conceber e muito difícil de fazer. É fácil de conceber porque salta à vista como uma necessidade para se fazer face à barbárie do capitalismo. É difícil de fazer porque é um ato de vontade que não depende só da disposição militante de uma vanguarda esclarecida e aguerrida, mas do consentimento ativo da imensa maioria da população. Sua dificuldade não se restringe ao terreno da economia nem é de ordem exclusivamente técnica. É uma dificuldade que só pode ser resolvida na esfera da política, da correlação de forças entre as classes sociais.