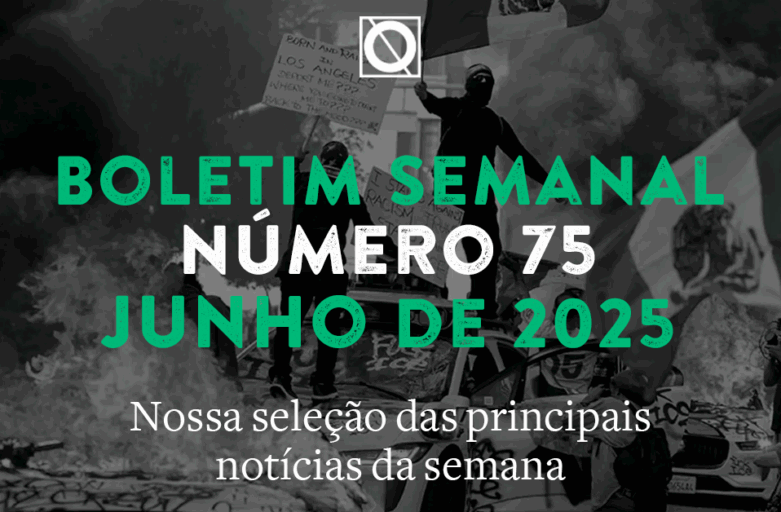Com uma formação social de origem colonial, presa às malhas do capitalismo dependente, a sociedade brasileira vive em estado de crise social permanente. A presença de uma grande proporção da força de trabalho vinculada a forças produtivas de baixíssima produtividade, que sobrevive em condições subumanas, funciona como uma âncora que rebaixa o nível tradicional de vida dos trabalhadores, mantendo os salários da grande maioria dos trabalhadores muito próximos do mínimo necessário para a garantia de sua subsistência física.
Quando o ciclo econômico é expansivo, a crise social permanece em estado latente. O crescimento da renda e a expansão do emprego mitigam as tensões provocadas pela miséria social, alimentando a ilusão de que os problemas sociais individuais e coletivos serão resolvidos no futuro. Quando a economia entra em estagnação, os graves antagonismos sociais do subdesenvolvimento sobem à tona. A drástica ampliação do exército de trabalhadores desempregados, a substancial deterioração da qualidade do emprego, o arrocho salarial, o aumento da pobreza e a escalada da concentração de renda acirram a violência social, colocando em questão a “paz social”.
O caráter estrutural da crise social brasileira fica evidente quando se constata que, no final do ciclo de crescimento iniciado em 2004, a segregação social — marca determinante do regime de classe da sociedade brasileira — permanecia intacta. Dados do IBGE revelam que, no início dos anos 2010, aproximadamente um terço dos trabalhadores ocupados estava vinculado a uma base produtiva anacrônica, praticamente a mesma proporção existente em 1980. Em outras palavras, no Brasil, um contingente equivalente a toda a força de trabalho do Japão — a oitava maior do mundo — trabalhava sem nenhuma possibilidade objetiva de melhoria substancial em suas condições de vida.[1]
Nesse período, a expansão das ocupações não redundou em mudança qualitativa na dinâmica que rege o funcionamento do mercado de trabalho. O processo de formalização do trabalho, alardeado pelos governos petistas, não evitou que, em 2014, segundo o IBGE, cerca de 39% das ocupações ainda permanecessem na informalidade, sem acesso a direitos trabalhistas e previdência social, ganhando em média metade da remuneração média dos trabalhadores formalizados. Na falta de alternativa de emprego, praticamente ¼ das ocupações era composta de trabalhador por conta própria, travestido de “empreendedor”, segmento que ganha em média quase ¼ da remuneração dos empregados com carteira de trabalho.[2]
Posto em perspectiva de longa duração, o ciclo “neodesenvolvimentista” tampouco significou uma mudança substancial no nível tradicional de vida da classe trabalhadora. O esforço de elevar o poder aquisitivo do salário mínimo ficou muito aquém do necessário para reverter o arrocho salarial estrutural promovido pela ditadura militar, fato que fica patente quando se considera que, em 2014, seu valor real ainda permanecia abaixo do nível atingido em 1966, antes do início do chamado “milagre econômico”.[3] O aumento da participação relativa dos empregos com carteira no total das ocupações não redundou na criação de postos de trabalho estáveis e bem remunerados. Do total dos empregos com carteira de trabalho assinada criados entre 2004 e 2014, dados do CAGED mostram que mais de 80% corresponderam a vínculos empregatícios que ganhavam menos de dois salários mínimos. No auge do vangloriado “neodesenvolvimentismo” petista, em 2014, 90% dos empregados no setor privado com carteira assinada, a elite, por assim dizer, da classe trabalhadora, recebiam menos que o suficiente para comprar a cesta mínima estipulada pela Constituição de 1988 — calculada pelo Dieese em aproximadamente quatro salários mínimos.[4]
O descompasso entre o ritmo do aumento real do rendimento dos trabalhadores ocupados (2,4% a.a.) e o crescimento do PIB (3,7% a.a.) entre 2002 e 2014 revela que os mecanismos de concentração dinâmica da renda continuaram operando plenamente durante o ciclo de crescimento dos governos petistas. Como consequência, entre 2001 e 2011 não houve uma reversão na concentração funcional da renda ocorrida na década de 1990. Com pequenas flutuações, a participação do lucro e do salário no PIB manteve-se relativamente estável em torno de 33 e 50,5%, respectivamente.[5]
Apesar da insistente propaganda oficial dos governos petistas, tampouco houve mudança qualitativa na distribuição pessoal da renda. Estimativas derivadas das informações do imposto de renda revelam que entre 2001 e 2015 a melhoria na distribuição da massa salarial ficou circunscrita ao universo dos 90% mais pobres, pois os mecanismos de concentração entre os 10% mais ricos continuaram plenamente vigentes. No final desse período, os 10% mais ricos aquinhoavam 55,3% da renda (54% no início); o 1% mais ricos detinha 27,8% da renda (25% no início); o 0,1%, um total de 142.500 mil pessoas, apropriava-se de 14,4% da renda (11% no início); e o 0,001%, 1.425 indivíduos, ficou com 3,9% da renda, praticamente dobrando sua participação na renda nacional. Em poucas palavras, o modesto progresso na posição dos 50% mais pobres, cuja participação aumentou de 11% para 12,3%, foi obtido às custas da redução na participação do segmento composto pelos 40% logo abaixo dos 10% mais ricos.[6]
Por fim, não obstante a expressiva redução da pobreza relativa e extrema durante os anos 2000, de acordo com o Banco Mundial, em 2014, 36,5 milhões de pessoas, 18,1% da população, ainda viviam na pobreza (com menos de US$ 5,50 por dia), dos quais 5,6 milhões, 2,8% da população, condenados à pobreza extrema (dispondo de menos de US$ 1,90 por dia).[7]
Enfim, como ocorrera em todos os ciclos de expansão anteriores, o crescimento econômico não modificou qualitativamente a situação da classe trabalhadora. A pobreza é estrutural. Ela é um condicionante estratégico para degradar o elemento moral que determina historicamente as condições de reprodução da força de trabalho, e, como se sabe, o salário baixo é a verdadeira galinha dos ovos de ouro da burguesia no Brasil. O subdesenvolvimento é um círculo vicioso.
É sobre a extraordinária vulnerabilidade social de uma sociedade subdesenvolvida, marcada pela presença de pobreza em grande escala, subemprego de parcela significativa da força de trabalho, precariedade da situação dos empregos, arrocho salarial da grande maioria dos trabalhadores e desigualdade social abismal, que se abate o impacto devastador da maior crise econômica da história moderna do país.
[1] Portugal, Jr., J.G. Padrões de Heterogeneidade Estrutural no Brasil. Tese de Doutorado — IE-UNICAMP, Campinas, 2012, cap. 7, 8 e 9. [http://repositorio.unicamp.br/jspui/bitstream/REPOSIP/285908/1/PortugalJunior_JoseGeraldo_D.pdf].
[2] IBGE. Síntese de Indicadores Sociais: Uma análise das condições de vida da população brasileira, 2018, Tabela 4,6 e Gráfico 26. [https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101629.pdf].
[3] Para a série histórica do salário mínimo real consultar IPEADATA. [http://www.ipeadata.gov.br/ExibeSerie.aspx?serid=37667&module=M].
[4] Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados — CAGED — podem ser consultados em http://pdet.mte.gov.br/caged?view=default.
[5] João Hallak Neto e João Saboia, Distribuição funcional da renda no Brasil: análise dos resultados recentes e estimação da conta de renda. Economia Aplicada, vol. 18, no. 3. Ribeirão Preto, July/Sept. 2014. [http://dx.doi.org/10.1590/1413-8050/ea455].
[6] Marc Morgan, Extreme and Persistent Inequality: New Evidence for Brazil Combining National Accounts, Surveys and Fiscal Data, 2001–2015. WID.world Working Paper Series №201/12, August 2017. Ver também Medeiros, M., Souza, P.H.G. e Castro, F.A., O Topo da Distribuição de Renda no Brasil: Primeiras Estimativas com Dados Tributários e Comparação com Pesquisa de Domiciliares (2006–2012). Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, vol. 48, no. 1, 2015.
[7] https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators.