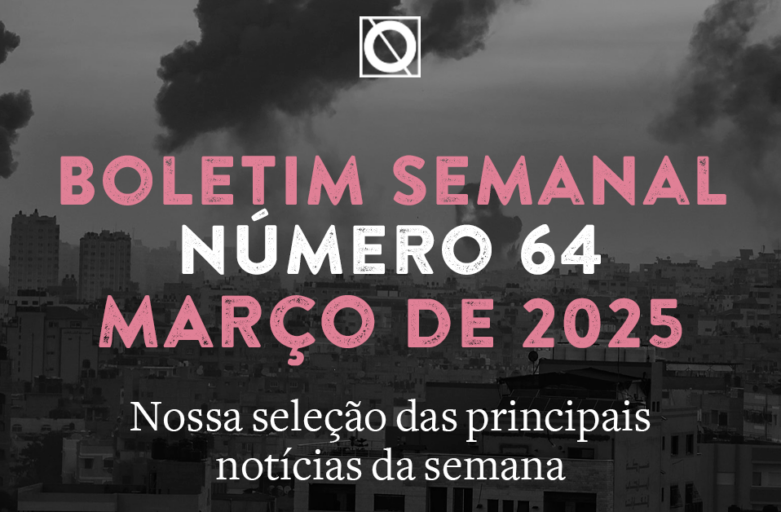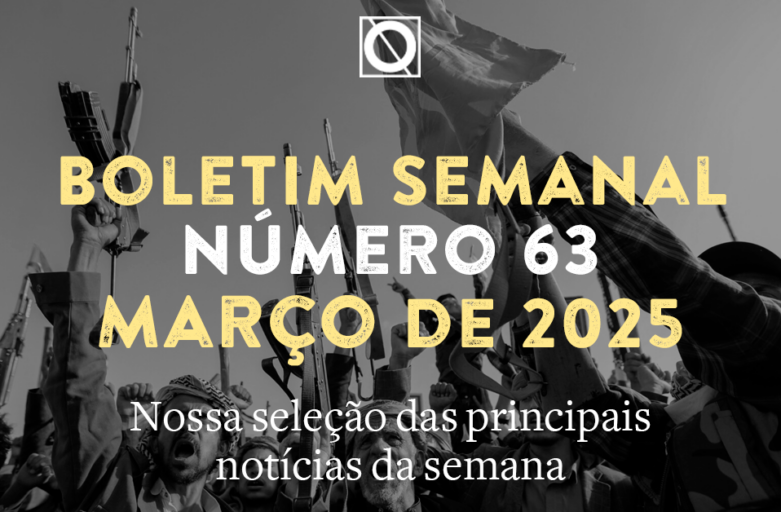A crise econômica geral, que se instala definitivamente no Brasil em 2015, transformou a crise social latente numa crise social aguda, a mais grave de toda a história moderna do Brasil. Os efeitos sobre a situação material da classe trabalhadora foram devastadores.
Num país que incorpora anualmente cerca de 1,6 milhão de trabalhadores ao mercado de trabalho, a contração da oferta de emprego provocou uma explosão de desemprego. Entre 2015 e meados de 2019, cerca de 13 milhões de trabalhadores foram marginalizados do mercado de trabalho, o que equivale a toda a força de trabalho da Venezuela. A depressão da oferta de emprego pelas empresas levou o número de trabalhadores desempregados, desalentados ou simplesmente subutilizados ao patamar de 28 milhões, 1 a cada 4 trabalhadores, um contingente equiparável a toda a força de trabalho da Argentina e do Chile.[1]
Nesse período, a taxa de desemprego aberto dobrou, estabilizando-se, a partir de 2017, no patamar de 12 a 13%. O número de desempregados aumentou em quase 6,4 milhões, elevando o total de desocupados à casa dos 13 milhões. O número de trabalhadores que desistiram de procurar emprego aumentou em 3,5 milhões, fazendo com que o total de desalentados chegasse a quase 5 milhões — toda a força de trabalho do Paraguai.
No turbilhão da crise econômica, praticamente nenhuma família passou ilesa pelo fantasma do desemprego. Dados do CAGED mostram que, desde 2015, aproximadamente 48 milhões de trabalhadores com carteira assinada sofreram o trauma de, voluntária ou involuntariamente, serem desligados do emprego. O flagelo do desemprego penalizou sobretudo os segmentos mais vulneráveis da classe trabalhadora: jovens e negros, trabalhadores com menor qualificação e os que vivem nas regiões mais pobres do país, sobretudo no Nordeste.
A crise do mercado de trabalho provocou um forte rebaixamento na qualidade do emprego, registrando-se significativa redução na participação das ocupações com carteira de trabalho em relação às ocupações informais. Revertendo a tendência da última década, entre 2015 e 2018 o trabalho informal passou de 41% para 44% do total das ocupações. Tal reversão deve-se fundamentalmente à destruição de 3,6 milhões de postos de trabalho formais pela iniciativa privada (1,1 milhão dos quais substituído por empregos informais, que, no segundo semestre de 2019, ganhavam, em média, 35% a menos do que os empregados com carteira de trabalho).
Entre os trabalhadores em ocupações informais, ganham crescente destaque os segmentos mais precarizados da classe. Do último trimestre de 2016 a meados de 2019, quando cessa o mergulho recessivo da economia, os trabalhadores por conta própria, praticamente 80% deles sem CNPJ, responderam por quase 50% do aumento total das ocupações (os outros 50% foram preenchidos por empregos informais, já que os empregos com carteira continuaram diminuindo). É a “terceirização” e a “uberização” do trabalho como respostas à depressão do mercado de trabalho.
Entre os trabalhadores empregados no setor privado, a indústria, que paga os melhores salários, foi o setor que mais fechou postos de trabalho, destruindo cerca de 1,4 milhão de postos de trabalho do início 2014 a meados de 2019. Nesse período, os empregos em serviços, que exigem baixa qualificação, aumentaram. O trabalho doméstico, por exemplo, em plena crise, gerou 330 mil vagas de emprego. A depressão do mercado de trabalho só não foi maior porque, a despeito do ajuste fiscal, o setor público gerou mais 1,1 milhão de novos postos de trabalho.
A depressão da economia provocou um arrocho salarial generalizado. Depois de recuar 3,6% entre o segundo trimestre de 2015 e o terceiro trimestre de 2016, o rendimento médio mensal dos trabalhadores se recuperou lentamente, estabilizando-se, em 2019, no mesmo patamar de 2014. Os trabalhadores por conta própria foram os que mais perderam, sofrendo, entre 2015 e 2018, uma queda real de cerca de 8% em seus rendimentos. Dados do CAGED mostram que o salário das novas contratações com carteira de trabalho foi, em média, 9% inferior ao salário dos trabalhadores demitidos. O arrocho salarial não poupou nem mesmo o salário mínimo, cuja recuperação foi interrompida, apesar de seu valor real continuar muito distante do nível estipulado pela Constituição de 1988 e muito aquém do patamar já alcançado antes do arrocho promovido pela ditadura militar na década de 1960.
A crise econômica fez a pobreza — a face mais cruel da crise social — recrudescer. Explicitando a fragilidade da política de enfrentar os efeitos e não as causas estruturais do problema, a tendência de diminuição da pobreza iniciada no começo dos anos 2000 foi drasticamente revertida. De acordo com informações do Banco Mundial, entre 2015 e 2017 a população em situação de pobreza e pobreza absoluta, isto é, ganhando menos de US$ 5,50 e US$ 1,90, aumentou em 7,4 e 4,3 milhões, respectivamente, totalizando aproximadamente 44 e 10 milhões de pessoas, o equivalente à população da Argentina e Portugal.[2]
Por fim, a crise econômica agravou dramaticamente as desigualdades sociais. Pesquisa da FGV revela que a partir do segundo trimestre de 2015, a concentração pessoal de renda, medida pelo Índice de Gini, aumentou sistematicamente. A dinâmica que levou ao aumento da concentração de renda fica evidente quando se contrasta a evolução do rendimento médio real dos pobres e dos ricos. Enquanto entre o quarto trimestre de 2014 e o segundo de 2019 o rendimento médio da população na faixa dos 10% a 20% mais pobres diminuiu 73%, o rendimento dos que estavam na faixa dos 10% mais ricos registrou um aumento de 2,6% e o dos que se encontravam no 1% mais rico registrou uma elevação de 10,1%. A contração foi maior no Norte e Nordeste, bem como entre os jovens e os negros e pardos.[3] No final de 2017, segundo o IBGE, os negros ganhavam, em média, 42% menos que os brancos; as mulheres, 23% menos que os homens; e as mulheres negras, aproximadamente 65% menos que os homens brancos. Como consequência, a diferença entre o salário médio mensal do 1% mais rico da população e dos 50% mais pobres, que sempre foi escandalosa, aumentou em apenas dois anos de 30,5 para 33,8 vezes entre 2016 e 2018.[4]
Enquanto a classe trabalhadora era submetida a um draconiano arrocho salarial, o grande capital recompunha a taxa de lucro. A escalada do lucro dos bancos em plena crise é um importante indício de que a concentração funcional da renda veio acompanhada de uma escalada na concentração funcional da renda. Desde meados de 2016, o setor bate recorde de rentabilidade. Entre junho de 2018 e julho de 2019, por exemplo, com um retorno sobre o patrimônio líquido de 15,8%, os bancos acumularam R$ 109 bilhões de lucro, um aumento de 18,4% em relação aos doze meses anteriores, a maior rentabilidade desde 1994, quando começa o Plano Real — a política econômica do grande capital.[5] Quando os agregados da composição da renda nacional estiverem disponíveis, ficará evidenciado que a distribuição da renda entre lucro e salário restabeleceu a tendência ultrarregressiva dos anos 1990.
Em suma, do ponto de vista conjuntural, o agravamento da crise social é condicionado pela ampliação do exército de trabalhadores desempregados, pela substancial deterioração da qualidade do emprego, pela intensificação do arrocho salarial, pelo recrudescimento da pobreza e pela escalada da concentração de renda. A brutal regressão social dos últimos anos não será revertida por uma eventual retomada do crescimento econômico, possibilidade, diga-se de passagem, bastante improvável no curto prazo.
Os condicionantes estruturais da pobreza e da desigualdade social são historicamente sobredeterminados pelo grau de desenvolvimento das forças produtivas, pelo “tipo” de relação de produção e pela posição de cada formação social na divisão internacional do trabalho. Sem nunca ter colocado em questão os parâmetros do regime de classes baseado na segregação social, o processo de industrialização por substituição de importações, que, aos trancos e barrancos, avançou entre 1930 e 1980, reduziu significativamente a proporção da força de trabalho vinculada a forças produtivas de baixíssima produtividade, aumentando assim o raio de manobra para a acomodação das tensões sociais.[6] A desindustrialização reverteu tal processo. Ao acelerar e aprofundar o desmonte do sistema industrial, a crise capitalista inaugurou um novo marco histórico. A destruição da coluna vertebral da economia nacional, fenômeno inerente ao ajuste do Brasil aos novos imperativos do capital internacional no elo fraco do sistema capitalista mundial, potencializada pelos efeitos particularmente perversos do ajuste ortodoxo e da exposição da economia brasileira à concorrência de produtos internacionais, condenou de maneira inescapável uma parcela ainda maior de trabalhadores a viver nas fronteiras da instabilidade e da pobreza.
Por falta de informação, ainda não há possibilidade de quantificar o impacto da regressão das forças produtivas em curso sobre a estrutura do mercado de trabalho brasileiro. A julgar pelo que ocorreu na crise de 1980, a década perdida, o efeito não deve ser nada desprezível. Entre 1980 e 1991, o peso das pessoas no subemprego no total das ocupações aumentou de 27,7% para 36,2%.[7] Considerando o caráter estrutural da desindustrialização provocada pela especialização regressiva da economia brasileira na divisão internacional do trabalho, na crise atual a elevação do peso relativo do subemprego na ocupação deve ter sido ainda bem maior.[8]
A crise social brasileira assumiu uma dimensão dantesca. É o que explica, em última instância, o aumento da criminalidade e da violência. Na ausência de qualquer disposição para transformar as estruturas econômicas, sociais e políticas que sustentam o padrão de acumulação liberal-periférico, à burguesia só lhes resta reprimir seus efeitos. Daí a política de guerra aos pobres, criminalização dos movimentos sociais, escalada da violência política e recrudescência do autoritarismo como razão de Estado. A calamitosa situação da classe trabalhadora brasileira não será revertida sem mudanças profundas em todas as dimensões da sociedade. É o desafio de nosso tempo que, mais dia, menos dia, se imporá como necessidade histórica ineludível.
[1] As informações sobre desemprego e emprego são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua — PNAD Contínua — do IBGE.
[2] Informações do banco de dados do Banco Mundial. [https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators]
[3] Neri, M.C. “A Escalada da Desigualdade — Qual foi o Impacto da Crise sobre a Distribuição de Renda e Pobreza? Agosto, 2019. FGV Social [https://cps.fgv.br/desigualdade]
[4] IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, Rendimentos em Todas as Fontes 2018. [https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101673_informativo.pdf]
[5] Banco Central do Brasil. Relatório de Estabilidade Financeira, Vol. 18, №2, outubro, 2019. [https://www.bcb.gov.br/content/publicacoes/ref/201910/RELESTAB201910-refPub.pdf]
[6] . Rodriguez, O. Heterogeneidad estructural y subempleo. São Paulo. CEBRAP/FAO, 1982, Mimeo.
[7] Portugal, Jr., J.G. Padrões de Heterogeneidade Estrutural no Brasil. Tese de Doutorado — IE-UNICAMP, Campinas, 2012, Tabela 8.5, p. 279. [http://repositorio.unicamp.br/jspui/bitstream/REPOSIP/285908/1/PortugalJunior_JoseGeraldo_D.pdf]
[8] A respeito da desindustrialização da economia brasileira, ver Espósito, M. “Desindustrialização no Brasil: A contrapartida da industrialização dependente”, In: Lubliner, Espósito e Pereira (orgs). A Marcha do Curupira: o aprofundamento da reversão neocolonial nos governos Lula e Dilma. Marília. Lutas Anticapital, 2019.