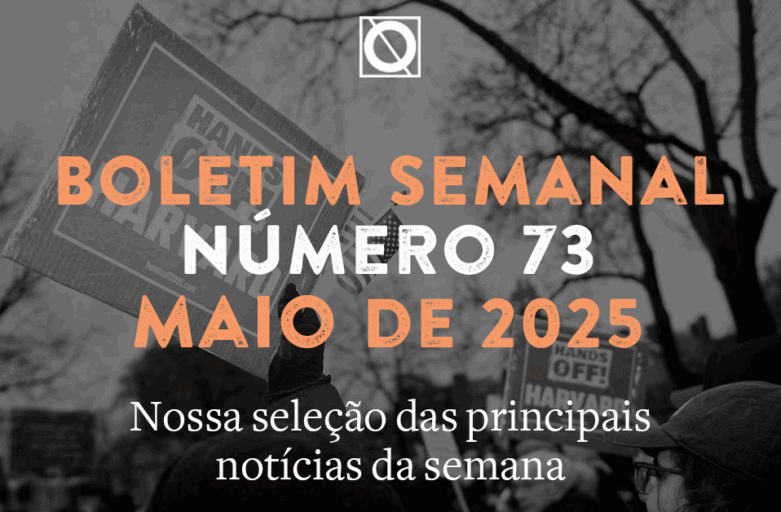Ao contrário do que se poderia depreender da turbulenta conjuntura brasileira dos últimos anos, que nos polariza entre um populismo reacionário que se apresenta como liberal e um progressismo nacionalista visto como de esquerda, sempre houve uma alternativa societária. O próprio PT nasce se opondo tanto ao mercado quanto ao Estado como motores do crescimento, desenvolvimento ou mudança social: sua proposição original era que os movimentos da classe trabalhadora constituíam o único caminho para um país mais justo. Tais movimentos eram considerados os verdadeiros motores de uma transformação radical e necessária em sociedades tão desiguais quanto as da periferia do capitalismo, nosso caso. Essa aposta nas ruas, na participação política combativa e autônoma realizada desde as bases da sociedade – não verticalmente, de cima para baixo –, foi recolocada na cena política nacional por junho de 2013.
A diferença e a ruptura histórica correspondem ao fato de que o primeiro grande levante popular brasileiro no séc. XXI ocorre sob – e questionando – um governo tido (erroneamente, frise-se) de esquerda. Daí ter havido esta situação aparentemente inusitada – mas tão comum à trajetória da esquerda mundial: políticos profissionais, há tempos atuando privilegiadamente em executivos e parlamentos, deparam-se com atores que, como eles no passado, emergem de uma sociedade civil ou de uma agitação social de extração popular. Eles não só tinham esquecido as lições movimentistas por meio das quais nasceram enquanto personas políticas, como decididamente as consideravam ultrapassadas ou não mais replicáveis (ao menos não contra eles próprios…).
As jornadas de junho – lideradas pelo MPL (Movimento Passe Livre) e por diversos fóruns de luta – não poderiam deixar de abalar a hegemonia política então vigente, o lulismo, cujo pacto político reempoderava gradativamente as forças do “atraso”, sempre presentes no condomínio do poder nacional (no caso de Lula e Dilma, via Centrão). Em 2013, prenunciou-se sua queda. Ao contrário do que muitos dizem, sem junho o resultado seria o mesmo, embora por caminhos diversos: pois toda hegemonia política burguesa nas democracias modernas, independentemente de se apresentar como direita ou esquerda, tem hora para acabar, não é eterna.
Ao inverso do que as narrativas dominantes do senso comum propagam, junho de 2013 é fenômeno bastante enraizado no mundo da exploração e opressão do trabalho que tende a estruturar a nossa desigualdade social, espacial, rural, racial, de gênero. Notadamente em relação aos mais ou menos excluídos do pacto lulista – mulheres, negros, indígenas, populações tradicionais e LGBTQIAP+, entre outros grupos sociais que dele extraíram ganhos muitíssimo menores (e perdas muito maiores) que o agronegócio, o extrativismo predatório, as empresas privadas “campeãs nacionais”, os bancos (estes últimos, segundo Lula, nunca teriam ganho tanto quanto sob os governos do PT). Nada de novo aqui, tal é a experiência histórica das políticas populistas – caso do neodesenvolvimentismo lulista –, como se deu com o trabalhismo varguista antes do golpe de 1964, a experiência de matriz nacionalista original.
Também é recorrente nesse tipo de hegemonia social a marginalização política dos segmentos do movimento popular e sindical mais ativos e radicalizados – por isso, mais independentes dos esquemas clientelistas do populismo. Tais setores já vinham se mobilizando enquanto oposição de esquerda aos governos do PT, criticando e combatendo tanto seus fracassos na diminuição da desigualdade quanto seus sucessos no que tange ao desenvolvimento capitalista nacional. Mais empregos eram obtidos pelos trabalhadores, mas em sua maioria precários, temporários ou sub-remunerados. Nas cidades, o transporte público era cada vez pior, agravando a péssima situação da mobilidade urbana que até hoje presenciamos, a qual atinge mais fortemente os pobres. O “inferno urbano” nosso de cada dia era, e é, vivenciado pelas classes populares por meio de nossa típica “sociabilidade violenta”: a criminalidade, a letalidade policial e o encarceramento em massa aumentaram pari passu com o crescimento econômico sob o lulismo. Este agora retorna, ainda que mais instavelmente.
As mobilizações de 2013 expressaram também um grande repúdio à política institucional burguesa, que, até então, fora dominada pelos governos neoliberais de Fernando Henrique Cardoso e pelos governos neodesenvolvimentistas de Lula e Dilma. Uma revolta popular de tal gigantismo certamente teria resposta das forças defensoras da manutenção do status quo. Outros grandes movimentos contestatórios da história, como os juvenis/estudantis/étnicos/feministas/LGBTQIAP+ nos anos 1960 na América do Norte e na Europa, foram, em muitas situações, sucedidos por governos reacionários. O caso do Brasil não precisaria ser diferente.
Considerar como legado das jornadas de junho uma escalada fascista ou uma ascensão conservadora não se sustenta por absoluta falta de dados empíricos que apontem nesta direção. Do mesmo modo em termos políticos, pois neste plano revela-se a distância que se quer tomar do imperativo da realização de uma crítica profunda da insuficiência redistributiva, da insustentabilidade do neodesenvolvimentismo, da sistemática retirada de direitos, dos processos de desarticulação dos movimentos sociais, da criminalização das organizações dos trabalhadores e de todas as alianças espúrias operadas pelo lulismo em favor das classes dominantes.
Todos esses fenômenos – eles sim responsáveis pela ascensão da extrema direita no Brasil – foram tematizados e repudiados, direta ou indiretamente, pelas enormes massas populares nas ruas de(sde) junho de 2013. Parte da esquerda brasileira, a maior e mais visibilizada eleitoralmente, deixou de explorar as contradições da crise de hegemonia que vivemos até hoje, abrindo mão da vocação socialista e revolucionária por excelência: explicitar aos trabalhadores que não há solução nos marcos do sistema burguês. Ao invés disso, optou por temer Bolsonaro acima de tudo e defender nossa democracia liberal/representativa corriqueiramente de baixa intensidade. Obviamente, o “fascismo” (melhor dizendo, o populismo de extrema direita) e a falência da esquerda brasileira não são heranças das jornadas, mas deslocamentos societários e ideológicos que se fizeram contra junho de 2013. A insatisfação popular com a política tradicional poderia ter sido massivamente politizada à esquerda, mas foi facilmente capturada pelo bolsonarismo.
Ademais, as grandes mobilizações de junho – longe de terem sido um “raio em céu azul” – enquadram-se num cenário nacional de retomada das lutas sociais desde ao menos o início da década: greves conduzidas por sindicatos e oposições sindicais, os diversos “Ocupas”, protestos contra grandes eventos e obras do neodesenvolvimentismo petista, lutas de mulheres e negros por direitos humanos, as massivas ocupações de escolas por todo o Brasil, a greve geral contra Temer em 2017, o levante estudantil contra Bolsonaro no início de 2019, os breques dos APPs durante a pandemia, etc. As jornadas já tinham nos ensinado, desde a conciliação de classes interrompida em 2016, que ninguém é dono das ruas. Mas o lulismo e a esquerda institucional optaram por cedê-las à direita cada vez mais extremista e autoritária, confiando nas instituições e na passividade popular, em desfavor do legado emancipatório das jornadas de junho.
Um dos maiores legados de 2013 se fez presente nas eleições de 2022: o passe livre para eleitores no primeiro e segundo turnos em várias cidades brasileiras. A questão da mobilidade urbana e a demanda por transporte público gratuito atualmente são assuntos não mais interditados do debate público, como acontecia antes do advento das jornadas. Sem dúvida, junho não teve forças para alterar decisivamente a dialética política intraburguesa dominante em nosso país. Nem teria como, dada a transição do campo movimentista que ora vivemos, onde – parafraseando Gramsci – o “novo” não emergiu ainda sob os escombros dos velhos mas resilientes neoliberalismo e nacional-desenvolvimentismo. Assim, essa dialética política persiste. No entanto, piorou de qualidade, radicalizando a toada populista e carismática: de um lado, o Mito “patriótico”, de outro, o Pai dos pobres do séc. XXI. Piorou, pois toda a agitação popular dessa década, notadamente em 2013, desnudou as múltiplas e generalizadas crises capitalistas que pesam sobre nossos ombros de modo desigual: precarização do trabalho, miséria, desastres ambientais, racismo/machismo estruturais e falta de motivação democrática, sob o jugo de mercados desregulados e Estados burocratizados. Os cultos messiânicos à personalidade, à direita ou à esquerda, conseguem cativar multidões pelas redes sociais, mas sempre de modo dependente dos calendários eleitorais. Na rotina diária, todavia, é evidente o mal-estar com as sociabilidades burguesas vigentes no capitalismo tardio.
O ascenso da extrema direita se alimenta desse mal-estar, transformando-o em ressentimento popular e em desgovernos que não lograram reeleger seus bufões genocidas, tanto aqui como nos Estados Unidos. No caso brasileiro, Bolsonaro foi derrotado até mesmo em suas próprias guerras culturais, mormente tenha dividido o país desigual que sempre fomos. Apesar de governar preferencialmente para os mais ricos, teve que copiar as políticas sociais lulistas para ter chances eleitorais e acenar para o Brasil mais jovem que ecoa na perspectiva das jornadas de junho, por mais direitos e melhores condições – e opções – de vida.
Lula também assim procede, embora tenha se cercado de opositores notórios do passe livre e do transporte público, como Alckmin e Haddad. Promete mais políticas sociais, ao tempo em que tenta repetir as velhas políticas rodoviaristas pró-automóveis particulares, que engarrafam e atribulam a vida urbana, principalmente dos mais pobres e vulneráveis.
De qualquer forma, no conjunto dos legados de junho deve ser incluída também a própria derrota eleitoral de Bolsonaro. Pois ele, melhor que qualquer outro, expressou o fechamento institucional às demandas populares por mais direitos, buscando desvirtuá-las simultaneamente a um falseamento do sentimento antissistêmico e da lógica democrática das ruas (estas já estavam sendo tratadas pelo lulismo como mero apêndice eleitoral). Neste sentido, junho perdurará se a agência das classes trabalhadoras nacionais continuar se manifestando nas ruas de modo participativo e aguerrido, como é inevitável sob o capitalismo em quaisquer circunstâncias.