
Com a internet recém-instalada nas aldeias da Terra Indígena Kayapó, tenho pela primeira vez a oportunidade de escrever e enviar para publicação um texto daqui de dentro. Isso é importante para mim porque considero este um lugar mágico, quase sagrado. Ainda que na maior parte dos últimos 25 anos eu tenha cultivado o hábito de, voltando à cidade, escrever sobre algo que vivi por aqui, acho que, só de estar fisicamente fora enquanto escrevo, algo se perde no contato com os desmatamentos, com os carros e as notícias do mundo exterior.
Da última vez que saí daqui, em janeiro de 2020, foi para, chegando à cidade, ter a notícia de que um novo vírus perigoso ameaçava se alastrar pelo mundo a partir da China. Na hora não me toquei de que este vírus impediria minha volta à aldeia por dois anos. Nesses dois anos acompanhei as notícias da explosão do garimpo nos limites da Terra Indígena, que já existia com força desde o governo Dilma, mas que se expandiu consideravelmente agora com Bolsonaro, ligado às milícias e empresários bandidos. Neste período, perdemos para a Covid-19 o cacique Paulinho Paiakan, meu irmão na cultura, pois seu pai, Tikiri, me adotou quando cheguei pela primeira vez ao Aukre, recém-formado em Biologia. Desde o início da pandemia, os Kayapó, assim como boa parte do povo brasileiro, também foram vítimas de fortes campanhas de desinformação sobre as vacinas e a Covid-19 de modo geral.
Nos intervalos seguintes entre as disciplinas de Ecologia que ministro na Universidade Federal do Pará em Altamira, tinha medo de voltar à aldeia e trazer o vírus. Depois, com tanto movimento de entra e sai das aldeias, tanto comportamento irresponsável em relação aos protocolos de segurança, eu não vinha mais por medo de pegar o vírus aqui do que de trazê-lo. Agora, duplamente vacinado e testado, resolvi que era hora de voltar. Mesmo porque os garimpeiros estiveram por aqui este tempo todo rondando ou invadindo a área sem precaução alguma.
Depois de quase dois dias de viagem a partir de Altamira até a beira do Rio Fresco, próximo de São Félix do Xingu, meu filho, que me acompanha na viagem, perguntou-me se ele veria algo além de pasto e vacas na viagem. Isso até entrar na terra indígena, onde a pecuária deu lugar à floresta tropical preservada.
O Rio Fresco imediatamente me impressionou pelo forte movimento de suas águas, agora na estação chuvosa. Moro na beira do Xingu, mas a construção de Belo Monte nos roubou a movimentação do rio, que lhe dá vida. Por isso dizemos que a barragem matou aquele pedaço do Xingu.
O Rio Fresco, um dos principais afluentes do Xingu, é caudaloso e agitado, mas está barrento e contaminado pelo garimpo, que revira seu leito e o envenena com mercúrio em busca de um ouro que só traz miséria e destruição.
Foi um alívio passar do Rio Fresco ao Rio Riozinho, até aqui livre dos garimpos, onde fica a aldeia Aukre, e poder matar nossa sede bebendo água diretamente da beira do barco. Pelo Riozinho seguimos, cercados de mata, de aldeia em aldeia, revendo velhos amigos.
Subi o rio lendo em meu Kindle o livro Banzeiro òkòtó, de Eliane Brum, literalmente no meio banzeiro do Riozinho. Uma agitação de água tão forte que em um pequeno trecho tivemos que sair do barco e subir por uma trilha na mata para que o barco, mais leve, pudesse passar mais facilmente. “É imperativo delinear com precisão o confronto deste século, no qual a Amazônia ocupa um papel de protagonismo”, escreveu Eliane Brum em seu capítulo sobre a assimetria das responsabilidades sobre a crise climática. Um texto em perfeita consonância com a paisagem ao redor. Faz algum tempo que a jornalista, como eu, mora em Altamira e descreve perfeitamente os horrores e a brutalidade da classe dominante local. Uma “elite” que anda em êxtase com as políticas bolsonaristas que aceleraram o relógio do fim do mundo.
Já chegando à aldeia Aukre, passamos por jovens que estavam pescando e demos carona a um grupo de senhoras que foram ao mato tirar açaí. Escrevo daqui da aldeia, tomando o açaí, o melhor de todos, com a farinha de mandioca, que também é melhor que a dos brancos. Pensando nessa chegada à aldeia, não consigo deixar de lembrar de um vídeo da ministra Damares Alves, que vi recentemente, em que ela fala de como os índios queriam os benefícios da modernidade e que “os antropólogos” queriam negar-lhes esses privilégios. Quase todas as casas aqui têm uma placa solar, uma ou outra tem televisão, quase todos têm celulares e o uso da tecnologia não tem nada a ver com o que fazem ou deixam de fazer “os antropólogos”. A diabólica Damares, na verdade, estava defendendo a abertura das terras indígenas a atividades econômicas predatórias e a consequente proletarização de 99% de sua população. Como acontece na sociedade envolvente.
Mas chega de falar de garimpeiros, Damares, Bolsonaro e outros cúmplices do genocídio indígena que se acelera. Aqui na aldeia Aukre posso ouvir a conversa das crianças em sua língua materna, em meio a gritos de araras misturados com latidos de cachorros e os sons da floresta. Agora é esperar o sol esquentar para as placas solares sustentarem a internet e, quem sabe, conseguir enviar este texto. Se alguém estiver me lendo agora é porque deu certo.
Nhambit.




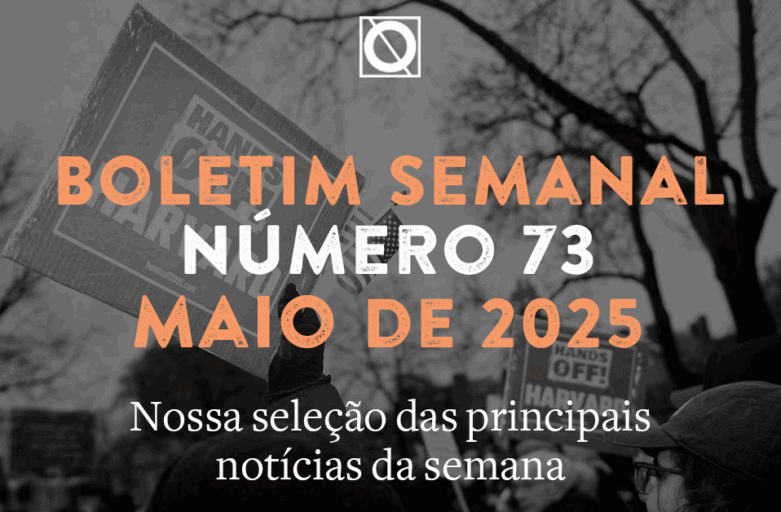

Ao cacique Paulinho Presente! Queremos permanecer de pé nesta luta em defesa da vida e de nossos povos originários no direito ao estudo e aprofundamento da ciência para defesa da vida assim como estudo antropológico para não nos perdermos na história frente a um governo irresponsável. Queremos apesar de tudo acreditar na ciência no SUS.