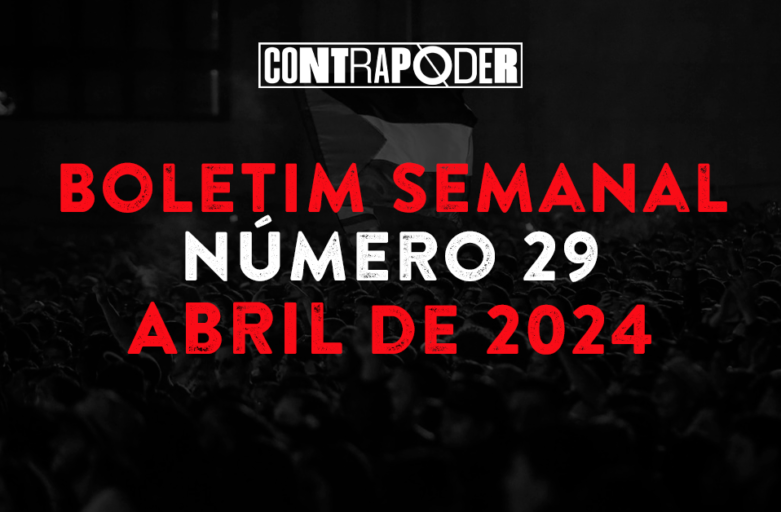O proto-fascista Jair Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil em finais de 2018, com uma votação esmagadora de quase 60% dos votos no segundo turno, e ampla mobilização eleitoral em seu favor do “cartel evangélico”. Usou, para tanto, um precário aparelho político tomado de emprestado (o PSL); gozou também do apoio do alto comando militar, entusiasmado com as prévias manifestações de rua que pediam “intervenção militar” e desejoso (por interesses, em primeiro lugar, corporativos) de recuperar posições no aparelho estatal. As corporações paramilitares (milícias), em aliança instável e conflituosa com o narcotráfico, já haviam saltado a barreira entre o domínio extorsivo de favelas e periferias e a intervenção fascista (assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, só para citar o caso mais conhecido). Donald Trump celebrou a vitória de Bolsonaro como se fosse própria, e chegou-se a falar na constituição, com essa base, de uma “Internacional Antiliberal”, com variados comparsas europeus e do “Terceiro Mundo”.
Ao longo de 2019, porém, o panorama político direitista imperante mostrou nuvens ameaçadoras: continuidade do retrocesso econômico do país e importantes mobilizações sociais contra os eixos políticos centrais do novo governo, em defesa da educação pública e contra a reforma privatizante da Previdência Social. Quando, em 2020, a pandemia do Covid-19 chegou ao Brasil, seus efeitos tinham sido pavimentados pela crise econômica. Os primeiros casos oficiais da epidemia foram registrados no mês de março. Em abril, ficou claro que o principal obstáculo para combater a pandemia era o desgoverno Bolsonaro que, em discursos alucinados, reclamou a “volta à normalidade” do país, abandonando a quarentena obrigatória, ignorando as normas e prevenções sanitárias, tudo em nome de “salvar a economia”. Uma economia dominada pelo grande capital financeiro, apoiador de Bolsonaro e amplamente beneficiado pelo Banco Central, que disponibilizou em 2019 R$ 1,216 trilhão para os bancos brasileiros, o equivalente a 16,7% do PIB. Compare-se essa cifra com o “pacote” inicialmente anunciado pelo governo de R$ 88,2 bilhões para combater a pandemia: ele equivalia a 7,5% dos fundos disponibilizados para os bancos. Os fundos anunciados pela equipe econômica referiam-se basicamente a rolagem ou reestruturação de dívidas de estados e municípios, e a possível uso de linhas de crédito, sendo um percentual bem menor aquele destinado ao efetivo incremento da capacidade sanitária do país. A “ajuda” a desempregados e informais, que acabou sendo fixada em R$ 600,00 mensais per capita, era um paliativo temporário (que, além do mais, deu lugar a uma onda de corrupção).
O desgoverno instalado no país se evidenciou no fato do gabinete presidencial ter sido posto sob intervenção militar, através do Chefe da Casa Civil, Braga Neto. Apesar da orientação do Ministério da Saúde (Mandetta) ser parcialmente diversa da presidencial, subordinou-se a esta ao apoiar o “distanciamento seletivo”, em substituição da quarentena (o que não lhe poupou sua exoneração), com consequências catastróficas em regiões e estados como a Amazônia, pondo em risco a sobrevivência das populações indígenas. O cenário lembrou a ocupação das Américas no século XVI, quando os povos nativos foram infectados e dizimados por vírus e bactérias desconhecidas. Na Amazônia, o Covid-19 encontrou uma região previamente dizimada pela pobreza. Enquanto pouco mais de 400 empresas, na sua maioria multinacionais, geram uma enorme riqueza econômica, com cerca de R$ 100 bilhões de faturamento anual, a população vive na mendicância. Isso explica por que foi tão avassaladora a expansão do vírus na região. Em São Paulo o número de casos no início de maio era de 824 contagiados por milhão de habitantes, no Amazonas de 2.230, no Amapá de 2.419 e, em Roraima, 1.539. Os problemas comuns a toda a região amazônica são: a questão da terra que expulsa quilombolas, ribeirinhos e povos originários; a devastação ambiental acompanhada de queimadas e contaminação dos rios e do maior aquífero do mundo – Alter do Chão; a exploração de mais de 50 mil operários da Zona Franca de Manaus; o desrespeito das culturas nativas pela ofensiva neopentecostal; além do saque permanente das riquezas da floresta.
Nesse quadro, o Brasil passou a ser o país da América Latina com o maior número de casos de coronavírus, com o maior número de mortes e maior subnotificação. Uma pesquisa estabeleceu que o Brasil detectava apenas 11% dos seus casos de coronavírus. Pessoas infectadas que se sentiam saudáveis ou com sintomas muito leves espalharam o vírus, criando as bases para o desastre. Assim surgiram os panelaços de protesto com os “Fora Bolsonaro” dominando as vozes (embora o PT e Lula se opusessem a essa palavra de ordem), que se fizeram ouvir em todas as capitais e até em cidades de médio e pequeno porte do país. Às precárias condições sanitárias, devidas a décadas de desinvestimento e cortes orçamentários, em especial nas áreas de saúde, com o desmonte do SUS, e na educação (incluída a educação superior, base da formação de profissionais de saúde) somou-se a subordinação histórica do país às grandes potências capitalistas dominantes. O governo dos EUA, em atos de pirataria internacional, se apropriou, mediante subornos misturados com a força, de equipamentos de prevenção hospitalar (EPIs), testes e respiradores artificiais para pacientes graves, fabricados na China e destinados a outros países, incluído o Brasil. A política de privatização e desindustrialização privou o Brasil da possibilidade de produzir esses equipamentos e reagentes em grande escala. Alguns países protestaram contra a atitude dos EUA, o responsável pela OMS o fez verbalmente, mas o Brasil de Bolsonaro ficou mudo. O governo Trump anunciou uma política de boicote financeiro à OMS, além de boicotar quaisquer meios de coordenação internacional para combater a pandemia.
Instalada a crise política, em abril-maio passou-se a discutir abertamente uma provável “troca de guarda” na presidência (com Mourão substituindo Bolsonaro à cabeça de um gabinete militarizado), mantendo a composição legislativa, que surpreendeu pela celeridade com a qual passou a tratar medidas como a suspensão de contratos de trabalho e o corte de salários de funcionários públicos e privados, supostamente para conter gastos estatais (no caso dos servidores públicos), destinando mais recursos ao combate à pandemia, e para evitar o fechamento de empresas, enxugando a folha salarial. Para inúmeros trabalhadores, empenhados com despesas fixas de todo tipo, tais cortes significariam, em muitos casos, receber no fim do mês um contracheque negativo, criando uma onda de miséria social e de inadimplência em massa. A operação ideológica paralela consistiu em apresentar a crise econômica como produto da crise sanitária (fator supostamente aleatório e fora de controle) quando, na verdade, aquela precedeu a pandemia, que a manifestou de modo aberto e a aguçou.
O roteiro do governo brasileiro correspondeu à política do imperialismo sobre o coronavírus. A rejeição da quarentena para permitir a disseminação em massa do vírus foi anunciada inicialmente pelo primeiro ministro britânico Boris Johnson, como o método de melhor custo-benefício (para o capital). A fantasia de que o contágio em massa provocaria imunidade natural foi imediatamente rejeitada por todos os especialistas em saúde. Os EUA seguiram uma linha similar; sua implementação abandonou qualquer protocolo e foi imposta mediante as mentiras de Donald Trump. O resultado foi um cenário assustador, em Nova York e nos EUA tomados pelo contágio. A OMS alertou que a luta contra a epidemia exigia não apenas restrição total, mas também testes maciços para detectar o avanço do vírus. O governo brasileiro não fez uma coisa nem outra. A ocultação da situação promovida pelo ministro da Saúde foi funcional à política ditada por Bolsonaro. O ministro anunciou que a política de prevenção do contágio nas favelas e periferias urbanas passava… por um acordo com milicianos e traficantes. E, também, com o grande capital. O primeiro pacote econômico “anticoronavírus” autorizou as empresas a reduzir os salários, um auxílio mensal insignificante de 200 reais, durante três meses, para 40 milhões de trabalhadores lançados na informalidade, benefícios fiscais para as grandes empresas e compra de títulos públicos pelo Banco Central, em resposta à seca no mercado financeiro. O embate com o Legislativo acabou elevando o montante da ajuda para R$ 600, para evitar uma catástrofe social que poderia virar terremoto político.
Para completar, sob o comando de Trump, Bolsonaro lançou uma provocação contra a China, que abriu uma fissura em sua base política de apoio. A pressão da burguesia do agronegócio (a China é o maior parceiro comercial do Brasil, responsável por 30% de suas exportações) colocou o governo em uma situação de fraqueza, no meio de uma crise política ao som dos panelaços e do aumento diário do número de casos de contágio e de mortes. A classe capitalista brasileira ficou dividida, com seu sistema político fraturado. A principal empresa de consultoria mundial para avaliação de “risco político” detectou a possibilidade de uma “crise institucional” no Brasil, acelerando uma fuga de capitais, mensurável cotidianamente. A única saída realista para evitar o desastre passou a ser impor a centralização de todos os recursos do país, com base em um plano social e econômico, sob a mobilização e liderança dos trabalhadores. As empresas começaram a demitir (inclusive no crítico setor de transportes, responsável pela logística de distribuição de alimentos e medicamentos), colocando na pauta de luta a proibição de toda demissão em situação emergencial. O controle do sistema financeiro pelos trabalhadores, para evitar a fuga de capitais e o esvaziamento do país, também foi posto ordem do dia, pondo a perspectiva de sua nacionalização. O combate à epidemia requer uma ação centralizada que coloque todos os recursos econômicos, materiais e humanos, da nação a serviço do travamento do contágio e do tratamento da doença enquanto não existir vacina comprovadamente eficiente, garantindo segurança alimentar e saúde para toda a população, ampliando a capacidade do sistema de saúde para atender todos os doentes, priorizando a produção e distribuição de itens de trabalho para os profissionais de saúde.
A disposição de luta dos trabalhadores da área de saúde, em todos os níveis, se manifestou de modo explícito e foi assumindo os contornos de uma mobilização anti governamental, que colocou a necessidade de transformar o sistema de produção, a economia como um todo. Os profissionais de saúde denunciaram a falta de equipamentos e suprimentos médicos básicos. O governo chegou ao ponto de impor que médicos e enfermeiros reutilizassem as máscaras de proteção. Trabalhadores de telemarketing, entregadores por aplicativo, trabalhadores industriais, distribuidores de alimentos e remédios iniciaram processos de luta para exigir garantias de segurança e higiene. Nas favelas e periferias, comitês da comunidade assumiram a tarefa de estabelecer vigilância sanitária para reduzir a propagação da praga. Houve até greve dos metalúrgicos em São Paulo exigindo férias remuneradas compulsórias.
No sentido oposto, toda a linha política do governo foi orientada para explorar a catástrofe sanitária para avançar na sua agenda de ataques às condições de vida dos trabalhadores e de entrega nacional. O esvaziamento da política de saúde, com déficit de equipamentos e sem financiamento para a pesquisa, contrastou com a mobilização sem precedentes de recursos públicos em benefício dos bancos, fundos de investimento e grandes empresas. A primeira reação de Paulo Guedes (ministro da Economia) à epidemia foi pedir ao Congresso que votasse de uma só vez o pacote de privatizações e reformas administrativa e fiscal, com o argumento de que “salvariam” a economia brasileira na calamidade. Protelando, o Congresso aprovou a ajuda de emergência. Em resposta, o governo congelou sua sanção durante dez dias para condicioná-la à aprovação de uma PEC que daria ao Banco Central superpoderes para comprar títulos privados. Com a PEC aprovada na Câmara dos Deputados, o governo iniciou negociações com os senadores para obter o voto dos estados em troca de apoio financeiro através do “Plano Mansueto”. A “ajuda” prometida pela União – uma extorsão política – evitaria a falência das finanças estaduais, mas poria sobre a mesa uma crise do pacto federativo, isto é, uma crise institucional.
O chamado “Orçamento de Guerra” de Guedes consistiu em autorizar o BC a comprar carteiras de títulos privados, nas mãos de bancos, fundos de investimento e grandes empresas, com o pretexto de evitar uma crise bancária e um colapso econômico. Ele foi precedido por uma libertação dos depósitos compulsórios (recursos que os bancos estão obrigados a manter em caixa) de 68 bilhões de reais, passando de 31% obrigatórios no final de janeiro para 17% em março. Ao lockout do mercado de crédito, que afogava financeiramente empresas em dificuldades, o governo Bolsonaro respondeu com um “todo o poder aos bancos”. Essa operação não correspondeu a nenhum plano de emergência determinado pelo coronavírus, mas à tentativa de dar sobrevida a um quadro econômico disfuncional e esgotado. A paralisia da atividade econômica pela pandemia precipitou um “ajuste” (queda) dos preços dos ativos financeiros, que estavam inflacionados em relação à atividade econômica. As letras financeiras e debentures negociadas no mercado à vista sofreram uma forte desvalorização e falta de liquidez. Muitas empresas brasileiras detêm esses papéis e dependem do seu valor de mercado para equilibrar os seus balanços. A redução do seu patrimônio as colocou em risco de insolvência ou de liquidação pelos bancos. O ajuste dos ativos financeiros inflacionados ameaçou com uma falência generalizada, e a ação do BC foi justificada como meio de garantir o fluxo do dinheiro na cadeia de pagamentos. Na verdade, toda a operação estava destinada a manter artificialmente os níveis de preços para evitar saques maciços e uma corrida bancária.
Os apologistas da medida argumentaram que um mecanismo semelhante estava sendo implementado pelos bancos centrais das principais potências econômicas. O problema é que esses países são emissores de moeda de reserva, enquanto o real brasileiro é a divisa que sofreu a maior desvalorização nos últimos meses, refletindo o fato de o Brasil ser, entre as principais economias, o elo mais fraco da crise capitalista internacional. O coronavírus encontrou o capitalismo brasileiro – com quatro décadas consecutivas de queda da taxa média de lucro – num quadro de distorção aguda na relação entre o valor dos ativos financeiros e o valor dos bens e serviços produzidos, uma bolha à beira de explodir. No mundo, a estagnação econômica levou a uma gigantesca expansão monetária e de crédito para estimular a economia, que resultou na valorização dos títulos e ações, enquanto os preços das mercadorias se mantiveram estáveis e mesmo propensos à deflação. No Brasil, apesar da queda sistemática da Selic (de 14,25% em 2016 para 2,75% em 2020), a indústria continuou em declínio, com um elevado nível de capacidade ociosa. As ações e os ativos financeiros, em troca, tiveram uma valorização constante a partir do golpe de 2016. A queda da Selic e a inflação devido à estagnação econômica provocaram uma transferência de recursos de títulos pré-fixados para papéis com maior risco e rentabilidade.
Esse processo ganhou fôlego com a chegada de Bolsonaro-Guedes ao governo. Em 2019, com o PIBinho de 1,1%, a Bolsa de Valores de São Paulo teve uma valorização de 32%, e os lucros dos bancos um novo recorde, com um aumento de 18%. Um fenómeno característico foi a migração da poupança da renda fixa (devido à queda da Selic) para investimentos em renda variável. O número de pessoas que entraram na roleta financeira subiu para um milhão e meio, dobrando no espaço de um ano. O pífio crescimento econômico esteve relacionado com a expansão das operações financeiras. A contrapartida foi a explosão da economia informal, 40% da PEA, com um declínio sem precedentes na produtividade no seu conjunto. Em 2019, com a saída do BNDES do financiamento para a produção, houve um número recorde de emissões de debêntures, títulos imobiliários, recebíveis, que foi celebrado por Guedes como a modernização do capitalismo brasileiro, que teria passado a ser financiado pela poupança privada. O que houve foi um gigantesco “esquema Ponzi” (pirâmide financeira), sem qualquer lastro econômico real.
Em 2020, o coronavírus acelerou a hora da ressaca. O “Orçamento de Guerra” veio reciclar a bolha financeira, em socorro do capital fictício, através de uma disparada do endividamento, que levou a dívida pública federal de 76% para 90% do PIB. Em 2019, a dívida pública aumentara 9,5%, chegando a R$ 4,248 trilhões. Desse aumento, R$ 330 bilhões referiram-se ao pagamento de juros. Nos últimos dez anos, a dívida pública mais que dobrou: em 2009, o estoque da dívida era de R$ 1,497 trilhões. Proporcionais ao crescimento imparável da dívida usurária e dos juros foram os cortes nas políticas sociais. Segundo o Conselho Nacional de Saúde, o SUS perdeu pelo menos 20 bilhões de reais desde 2016, a partir da MP do teto dos gastos públicos. Ao longo de duas décadas, os prejuízos estimados somariam 400 bilhões de reais.
Os estados e municípios, sem alternativas de financiamento, ficaram diante de um horizonte de caos. As provocações de Bolsonaro aos governadores tiveram esse pano de fundo. A controvérsia com eles sobre as medidas de isolamento não foi apenas uma disputa política, mas teve também o objetivo de encurralar os estados, utilizando como arma a ameaça à vida de milhões de brasileiros. A farra que Guedes-Campos Neto (presidente do BC) ofereceram ao capital financeiro contrastou com a mesquinharia do financiamento para combater a Covid-19. No total, menos de um quinto dos recursos afetados à estatização de títulos privados pelo BC foram destinados ao enfrentamento do coronavirus. Se, na maior crise de saúde da história nacional, o SUS ocupa o último lugar na rubrica orçamental, o negócio capitalista da saúde celebrou novos triunfos. A Agência Nacional de Saúde liberou R$ 15 bilhões para as empresas em troca de manter o atendimento aos inadimplentes durante a pandemia. As empresas foram obrigadas a manter um fundo de reserva para situações de emergência. A ANS demorou mais de um mês desde a primeira morte por coronavírus no Brasil para se pronunciar sobre tema, e precisou ser cobrada diretamente pela Procuradoria Geral da República.
Nenhuma dessas empresas faz esforços extraordinários: os planos de saúde têm que atender segurados inadimplentes, mas só aqueles que se disponham a renegociar contratos. A quantidade de pessoas com seguro saúde atingiu 47 milhões, mais de 20% da população do país, com alto índice de inadimplência. O exame de Covid-19, em teoria, passou a ser obrigatório desde 13 de março de 2020, mas só é feito se algum médico do convênio autoriza. A maioria dos planos restringe ao máximo essa verificação, porque as empresas não fizeram nada para providenciar os kits necessários. Um quadro semelhante ocorre na área da pesquisa. A pandemia chegou em meio a cortes de bolsas, defasagem tecnológica dos laboratórios e desmoralização das universidades. A fila para testes expôs a vulnerabilidade de um país que escolheu não investir em ciência e tecnologia. O gargalo dos testes é resultado da falta de reagentes químicos e de profissionais capacitados para realizar os exames. Até outubro de 2019, as universidades e instituições de pesquisa brasileiras perderam 18 mil bolsas de estudo. Em maio, o governo federal contingenciou 42% das despesas do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (a recriação do Ministério de Comunicações reduziu as verbas ainda mais). Quando a pandemia começava a reverberar, a comunidade científica foi surpreendida por uma portaria da Capes que alterava a metodologia para o financiamento da pós-graduação. Não admira que o governo tratasse a falta de kits de diagnóstico, sem os quais é impossível gerir a curva epidémica, com uma fatalidade do destino. O mesmo se aplica à falta de reagentes, insumos medicinais, respiradores e equipamentos de proteção individual.
Longe de uma resistência face aos impactos econômicos da pandemia, a política do governo Bolsonaro é uma fraude histórica a favor do grande capital, com total desprezo pela vida humana. Em vez de garantir salários para garantir renda e evitar o afundamento econômico, a MP 936, aprovada pelos congressistas, autorizou a suspensão dos contratos de trabalho e a redução dos salários em até 70%. Para implementar essa política perversa houve a aprovação, com o apoio de todos os bloques parlamentares, de um inédito duplo orçamento: um que reúne todas as áreas sociais, sujeito aos dogmas do ajuste fiscal e de garantir o pagamento dos juros da dívida, e outro, “extraordinário”, que fica liberado de todo limite, destinado a socorrer os bancos, as grandes empresas e o parasitismo financeiro. A exigência de Guedes para avalizar a ajuda de R$ 600 para os trabalhadores informais foi a aprovação do “orçamento paralelo”. Os estados falidos, arcando todo o peso do enfrentamento à pandemia, foram deixados à míngua: a extorsão miliciana passou a guiar os mecanismos políticos e econômicos na cúpula do Estado.
Sob essas condições, o Congresso promulgou a PEC que criou o orçamento destinado “exclusivamente a ações de combate à pandemia de coronavírus”, separando do Orçamento Geral da União os gastos emergenciais, e estabelecendo que o orçamento paralelo não precisaria cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal. A lei autorizou o Banco Central a comprar e a vender títulos públicos nos mercados secundários local e internacional, e ações de empresas no mercado local, por valor de um trilhão de reais. O valor total do auxílio para os trabalhadores informais é (ou seria) de R$ 98 bilhões, uma décima parte dos fundos destinados aos banqueiros e grandes empresas. Apesar do Senado estabelecer que as empresas só poderiam se beneficiar se houvesse o compromisso de manter empregos, esse artigo foi eliminado pela Câmara de Deputados. A emenda também concedeu poderes para o Banco Central injetar liquidez no mercado durante a crise, com a compra de títulos do Tesouro ou de títulos de crédito no mercado secundário de pagamentos, financeiro ou de ações. Foi ampliado o rol de ativos que o BC poderia comprar nos mercados secundários financeiros, de capitais e de pagamentos. O Senado havia permitido essas operações durante a pandemia, restringindo-a a seis tipos de ativos: a Câmara excluiu a lista do texto, o que liberou a compra de qualquer ativo.
O “Orçamento de Guerra” teve apoio quase unânime no Congresso, incluindo os votos do PCdoB, PDT e PSB. O PT apoiou a PEC no Senado, e votou contra na Câmara, quando a tramitação já estava concluída, em protesto pela retirada da exigência de manutenção dos empregos. O Senado decidiu a tramitação conjunta da PEC com o PL 39, que prevê o repasse direto de R$ 60 bilhões a estados e municípios, e cobrou a conta dos servidores públicos, impondo o congelamento de salários por 18 meses para todo o funcionalismo, federal, estadual e municipal. O governo atrasou ao máximo a ajuda financeira aos governos quebrados, até chegar ao colapso sanitário em dezenas de cidades, para poder impor os termos mais draconianos possíveis. O PL incluiu também a chamada “securitização de créditos públicos”, pela qual estados e os municípios deverão reciclar sua dívida com a União, passando a dever aos bancos de forma ainda mais onerosa. O pagamento da securitização se daria por fora do orçamento público; estados e municípios perderão o controle sobre suas receitas. O ataque se completou com a MP 936, que, como vimos, permite a redução de salários e suspensão de contratos de trabalho. A aprovação do pacote foi articulada com base no acordo de Bolsonaro com o Centrão, que serve a Bolsonaro para proteger seu mandato e remover o fantasma do impeachment. O Centrão, por sua vez, garantiu tornar impositiva a execução das emendas parlamentares, a vigência do fundo partidário, e ter uma fatia do Orçamento. Os beneficiários principais do confisco dos bolsos dos trabalhadores, no entanto, são os bancos e fundos de investimento, os principais detentores da dívida pública.
Nos últimos doze meses, os cinco maiores bancos fecharam 943 agências bancárias, 194 depois que começou a pandemia: muitas destas agências não mais abrirão. Isto nada tem a ver com uma queda de lucro dos bancos. Na primeira semana de maio, os quatro maiores bancos publicaram seus balanços do primeiro trimestre de 2020. Itaú Unibanco, Bradesco, Banco do Brasil e Santander publicaram resultados escandalosamente disfarçados, com lucro de R$ 14,7 bilhões, uma suposta redução de 28,5%. O resultado real, no entanto, foi maquiado por um aumento de 88% nas chamadas “provisões” (reservas contábeis que estimam prejuízos futuros presumidos). O Itaú Unibanco apresentou um lucro “pequeno” de R$ 3 bilhões, mas contabilizou R$ 10 bilhões em “provisões”, o que significa que, na verdade, lucrou R$ 13 bilhões. Se essas eventuais perdas não forem confirmadas, esses recursos serão contabilizados como lucros extraordinários. Os bancos escondem seus lucros, se fazendo de vítimas da Covid-19, para evitar a possibilidade que se espalhe a demanda de que paguem pela crise. A mesma fraude para ocultar lucros havia sido usada pela Vale no ano passado para não pagar pela tragédia de Brumadinho. Nenhum órgão de fiscalização, nenhum político ou parlamentar, abriu a boca para denunciar o escândalo: a “contabilidade criativa” é privilégio legal dos banqueiros e do grande capital.
O que movimenta essa política? A pandemia entrou em erupção em condições de uma crise excepcional do sistema capitalista mundial, fortemente repercutida no Brasil. As guerras econômicas são a prova disso. Os 280 trilhões de dólares de dívidas mundiais (mais de três vezes o PIB mundial) são a prova da falência do sistema; não podem ser cancelados por décadas nem pelos lucros: 20% do capital mundial está em default. O capital e seu Estado não têm condições de retornar à situação pré-pandêmica, e busca tirar proveito da pandemia para impor uma saída que destrua as defesas dos trabalhadores. A “reativação da economia”, que os governos proclamam como seu objetivo quando rejeitam o “mitigam” quarentenas, é uma mentira; o que está para vir, como os economistas não cansam de repetir, é uma recessão enorme. O grande capital pretende converter a retirada da força de trabalho em suspensões ou demissões em massa, redução de salários, maior flexibilidade do trabalho e abolição de acordos trabalhistas. O capital quer usar a pandemia para desencadear uma guerra de classes. O capitalismo está em um impasse e numa guerra intestina, com ataques a aviões nos aeroportos, que sequestram instrumentos de saúde destinados a estados rivais. Esse impasse se manifesta nas crescentes crises políticas: Trump e Bolsonaro contra seus governadores; Piñera (Chile) contra seus prefeitos; os Fernández, na Argentina, pressionam a indústria, os bancos e o capital internacional para desmantelar a quarentena e cancelar os contratos de trabalho. A Confederação Internacional do Sindicatos estima em 2,5 bilhões de pessoas – mais de 60 % da força de trabalho do mundo – o número de trabalhadores informais, sujeitos a condições degradantes e precarização.
Contra isso, existe uma multiplicação de lutas em defesa do distanciamento social, do emprego, dos salários, das aposentadorias. Nesse contexto, avançou a crise política no Brasil. A demissão bombástica de Sergio Moro, acompanhada de uma peça acusatória contra Bolsonaro e sua quadrilha, deixou uma fratura exposta, não apenas uma crise de governo, mas de todo o regime político. Abriu-se uma etapa de novos enfrentamentos e realinhamentos políticos, com confrontos internos em todas as esferas do aparato estatal. Se a eleição de Bolsonaro suspendera circunstancialmente a guerra de facções e despertara a ilusão de unir a burguesia em um bloco compacto, a crise a explodiu de vez. A primeira consequência da saída de Moro, resultado do movimento “pró-AI-5” relançado por Bolsonaro, foi que a Polícia Federal foi posta sob intervenção de Bolsonaro, dando início a uma temporada de vazamentos, operações político-policiais e guerras de espionagem, na qual novos fatos de sangue não podem ser descartados.
No aparelho judiciário, a Lava Jato tornou-se inimiga do bolsonarismo “raiz”, numa disputa que passou a ter como palco principal o próprio STF, ameaçado “por um soldado e um cabo”, nas palavras do filho do presidente. A crise econômica e a provocada pela resposta genocida de Bolsonaro ao coronavírus aceleraram a perda da base popular de bolsonarismo, com a passagem de parte da “classe média” para a oposição ativa, o que impulsionou Bolsonaro a reavivar a campanha golpista às portas do Quartel Geral do Exército em Brasília. Depois de fracassar na tentativa de montar uma sigla eleitoral, a “Aliança pelo Brasil”, e carente de uma base parlamentar, Bolsonaro respondeu com uma fuga para frente, visando romper os limites estabelecidos pela legalidade burguesa, explorando a comoção nas “instituições” como um motor para a construção de um movimento fascista, apoiado numa base social que, disfarçada de “povo”, emerge da decomposição do aparelho estatal.
A agressividade do bolsonarismo diante do agravamento da crise, porém, expressa também sua fragilidade política (que inclui as limitações intelectuais e a instabilidade psíquica de seu líder) e a imaturidade do movimento político que pretende criar. Ciente dos riscos envolvidos na aposta, procurou uma ponte com o setor mais podre do “Centrão” em busca de apoio parlamentar. Os apoiadores fundamentais de Bolsonaro são, naturalmente, os militares, que estão em sintonia com a maioria de seus objetivos políticos, pois o regime bolsonarista é essencialmente um produto da decisão do alto comando de intervir na política nacional para impor ordem diante da desintegração do sistema político. O pacto selado no final da ditadura, intocado e ratificado por todos os governos desde então, deu aos militares um aura de profissionalismo e de “respeito aos valores democráticos” que nada mais é do que verniz para encobrir a impunidade de seus crimes. Não custa lembrar que, tendo exercido a mais longa ditadura militar latino-americana do pós-guerra, os militares brasileiros foram os únicos em todo o continente a nunca ter sido postos no banco dos réus.
O necro-carnaval que pede um novo AI-5 é possível porque, em grande parte, o AI-5 original não foi totalmente revogado. O bolsonarismo tem o seu ponto de partida nesta realidade. A militarização das polícias ocorreu em 1969, como uma das medidas essenciais do regime militar, materializando a Doutrina de Segurança Nacional em uma reorganização do aparato estatal em função da luta contra o “inimigo interno”. A “redemocratização” manteve intacta essa nova estrutura estatal. Com o colapso do esquema político que emergiu da transição pactuada, sobretudo a partir da acelerada perda de autoridade do PT desde 2013, a burguesia lançou-se a transformar esse aparato, em suas vertentes policial e judiciária, na base social de um novo fenômeno político. Os ideólogos e executores deste processo giram em torno do alto comando militar.
Quando um ministro do STF, Gilmar Mendes, diz que “usar as Forças Armadas como milícias é um insulto à própria instituição”, ele esconde o fato de que a vocação das milícias não vem de fora, mas é filha do alto comando militar. Bolsonaro não foi mais do que um membro do baixo clero parlamentar durante três décadas, aliado aos milicianos e criminosos. Foram os militares os que, em meio à crise do governo Temer, o levaram pelos quartéis e casernas de todo o país para estabelecer um vínculo com as tropas e alimentar a farsa do “Mito”, criando as condições para sua candidatura presidencial. O princípio que norteia a ação dos militares é sua condição de garantes últimos da preservação do Estado, da ordem social do capital e da aliança estratégica com o imperialismo. As vacilações que demonstram são uma expressão da consciência do risco que correm, com sua maior exposição, para cumprir esse papel. A suposta (e fantasiosa) “capacidade de gestão”, “profissionalismo”, “preparação técnica” da oficialidade, que validaria sua presença maciça no alto escalão do governo, está em evidência e sujeita ao julgamento. Agora multiplicam-se as perguntas que não querem calar. Qual é a “capacidade técnica”, a “alta instrução”, o “patriotismo” de uma elite militar que concedeu o Ministério da Educação a um analfabeto funcional, o Ministério do Meio Ambiente a um destruidor da natureza, o Ministério da Economia a um trader especulativo, o Ministério das Relações Exteriores a um oportunista alucinado, o BNDES a um amigo dos filhos do presidente? Onde está o “senso de responsabilidade” de uma elite militar que, no meio da maior crise sanitária da história, pôs no Ministério da Saúde um general que confessou não ter o menor conhecimento na área e declarou que sua função era “limpar” os quadros técnicos da pasta?
As trapalhadas de Bolsonaro obrigaram a ala militar a lhe impor condições e tutela, nomeando o general Braga Neto como Chefe da Casa Civil – ele fora o chefe da intervenção militar no Rio com a missão de enquadrar as milícias no período pré-eleitoral. O impasse do governo no relacionamento com o Congresso e na política econômica levou o general, apoiado pelo “superministro” da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas (outro graduado na Academia das Agulhas Negras), a lançar o programa Pró-Brasil, conhecido como o “PAC do Bolsonaro”. O confronto entre as duas linhas econômicas em disputa, que estava sendo processado dentro do Congresso e no confronto entre o Congresso e o Executivo, passou para o próprio coração do governo. Uma linha dominante, alinhada em torno da agenda do capital financeiro e do imperialismo, que impulsiona a liquidação total do patrimônio público e de todas as conquistas sociais, exige a continuidade de Guedes e de seu programa. Outra linha, que demanda o resgate estatal, investimentos públicos e políticas de estímulo à demanda, tem sido encampada pela ala militar do governo. Durante o desenrolar da crise que levou à queda de Moro, em segundo plano foi declarada uma guerra entre Guedes e Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional, com direito a insultos e provocações mútuas.
Trata-se não apenas de uma disputa em torno de um “modelo” ou política econômica, pois tem uma dimensão em torno do “Orçamento de Guerra”, estimado em cerca de R$ 700 bilhões. O plano, concebido para dar poderes extraordinários ao BC para salvar empresas, tornou-se um botim em disputa. Embora Braga Neto tivesse dito que o Pró Brasil teria 30 bilhões de reais em investimentos públicos (e obras por outros 250 bilhões seriam financiados por fantasmagóricos investimentos privados), Marinho quer que 180 bilhões do orçamento sejam destinados ao Pró-Brasil. A necessidade de uma trégua após o escândalo Moro forçou Bolsonaro e os militares a resgatar Guedes. Por um lado, Guedes e o mercado de títulos podres, por outro, os militares e Pró-Brasil. O pai deste, Rogério Marinho, não é qualquer improvisado: foi o redator e arquiteto da reforma trabalhista sob Temer, e o verdadeiro articulador da reforma previdenciária, que Guedes apresenta como seu trunfo no comando do Ministério da Economia.
A crise não poupou nada: a camisinha política usada por Bolsonaro para vencer as eleições (o PSL) se transformou em palco de disputa de gangues e laranjas de todo tipo por verbas eleitorais e do fundo partidário, e foi descartada em prol de uma fantasmagórica “Aliança pelo Brasil”; os mais importantes governadores bolsomínios (São Paulo e Rio de Janeiro) foram pulando do barco, tornado inseguro e um obstáculo para suas aspirações eleitorais em 2020 e 2022; dois governadores reacionários, há pouco desconhecidos e eleitos graças à sua aliança com Bolsonaro, aproveitaram da situação e abrandaram suas manifestações de barbárie para adotarem as recomendações da ciência contra o vírus (um deles, porém, o governador do RJ, foi apanhado como chefe de uma quadrilha de desvio de recursos públicos destinados à luta contra a pandemia); o ministro da Justiça e da Segurança, nascido no cenário nacional como o anti-Lula e programado para Cavalo de Tróia no Poder Judiciário e na Polícia Federal, começou a agir com critérios próprios na matéria, e até a deixar de ocultar suas próprias aspirações eleitorais, o que concluiu na sua escandalosa renúncia/demissão; as PMs de Bahia e Rio (agindo sob ordens de seus governadores) enviaram o capo miliciano do clã dos Bolsonaro seis palmos em baixo da terra; o principal conglomerado midiático do país (a Globo) transformou sua guerra surda contra a base evangélica do bolsonarismo, pelo controle do setor de comunicações, em guerra aberta, se transformando em porta-voz dos panelaços cada vez mais frequentes contra o presidente. A suposta solução miraculosa (ou “mítica”) para a crise de 2016 transformou-se num bumerangue.
Diante da crise política, o movimento das Forças Armadas foi, numa tentativa de unir o útil ao agradável, o de aprofundar sua participação (e recepção de verbas e prebendas) em todos os escalões governamentais, já não só através de militares reformados (como no início do ciclo bolsonariano) mas também de militares da ativa; ao mesmo tempo marcando suas distâncias da clique fascista ocupante da titularidade do Executivo através do vice-presidente Hamilton Mourão, que aproveitou, em artigo veiculado n’O Estado de S. Paulo, sua condição de xará do chefe da ala conservadora da revolução burguesa/escravocrata dos EUA (de 1776) para firmar sua posição supostamente tão “federalista” quanto a daquele, estendendo uma mão aos governadores por cima da cabeça do presidente. Partindo do Palácio do Jaburu, um clima de autogolpe militar instalou-se no Palácio do Planalto.
A pandemia não criou, apenas aprofundou e acelerou, esses desenvolvimentos políticos. O Brasil levou 53 dias, a partir da primeira morte por coronavírus, para ultrapassar a marca de 10 mil vítimas. Mas foi necessária somente uma semana para superar os 15 mil mortos, até superar folgadamente os 60 mil. Devido às subnotificações, algumas estimativas situam em casa muito mais elevada a quantidade real de mortes, enquanto outras advertem que o pico da pandemia não foi ainda atingido, prevendo 50 mil contágios diários. Segundo Miguel Nicolelis (autoridade mundial na área de neurociência e chefe do projeto Monitora Covid-19): “Vamos viver algo que nunca imaginamos na história do Brasil. E isso, nas proporções que vamos ver, não era inevitável”. O Brasil se transformou um dos epicentros mundiais de expansão da Covid-19, com uma velocidade de contágio superior àquela dos países que mais a sofreram.
Enfraquecido pela saída de Moro, assediado pelas denúncias e pela catástrofe sanitária, o governo foi obrigado a resgatar Guedes, representante da burguesia mais concentrada, para evitar que a corrida financeira se espalhasse. O resgate de Guedes foi insuficiente para conter as tendências centrífugas. Os militares, por sua vez, ao jurar sua fidelidade “à democracia e às instituições”, estão dizendo que nas condições atuais não há espaço para dinamitar as pontes com o Congresso e o STF. Parte da esquerda propôs, diante da crise, uma “ampla frente democrática” que englobaria o PT, passando por todo o arco nacionalista burguês, até os golpistas Maia, FHC e Doria, uma armadilha cuja base política é ofuscar o papel central que cabe à classe trabalhadora para bloquear e derrotar as provocações neofascistas. É de se celebrar que, contra o 1º de Maio de colaboração de classes, “virtual” e com políticos burgueses/golpistas no palanque, convocado pelas principais centrais sindicais, a CSP-Conlutas tenha convocado e realizado um comício de independência de classe, ainda que com meios limitados.
As vias fascista, militar ou “parlamentarista” que se apresentam como opções diante da crise, diferem nos métodos, mas coincidem em levar à destruição das conquistas históricas da classe trabalhadora e a entrega nacional. O ponto de vista da classe trabalhadora, de seus interesses históricos, exige uma análise detalhada do desenvolvimento das contradições do regime a fim de poder direcionar sua ação comum contra as fendas abertas, explorando seu potencial. As guerras internas da burguesia, as disputas entre cliques políticas e a luta das facções no aparelho de Estado, se produzem, por outro lado, no contexto de uma crise política mundial. A rejeição da quarentena para permitir a disseminação em massa do vírus foi anunciada inicialmente pelo primeiro ministro britânico Boris Johnson: os EUA seguiram uma linha similar, com os resultados à vista. A política impulsionada pelos brutamontes imperialistas, como se sabe, acabou quase custando a vida de seu impulsionador (o próprio Johnson) e teve de ceder lugar a medidas de distanciamento social que, adotadas tardiamente, custaram a vida de dezenas de milhares de pessoas, no que Donald Trump achou um pretexto para denunciar uma conspiração viral contra os EUA orquestrada pela China. Não há dados para justificar a passagem para o que se chama de “novo normal”. Considerada mundialmente, a liberdade comercial não encontra fundamento no desenvolvimento da pandemia. Os países que alcançaram um freio da curva de contágio são poucos. Mesmo neles, China e Coreia do Sul em primeiro lugar, não está descartado um novo surto de infecções.
O negacionismo viral de Trump e a sua recorrente má vontade em relação à ciência, além de suas constantes bravatas, vêm lhe custando caro e têm repercutido de modo negativo junto a uma parcela significativa da população norte-americana, com fortes chances de comprometer suas pretensões de se reeleger presidente, sem falar nas enormes mobilizações antirracistas provocadas pelo assassinato de George Floyd. Diante desse fato, Trump recorre, fomentado pelo incansável Steve Bannon (que andou fuçando o Brasil após a vitória de Bolsonaro), a teorias de conspiração, dizendo que a China é a grande responsável pelo “Chernobyl biológico” e que deve ser denunciada por crime premeditado. Ao invés de juntar esforços globais para enfrentar a pandemia, o governo Trump se engajou em uma guerra ideológica sem qualquer base científica.
Diversamente do acontecido no cenário metropolitano, e em que pese a espantosa velocidade de propagação do vírus no Brasil, Bolsonaro não perdeu o embalo e, sob pretexto de “retomar a economia”, não só continuou batendo na mesma tecla, como aproveitou para botar na rua sua cada vez mais esquálida base social, convocada cotidianamente a quebrar a quarentena e o distanciamento em manifestações em frente ao Planalto, e a desfilar sua ignorância e ressentimento agressivos em diversas capitais estaduais. As iniciativas políticas do presidente, que incluíram a troca de boa parte dos superintendentes estaduais da Polícia Federal (em primeiro lugar, pro domo sua, a do Rio de Janeiro), e a literal invasão do STF, onde o presidente ocupou (sem licença) a cadeira de seu presidente para dar lições de reativação econômica a juízes culpados de permitir que estados e municípios limitassem seus ímpetos genocidas (definidos com essas literais palavras pelo ministro Gilmar Mendes), levaram a marca da improvisação empírica e do atabalhoamento.
A primeira das iniciativas lhe custou a deserção da principal estrela do gabinete bolsomínio (Sérgio Moro); a segunda se combinou com o fato cômico (se trágico não fosse) da atuação de três ministros da saúde, em apenas um mês, em um país afetado por uma pandemia mortal, somada à inédita receita oficial de um medicamento (cloroquina) por parte de um titular do Poder Executivo, fato sem precedentes na história mundial da medicina. Para completar sua obra, Bolsonaro anunciou que não mais reuniria seu gabinete, depois da desastrada e divulgada reunião de 22 de abril, e que doravante só despacharia com cada ministro individualmente, uma manifestação de isolamento que acendeu os índices habituais de alarme: dólar, Bolsa de Valores, e até alguma penosa movimentação parlamentar. As principais centrais sindicais começaram a sair do estado de letargia e começaram a acenar com uma pressão em favor do impeachment, mas ainda nada de greve geral. Lula se limitou a intervenções midiáticas reclamando da “falta de liderança”, como se Bolsonaro não estivesse liderando o país para o desastre.
No meio do colapso do sistema sanitário, a ocupação militar do Ministério da Saúde, exonerando profissionais de carreira para ser substituídos por pessoas sem nenhuma experiência, é um passo à frente no sucateamento da saúde pública e um crime contra o povo brasileiro. A militarização da saúde representa uma nova fase do ataque ao SUS, que sofre as consequências do desfinanciamento e o déficit de insumos e de pessoal, agravados a partir do congelamento dos gastos públicos. Desde 2018, a saúde deixou de receber pelo menos R$ 22,5 bilhões. Há mais de 200 mil profissionais de saúde com suspeita de contágio. A maioria dos casos (34%) é de auxiliares ou técnicos de enfermagem, a categoria mais precarizada e com salários mais baixos. Depois deles, os enfermeiros são a segunda categoria mais afetada, com 34.000 casos. São Paulo concentra a maior parte de diagnósticos, com mais de 15 mil profissionais de saúde com confirmação de Covid-19.
Mas a crise política continuou avançando. A queda de Weintraub, o sujeito que à frente do MEC patrocinou o mais violento ataque à autonomia universitária, além de estabelecer uma agenda com foco no ataque aos docentes, técnicos e alunos, significou a queda do ministro que será lembrado por sua gestão desastrosa. Antes de largar o cargo, Weintraub ainda deixou mais uma marca, a portaria 545, que revoga a portaria normativa do MEC nº 13, de 2016, política de incentivo à políticas de acesso de negras e negros, povos originários e pessoas com deficiência à pós-graduação das universidades, institutos federais e Cefets. A decisão, racista, dialoga com a extrema-direita, mas também, negativamente, com a história do nosso país marcada pelo racismo, desigualdade social e violência estatal. No quadro geral, assistimos a mais e mais casos de ações polícias violentas contra a população negra.
Com o governo em crise e soltando lastre para sobreviver, Paulo Guedes e o ministério da Economia elaboraram um programa para a saída da pandemia, uma tentativa de preservar o último e fundamental ponto de apoio do projeto de Bolsonaro, além da casta militar. Através dele, o grande capital tenta aproveitar um Brasil devastado por milhares de mortes, e pela desorganização econômica, para impor um ataque histórico. A “boiada” que Guedes quer fazer passar consiste em uma operação política, cozinhada com o Centrão, que contempla a um só tempo reformular a política social, aprovar uma nova contrarreforma trabalhista com o “Cartão Verde-Amarelo” e reintroduzir o projeto de previdência por capitalização: uma resposta ao fracasso político de Bolsonaro que visa organizar e enfrentar, com os recursos do capital financeiro, a fração da classe trabalhadora empurrada para a economia informal contra os trabalhadores de carteira assassinada, com o intuito de eliminar conquistas históricas, tomando como pontos de partida as medidas “excepcionais”, o desespero e a desmoralização por causa do desemprego e a falta de perspectivas. Para isso, o governo agrava intencionalmente a miséria, recusando-se a estender a ajuda de emergência.
O programa “Renda Brasil”, lançado por Guedes, unificaria todos os programas sociais, inclusive o Bolsa Família. Benefícios hoje em vigor seriam revistos, como o benefício de prestação continuada (BPC), pago aos idosos de baixa renda, e o abono salarial, pago a quem ganha até dois salários mínimos. Apologistas do plano falam em “privatizar” o orçamento público, dando aos destinatários o “poder de escolha” sobre os recursos. A ideia é reduzir drasticamente o salário indireto (políticas públicas de saúde, educação, saneamento) e, como compensação, proporcionar uma renda mínima em dinheiro. A pandemia virou um gigantesco laboratório político. Guedes admitiu que a experiência de cadastrar aqueles que não estavam inscritos em programas sociais, com a ajuda de emergência, está na base do novo plano. A inspiração veio após o impacto favorável (limitado) a Bolsonaro nas pesquisas verificado depois distribuição da ajuda emergencial, mantendo-se, porém, a queda do apoio popular ao governo. Segundo Guedes, o governo “aprendeu” que havia 38 milhões de brasileiros fora do mercado de trabalho.
O objetivo é utilizar o banco de dados da ajuda emergencial para reciclar o projeto Carteira Verde-Amarela, a fim de reduzir encargos trabalhistas, estimulando a concorrência entre os trabalhadores. É a tática de usar o exército industrial de reserva, de proporções gigantescas no Brasil devido à crise econômica, para tentar impor uma mudança histórica. Com a Carteira Verde-Amarela, as empresas se beneficiariam da redução de encargos para contratação de jovens de 18 a 29 anos e maiores de 55 anos, que receberiam apenas até um salário mínimo e meio. A consequência será o aumento da rotatividade, com demissão daqueles que ganham mais, para serem substituídos por trabalhadores contratados pelo novo modelo. Com a substituição por trabalhadores que ganhariam um salário de miséria, o novo regime de contratação promoveria o achatamento da média salarial de inúmeras categorias. As empresas teriam isenção da contribuição previdenciária e das alíquotas do Sistema S. Em caso de demissão, o trabalhador receberia apenas 30% de multa sobre o FGTS, em vez dos 40% válidos para os demais contratos de trabalho.
Atrelado ao projeto de ressuscitar a Carteira Verde-Amarela e Amarela, Guedes voltou a propor a mudança do regime de previdência, resgatando a capitalização (derrotada no Congresso antes do casamento com o Centrão), formato em que cada trabalhador deve contribuir para a própria “poupança”, e não para um fundo comum. O modelo não teria efeito para as classes mais baixas, pois a capitalização valeria a partir de uma linha de corte de remuneração. Seria criado um sistema complementar, em que o regime de repartição continuaria a existir, garantindo as aposentadorias da população de menor renda. A capitalização valeria para trabalhadores com remuneração acima da linha de corte, que seria de três salários mínimos. Para facilitar a aprovação, Guedes propôs a criação de um imposto sobre transações financeiras, cobrado da mesma forma que a antiga CPMF, ou seja, um novo imposto ao consumo popular. O imposto substituiria os encargos previdenciários que pagam as empresas, os custos do INSS seriam repartidos por toda a sociedade. O projeto era a base da reforma tributária do governo desde o início, mas ganhou tração devido à crise econômica.
Levando em conta os primeiros impactos da pandemia, a contração do emprego no Brasil foi muito mais severa do que nos números oficiais. Houve perda de quase dez milhões de postos de trabalho em apenas dois meses, de 94,2 milhões trabalhadores ocupados em fevereiro para 84,4 milhões em abril, o nível mais baixo de toda série histórica. A elevação da taxa de desemprego oficial de 11,1% para 12,9%, entre fevereiro e abril deste ano, não captura a realidade, porque a força de trabalho (o conjunto das pessoas trabalhando ou buscando emprego) também despencou no período, de 106 milhões para 96,9 milhões, devido à epidemia. Como demonstrou um estudo da FGV, caso a força de trabalho tivesse se mantido inalterada (e os demitidos passassem imediatamente a buscar emprego), a taxa de desemprego estaria acima de 20%, a maior da história.
Em síntese, a política é aproveitar a pandemia para fazer passar, de contrabando, os objetivos econômicos que viabilizaram o apoio da grande burguesia ao experimento Bolsonaro-Guedes em 2018. O programa está sendo reciclado para dar sustento a Bolsonaro no momento da maior fraqueza de seu governo. Esse programa também alinha parte das forças que se autoproclamam “defensoras da democracia”. Isso vale não só para o o Centrão, mas também para todas as variantes alternativas a Bolsonaro (Maia, Moro, Doria), o que se reflete na declaração do PSDB contra o impeachment: “O PSDB foi colaborativo. A principal reforma deste governo, da previdência, foi relatada na Câmara e no Senado pelo PSDB”. Em que pese essa “colaboração”, a decomposição do governo Bolsonaro desafia, pela sua velocidade, as análises políticas. A queda de Abraham Weintraub (e sua projetada fuga para o exterior, como um reles criminoso, para ocupar um cargo no Banco Mundial), as prisões do miliciano e operador financeiro bolsonariano Fabrício Queiroz (em um sítio de propriedade do advogado do presidente) e da inacreditável “Sara Winter”, líder do grupo fascista dos “300”, se sucedem sem dar pausa para fôlego, e se somam à pressão pelo inquérito das fake news, ao julgamento no TSE sobre a cassação da chapa vencedora em 2018, vinculando-se ao assassinato-queima de arquivo do chefe de milícias Adriano da Nóbrega, provável articulador dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes.
A classe dominante, isto é, a classe capitalista, se digladia. Parte substancial de seus representantes políticos se opõe à queda de Bolsonaro e sua quadrilha, principalmente de seu ministro Paulo Guedes, preferindo lhe deixar realizar seu “trabalho sujo” até finais de 2022, quando seria possível substitui-lo pelas vias institucionais habituais. O trabalho sujo vem sendo realizado, principalmente, através do acordo estratégico entre as inciativas econômicas e trabalhistas do Executivo, complementadas ou corrigidas pelo Legislativo: cortes salariais legalizados, suspensão de concursos públicos e não homologação dos já realizados (em momentos em que o setor público precisa desesperadamente de reforços para combater a pandemia), recolocação e aprofundamento da privatização da Previdência, desoneração impositiva das grandes empresas, subsídios ao capital financeiro, legalização das demissões etc. O Executivo fascista, minoritário no Congresso, paga o preço do acordo na forma de ministérios e postos em suculentos (e orçamentariamente bem dotados) cargos de segundo escalão na administração federal. O chamado “Centrão” é o principal cliente desse toma-lá-dá-cá, tomando as benesses com a mão direita enquanto na esquerda segura o porrete do julgamento político (e provável prisão) não só do entourage operacional, mas dos próprios membros da famiglia governante.
O risco desse posicionamento é triplo: 1) Deixar na mão da clique bolsonariana uma fração do poder político (o Executivo) que, em condições de agravamento da crise e de ausência de alternativas políticas, pode ser usado contra os outros poderes para reduzi-los a uma função decorativa ou simplesmente destruí-los, enviando seus titulares, como anteviu e desejou explicitamente o profeta Abraham (Weintraub) para a cadeia; 2) Continuar confiando em que o principal apoio internacional de Bolsonaro, Donald Trump (e outros membros da “Internacional Antiliberal”) continue a apoiá-lo (o que não está claro), ou que ele próprio (Trump) seja destronado como consequência da rebelião popular que percorre os EUA (Black Lives Matter) em ano eleitoral; 3) Suscitar uma rebelião popular no Brasil, que já não é surda (vide panelaços a repetição e mobilizações de rua, contra os grupos fascistas e em defesa dos trabalhadores da saúde) e que pode fazer de sua grande desvantagem atual (a pandemia e o isolamento social) uma vantagem, ao somar para suas fileiras não só os participantes e organizações habituais nas mobilizações, mas toda a população, inclusive a desorganizada, que se vê obrigada a lutar pelo seu elementar direito à vida.
Daí que outro setor da classe dominante, com a Rede Globo à cabeça, seja partidária, explícita ou implícita, de adotar medidas que facilitem a remoção de Bolsonaro. É claro que também é uma posição que comporta riscos, pois o início de um julgamento político abriria uma crise de poder que suscitaria uma mobilização popular; a variável que eles não exibem, mas a mais provável, é a de um golpe, porque o Brasil não suportaria o longo processo parlamentar de um impeachment. As Forças Armadas se encontram sob essa dupla pressão, com o agravante (que não existia no último golpe, o de 2016) de uma redução notável de sua capacidade de arbitragem: mais de 2.800 militares trabalham em funções administrativas do governo federal. Na maioria dos casos, recebem funções gratificadas (FGs), o que gera reforço no salário, mas há muitos em cargos em comissão (CCs), sobretudo os reservistas. Desse total, cerca de 1.500 são do Exército, 680 da Marinha e 622 da Aeronáutica, ou seja, o golpe no poder político exigiria um prévio golpe no interior dos quartéis, o que transformaria àquele num golpe ao quadrado.
O que é isto senão uma crise de poder, ou “crise institucional”, que se desenha por trás de um noticiário que rivaliza, não só em audiência, mas também em lances cômicos ou trágicos, com as telenovelas que o antecedem e sucedem no horário nobre das TVs? O desafio apresentado à classe trabalhadora tem dimensões históricas. A crise capitalista, que a pandemia evidenciou em toda a sua profundidade, acelerou os tempos e levou amplos setores para uma situação de desespero. Bolsonaro busca militarizar setores da pequena burguesia desesperada e arrastar uma fração da classe trabalhadora para atacar fisicamente as organizações operárias. Os acontecimentos revelam a consciência do grande capital de que, por enquanto, não é possível governar o Brasil só com um miliciano. Por isso existe um resgate do aparelho de dominação burguês (STF, Congresso, que o bolsonarismo define como “o establishment”). O “Renda Brasil”, que consagra as aspirações da burguesia de completar o trabalho iniciado no golpe de 2016, surge como solução para recompor o regime. O problema é que ocorre no momento em que os países propiciadores dessa receita sofrem uma crise profunda, em que a luta de classes despertada pelos seus efeitos tem assumido dimensões enormes (Chile, Estados Unidos).
A força dessa perspectiva (onze ministros caíram, mas Guedes continua firme e apoiado pelo empresariado) é também sua fraqueza, pois precisa enfrentar uma classe trabalhadora que já protagonizou importantes mobilizações políticas contra Bolsonaro, um movimento popular em ascensão (especialmente o antirracista, fortalecido pelas mobilizações nos EUA) e que pode, através de uma luta política, organizar os desempregados e os afetados pela pandemia em um combate político contra o capital e seu Estado. Apesar dos reveses dos últimos anos, a classe trabalhadora brasileira não está derrotada. A maior demonstração é o surgimento da luta antifascista nas condições impostas pela pandemia, que já se tornou um pesadelo para o regime. O desafio da juventude precarizada e “uberizada” ao aparato fascista e às PMs sinaliza o início de uma batalha estratégica que deve reunir trabalhadores ocupados e desempregados, formais e informais, em uma luta comum. O confinamento emergencial, única defesa comprovada contra a extensão da pandemia Covid-19, impede grandes iniciativas políticas presenciais. Com a honrosa exceção dos trabalhadores da saúde, notadamente as enfermeiras, das torcidas organizadas e dos antifascistas de Porto Alegre e outras cidades, há pouca presença nas ruas e os assassinatos na periferia persistem. Há uma contradição entre a luta pela sobrevida, que obriga a aceitar as recomendações da ciência, e, por outro lado, a necessidade de serem preservadas as condições para as lutas populares.
Essa contradição é, entretanto, transitória. A luta contra a pandemia e contra o colapso do sistema de saúde pública colocou um programa claro: a necessidade de pôr todos os recursos no combate contra a pandemia, derrubando o congelamento dos gastos públicos por vinte anos (EC/95) e financiando o setor público (em primeiro lugar, o SUS e os institutos/universidades de pesquisa) mediante o não pagamento da dívida pública detida pelos tubarões financeiros e um imposto às grandes fortunas; a eliminação da “fila dupla” (pública e privada) para testes e atenção dos doentes; a colocação de todos os recursos sanitários (55% dos leitos de UTI se encontram em hospitais privados, só 45% no setor público, que atende, no entanto, mais de 80% da população) sob responsabilidade do SUS, este sob controle direto e democrático dos seus trabalhadores (médicos/as, enfermeiros/as, pesquisadores, agentes de saúde, assistentes sociais), que já se encontram na linha de frente, física e política, da luta contra a pandemia. E não só contra a pandemia, mas também contra as investidas dos tresloucados bandos fascistas, agentes da política genocida.
Os trabalhadores da saúde, que arriscam a própria vida no combate ao coronavirus, se tornaram a vanguarda da luta contra a política genocida. A 12 de maio, em ocasião do Dia Internacional da Enfermagem, um boneco de Bolsonaro de dez metros com mãos sujas de sangue foi exposto no centro de Brasília por pessoas vestidas com jaleco e máscaras de proteção, que seguravam uma faixa com a frase de Bertolt Brecht: “Os que lavam as mãos, os fazem numa bacia de sangue”. Atos em todo o país reivindicaram mais testagem e EPIs para todos, contratação de mais profissionais, além da defesa do SUS e do isolamento social, e a saída de Bolsonaro e Mourão da presidência. Defenderam também pautas históricas da categoria, como a carga horária de 30 horas, a aposentadoria especial, piso salarial, além da defesa do SUS.
Os profissionais de saúde estão na linha de frente da luta contra a pandemia; eles têm o maior número relativo de infectados; são privados dos instrumentos elementares de seu trabalho; passam longas horas em um trabalho cada vez mais árduo. O exemplo desse trabalhadores resistindo às provocações e agressões em mobilizações de rua em que defendem suas reivindicações, que são as de toda a população brasileira, não teve até o presente a solidariedade que merece: centenas de vidas de trabalhadores da saúde já foram ceifadas. Não bastam aplausos. É preciso, em primeiro lugar, que sociedades científicas e ordens profissionais de todos os campos, com todos os recursos, autoridade moral e penetração midiática que possuem, iniciem uma campanha sistemática em defesa desses trabalhadores e suas demandas, que se projetam sobre a arena política. E, também, a solidariedade unânime e ativa de sindicatos e centrais sindicais.
A classe trabalhadora, empregada ou desempregada, está sendo duramente atingida pela epidemia, isso é o ponto de partida de qualquer política. A quarentena recomendada pela ciência médica colide com as condições precárias de suas casas e bairros; com a falta de infraestrutura sanitária; com o desemprego e a precariedade crescente e permanentes. No meio de uma crise sem precedentes do regime social e político do Brasil, se coloca uma luta pela sobrevivência física e social dos trabalhadores; todas suas organizações devem estar à altura do desafio, do qual não podem fugir.