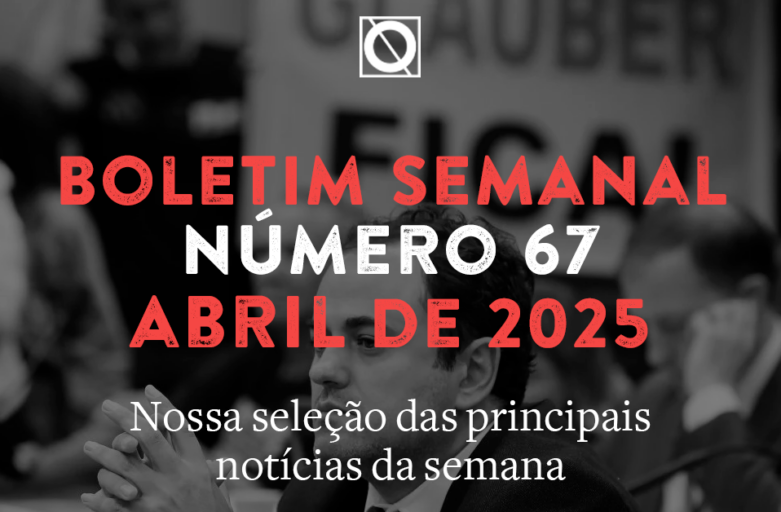Por Silvia Beatriz Adoue1
Para além das particularidades da chamada justiça transicional (da ditadura para a democracia) de cada Estado da região, a nova configuração do capital reserva novo funcionamento para os Estados
No 24 de março último, comemorou-se o 46º aniversário do último golpe militar na Argentina e, alguns dias depois, o 58º do último golpe militar no Brasil. À distância, podemos entender suas causas e consequências. Mas dois companheiros entenderam seu significado de maneira imediata. Florestan Fernandes, no Brasil, compreendeu que se tratava de contrarrevoluções preventivas, destinadas menos a abortar um processo revolucionário em curso do que a desarticular de antemão resistências a um novo padrão de dominação que os centros de poder queriam instalar. Na Argentina, também Rodolfo Walsh compreendeu que a principal finalidade era impor esse novo padrão de dominação. Um ano após o golpe, soube plasmar essa compreensão na Carta Aberta à Junta Militar. A violência antecede ao despojo. Vivemos hoje uma nova transformação no padrão de dominação externa sobre nosso continente. Desta vez, uma guerra que não assume este nome precede uma nova onda de despojo. Cabe a nós reconhecê-la.
O despojo dos camponeses na Europa e o despojo contínuo dos territórios que foram objeto de exploração colonial no planeta foram práticas necessárias para a implantação do modo capitalista de produção nos países centrais. Mas cada crise do sistema foi acompanhada de aumentos discretos de espoliação, para compensar os limites do lucro, apenas superados com a implantação de um novo modelo de acumulação. Assistimos hoje a uma nova crise, desta vez estrutural, do sistema do capital, que exige mais que um aumento discreto do grau de espoliação. Não é um despojo que alcança uma “meseta“ e depois mantém sua magnitude. O sistema do capital exige hoje uma aceleração permanente do alcance e da intensidade da espoliação dos territórios, com formas inéditas de despojo.
É o que vivemos em nosso continente, onde operam cadeias de extração de diferentes procedências. Assim como nos anos 60 e 70, as burguesias dos países de América Latina dividem as riquezas extraídas com os poderosos do mundo. Agora, integrando os territórios às cadeias extrativas, independentemente dos governos que aqui se revezam. É isso que chamamos de consenso das commodities. Não importa, para essas burguesias intermediárias e os governos que sustentam, se o destino das commodities é a China ou os Estados Unidos. É preciso destruir os marcos legais de proteção dos territórios, e sua força de trabalho, para abrir passo à extração e à transferência de riquezas. É preciso que os Estados se comprometam a criar a infraestrutura logística e energética necessária para que as cadeias operem de maneira mais flexível, por meio de planos como o da IIRSA2 ou o da Rota da Seda. E isso não se realiza sem passar por cima da soberania dos territórios. Numa guerra surda e permanente.
É curioso que, em meio a essa tensão, nosso olhar sobre a violência de Estado dos 60-70 desenhe as ditaduras militares como episódios anedóticos, encapsulados no passado e separados de suas causas e consequências. A expressão “Nunca Mais” é faca de dois gumes, repetida como mantra de inegável desejo que, magicamente, meteria o monstro num caixão blindado e sem chave. Uma série de rituais, também mágicos, pretendem nos convencer de que, realmente, nunca mais… Os rituais são os da chamada justiça de transição. Para eficiência ideológica desses rituais – que tragam alguma sensação de normalidade democrática –, é necessária a convicção de que as forças de segurança do Estado agiram por conta própria. Que os executores da barbárie estão muito distantes dos interesses civilizados das corporações empresariais que, agora travestidas de democráticas, mostram sua indignação ou arrependimento. E que se comprometem a nunca mais… como se barbárie e civilização não fossem duas caras da mesma moeda.
Mas esses rituais ainda parecem perigosos para Estados e seus quadros que, sabem, necessitam hoje lançar mão da barbárie para que o sistema continue operando. Apenas assim se entende a timidez com que os rituais foram realizados no Brasil, por exemplo, onde a (tardia) Comissão da Verdade foi uma operação fugaz e sem maior consequência, apesar do enorme esforço dos companheiros que se lançaram de cabeça nas investigações sobre a violência de Estado durante a ditadura. Na Argentina, em troca, a autonomia com que agiram as gerações pós-ditadura, com os escrachos aos repressores e unindo as lutas de ontem e de hoje em suas práticas, ameaçava desestabilizar o relato tranquilizador sobre o monstro já decrépito e aposentado. Tiveram que ir mais longe, desobstruir os debates cancelados e dar a eles um encaminhamento institucional: reabriram os julgamentos. Milhares de militantes dedicaram enorme energia a produzir provas para os tribunais. Muitos agentes da ditadura já descartados foram para a prisão. Os beneficiários últimos da contrarrevolução preventiva, no entanto, seguiram ganhando sem solução de continuidade.
Para além das particularidades da chamada justiça transicional (da ditadura para a democracia) de cada Estado da região, a nova configuração do capital reserva novo funcionamento para os Estados. A aceleração da intensidade do despojo exige uma permanente violência que não se pode enquadrar nos marcos legais. Os Estados operam, de maneira permanente, articulando a ação legal e ilegal. O lado monstruoso da força estatal aparece na forma de poder miliciano, paramilitar, parapolicial e dos cartéis, que hoje diversificam seus ramos de ação. Tendo esse braço que opera nas sombras, o Estado pode manter sua aparência legal, inclusive com políticas de contenção social, enquanto garante o terror necessário para disponibilizar os territórios para o despojo. México, os países da América Central e Colômbia têm sido talvez os laboratórios onde essas práticas vêm sendo precocemente ensaiadas. A mira dessas instituições paraestatais aponta para as populações potencial ou efetivamente resistentes aos projetos de despojo. Não apenas militantes socioambientais e comunitários, mas também os grupos populacionais que se pretende vulnerar.
O extermínio e encarceramento massivo dos jovens (quase sempre racializados) das periferias, que são tratados como inimigos potenciais da ordem, não podem ser vistos senão como uma continuidade do que foram as ditaduras dos 60-70. Continuidade por sua finalidade e continuidade pelo emprego da economia do terror. Mas é preciso somar uma característica nova às formas mais atualizadas da barbárie capitalista e estatal. A promessa democrática dos governos pós-ditadura, que anunciava a inclusão cidadã e o Estado de bem-estar (mil vezes anunciado e adiado) com um reassalariamento, não tinha bases materiais para se sustentar. Sobraram as políticas de alívio à pobreza que já tinham sido recomendadas pelo Banco Mundial na segunda metade da década de 90. Essas políticas inclusivas, num contexto de aceleração sistémica, de ajuste, privatização, mercantilização e despojo, entram em curto-circuito quando as populações marginalizadas encontram com o teto de vidro blindadíssimo do sistema. Ao não encontrar uma boa marreta para quebrá-lo, devém o ressentimento. Ressentimento que é substrato pouco adequado para a construção de redes de solidariedade e projetos coletivos.
As comunidades, as mulheres trabalhadoras, os povos menos contaminados com essas promessas ilusórias são os que mais e melhor enfrentam o despojo e a violência que sempre o precede, seja com golpes militares, seja com a mão sombria dos governos ditos democráticos, seja com as transformações legais e acordos internacionais impulsionados pelos governos, inclusive progressistas, que autorizam a sangria.