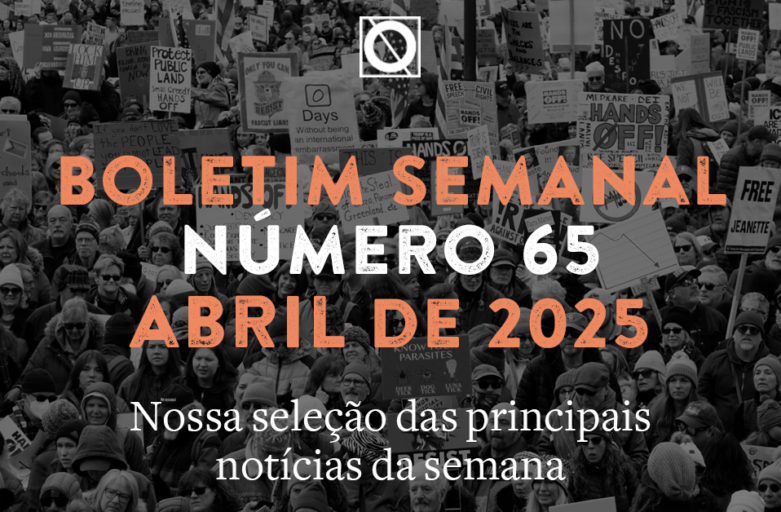Vou começar esta coluna com a citação do psiquiatra, nutrólogo e geógrafo pernambucano Josué de Castro (1908-1973). Ele é autor de vários livros, entre os quais GEOGRAFIA DA FOME, texto clássico publicado em 1946.
Há uma anedota que é de quando Josué de Castro foi presidente da FAO, nos anos 1950. Naquela ocasião, ele denunciou: “No Brasil, ninguém dorme por causa da fome. Metade porque está com fome e a outra metade porque tem medo de quem tem fome”. Nem é preciso dizer que ele teve os direitos políticos cassados pelo golpe militar de 1964.
Mas o fato é que, de lá para cá, a situação não melhorou. Pelo contrário, a fome até se agravou. E o aparato de repressão aos famintos (polícia, exército, justiça, etc.) fortaleceu-se e sofisticou-se para dar uma satisfação aos que temem não a fome, mas os famintos.
Junto com a fome, cresceu, então, o encarceramento dos pobres (em sua maioria negros). Para ter uma ideia, o Brasil tem a quarta maior população carcerária do mundo. Até junho de 2019, a população carcerária no Brasil era de 773.151 presos. A taxa de encarceramento triplicou de 2000 a 2019: a cada 100 mil habitantes, o número de presos passou de 137 para 368.
Vale considerar que o encarceramento é uma tendência mundial. Cerca de 10,2 milhões de pessoas estão encarceradas em todo o mundo. A taxa cresceu de 136 por 100.000 pessoas para 144 em 15 anos. E os países que mais encarceram em termos absolutos são: Estados Unidos, a maior democracia do Ocidente, com mais de 2,2 milhões de prisioneiros (698 presos por 100.000 habitantes em 2013, além de 71.000 crianças em centros de detenção juvenil); China, com mais de 1,6 milhão de presos; Rússia, com 642.444 presos (em 2014); e Brasil, onde, em 15 anos, a população carcerária aumentou 160%, atingindo mais de meio milhão de brasileiros em 2014.
O que mais chama a atenção, porém, é que, enquanto Estados Unidos, China e Rússia registraram diminuição da população carcerária no intervalo entre 2008 e 2014 (respectivamente quedas de 8%, 9% e 24%), o Brasil manteve sua ininterrupta curva ascendente, com acréscimo de 33%. Em consequência, as maiores populações carcerárias do mundo em janeiro de 2020 eram as dos EUA, 2.100.000; China, 1.600.000; e Brasil, 812.000.
Nesse quadro catastrófico, no qual o sistema econômico-social demonstra sua incapacidade para prover as necessidades mais elementares da população, o Banco Mundial chama o Estado a realizar políticas compensatórias focadas nos bolsões de maior carência, além, é óbvio, das políticas de contenção através da repressão policial. Assim, quando, em 2002, dona Ruth Cardoso, durante o governo FHC, cria a Rede de Proteção Social para unificar a assistência aos famintos, já havia no país vários programas sociais, beneficiando cerca de 5 milhões de famílias. Dentre esses programas:
- o Bolsa-Escola, vinculado ao Ministério da Educação,
- o Auxílio-Gás, vinculado ao Ministério de Minas e Energia
- e o Cartão-Alimentação, vinculado ao Ministério da Saúde.
O Programa Bolsa-Família consistiu na unificação e ampliação desses programas preexistentes, com cadastro e administração centralizados no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Desde que foi criado por Lula, através da Lei 10.836, de 9 de janeiro de 2004, o Bolsa-Família passou de uma clientela de pouco mais de 3 milhões de famílias para cerca de 14 milhões, contingente que se estabiliza neste patamar desde 2012.
O Bolsa-Família é citado pela FAO como um dos responsáveis pela saída do Brasil do Mapa Mundial da Fome, em 2014. Outros motivos que teriam contribuído para tal, foram:
- o aumento da oferta de alimentos,
- o crescimento real de 71,5% do valor do salário mínimo,
- a geração de 21 milhões de novos empregos
- e a merenda escolar para cerca de 43 milhões de crianças e jovens brasileiros.
O resultado foi que, entre 2001 e 2014, ocorreu uma redução de aproximadamente 75% da pobreza extrema no Brasil. Veja bem, não da pobreza em geral, mas da pobreza extrema.
Além disso, na avaliação da OIT, o Bolsa-Família foi uma importante medida anticíclica no contexto da crise econômica internacional, que estimulou a economia como um todo ao fomentar a demanda de alimentos e produtos de primeira necessidade.
Paul Wolfowitz, presidente do Banco Mundial, avalizou: “o Bolsa-Família já se tornou um modelo altamente elogiado de políticas sociais. Países, ao redor do mundo, estão aprendendo lições com a experiência brasileira e estão tentando reproduzir os mesmos resultados para suas populações.”
Pois bem, em outubro de 2015, o menor valor do Bolsa-Família era de R$ 35 mensais e o valor médio do benefício era de R$ 176 mensais. Isso me faz pensar que a crise estrutural do capital só pode ser verdadeiramente grave. Como pode um país com a estrutura social brasileira, um país radicalmente desigual, com uma situação social miseravelmente extremada, servir de exemplo a ser imitado por quem quer que seja? E a coisa fica ainda mais esdrúxula na voz de um banqueiro internacional como Paul Wolfowitz.
Com a pandemia, foi aprovado o Auxílio Emergencial. O benefício, proposto por Bolsonaro no valor de R$ 200, foi majorado pelo Congresso Nacional e garantiu uma renda de R$ 600 aos brasileiros em situação vulnerável, cerca de 34,5 milhões, já que muitas atividades econômicas foram gravemente afetadas durante a pandemia da Covid-19. Isso propiciou a maior transferência de renda da história do Brasil e alavancou a popularidade de Bolsonaro. Entusiasmado com o sucesso do Auxílio Emergencial, Bolsonaro propôs o Auxílio Brasil, como “o maior programa social do mundo”.
O Auxílio Brasil reformula todos os programas sociais do Governo Federal, em especial o Bolsa-Família, com previsão de aumento no valor pago aos mais vulneráveis, famílias com renda per capita mensal de até meio salário mínimo, faixa que engloba cerca de 63 milhões de pessoas (mais ou menos 30% da população).
Além do Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa-Família com um benefício mínimo de R$ 400, e que pode totalizar um gasto de R$ 90 bilhões em 2022 (não por acaso ano eleitoral), atendendo 17 milhões de pessoas, Bolsonaro tem acenado com outras medidas para famílias inscritas no Cadastro Único, porta de acesso a benefícios sociais do governo federal. Todavia, o aumento no auxílio está atrelado à aprovação da PEC dos Precatórios, a qual autoriza o governo a parcelar o pagamento das dívidas da União com pessoas físicas, jurídicas, estados e municípios. Trata-se de um calote em dívidas que foram reconhecidas por decisões judiciais.
Penso que devemos apoiar todo aumento de gasto social. Mas devemos, por um lado, buscar os recursos necessários para isso taxando os ricos, e, por outro, ser radicais.
Ser radical é ir à raiz dos problemas. E qual é o problema do capitalismo hoje? Como aponta o sociólogo italiano Domenico De Masi, “a capacidade de produzir cada vez mais bens e serviços com cada vez menos trabalho humano” é um traço característico do capitalismo atual. Temos, em consequência, um desemprego estrutural que só tende a se agravar. Além disso, uma eventual retomada do crescimento econômico não significaria necessariamente um crescimento expressivo do emprego.
E qual é a solução? A solução é simples: a redução da jornada de trabalho sem redução salarial. O aumento de produtividade deve redundar em redução da jornada de trabalho e não em redução do número de trabalhadores empregados. A lógica é trabalhar menos para que todos trabalhem.
Está aí uma solução simples que esbarra num obstáculo complicado. Como se sabe, o capital é um valor que se valoriza com base na extração do mais-trabalho. Ora, a redução da jornada de trabalho implica redução do mais-trabalho.
Isso está relacionado à dialética da necessidade e da liberdade.
No Anti-During, Engels diz que “Hegel foi o primeiro a expor com justeza as relações da liberdade e da necessidade”. Para Hegel, segundo Engels, “a liberdade é o conhecimento da necessidade”. E “a necessidade somente é cega enquanto não é compreendida”.
Marx, por sua vez, nos Grundrisse, diz que “o reino da liberdade começa no ponto em que termina o trabalho determinado pela necessidade”. Ou, dito em outros termos, o reino da liberdade “é, pela própria natureza das coisas, exterior à esfera da produção material”.
Para Marx, “o homem civilizado tem, tal como o selvagem, que lutar contra a natureza para satisfazer as suas necessidades, tem que o fazer em todas as formas de sociedade e em todos os modos de produção possíveis; com o seu desenvolvimento, esse reino da necessidade natural e as necessidades aumentam simultaneamente: mas as forças produtivas que as satisfazem, essas alargam-se de um modo semelhante.”
Marx adverte que “neste domínio, a liberdade só pode consistir no seguinte: o homem em sociedade, os produtores associados, determinam racionalmente essa troca material com a natureza, submetem-na ao seu controle coletivo, em vez de serem por ela dominados como por um poder cego; realizam-na com os esforços tão reduzidos quanto possível, nas mais dignas condições da sua natureza humana e nas mais adequadas a essa natureza. Mas continua a subsistir um reino da necessidade”.
“É para além desse reino”, sublinha Marx, “que começa o desenvolvimento das potencialidades do homem, que é por si próprio a sua finalidade, que é o verdadeiro reino da liberdade, mas que só pode desenvolver-se apoiando-se nesse reino da necessidade. A redução do número de horas de trabalho diário é a condição fundamental”.
A guisa de conclusão, quero chamar a atenção para esta formulação marxiana: “a redução do número de horas de trabalho diário é a condição fundamental” para a ampliação do reino da liberdade.