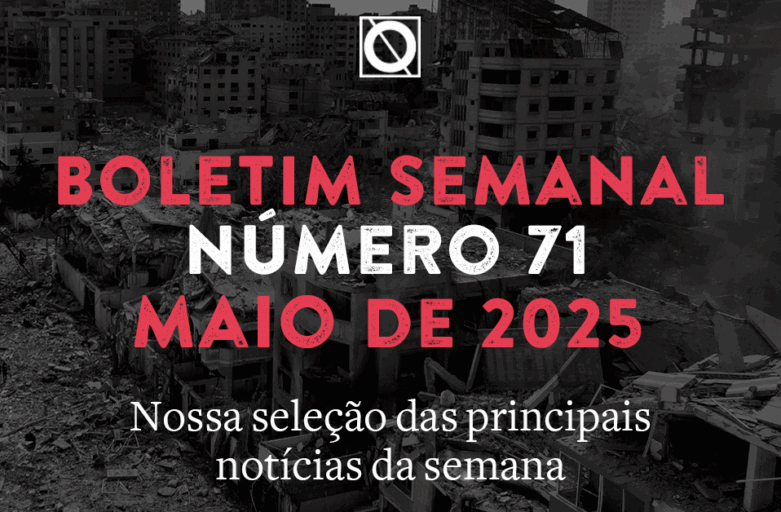Há uma voga recente de filmes catastrofistas. O fim do mundo nunca foi tão decantado em prosa, verso e posts. Nessas ficções, sempre há algo que se salva – o planeta, a família, os valores… – e sempre resta uma esperança, por mínima que seja. Para elevar o nível da comparação, é possível lembrar, por exemplo, que em 2001: Uma odisseia no espaço (2001: A Space Odyssey, E.U.A., U. K., 1968, direção de Stanley Kubrick, roteiro de Kubrick e Arthur C. Clark, 142 min.), o nada está no início e a criança aparece no fim, uma metáfora para a humanidade que transvalorou todos os valores e recomeça uma nova infância, renasce como uma nova aurora.
Já em Melancolia (Melancholia, Dinamarca; Suécia; França; Alemanha, 2011, roteiro e direção de Lars Von Trier, 136 min.), ao contrário, o nada está no fim e não há vida após a morte, a morte é o fim, até a criança morre, nada sobra, tudo é destruído. Agora, após 2 anos de uma pandemia que não dá sinais de acabar tão logo, o filme parece ganhar significado, na medida em que como poucos possibilita perguntas nada óbvias acerca da vida, da nossa civilização e mesmo a respeito da própria natureza do cinema na era da digitalização.
O argumento é simples: um planeta, o Melancolia do título, entra em rota de colisão com a Terra e todos vamos morrer. Não há o que possamos fazer, mas há os que negam, os que aceitam, os que se desesperam etc. E há a personagem principal, Justine (Kirsten Dunst), uma bem-sucedida publicitária que, no dia do próprio casamento, passa por um colapso nervoso e rompe com praticamente tudo o que até então compunha a sua vida: família, trabalho, casamento. Fim do primeiro capítulo. No segundo capítulo do filme, conhecemos melhor Claire (Charlotte Gainsbourgh), irmã de Justine, seu marido, John (Kiefer Sutherland), e o filho do casal, o pequeno Leo (Cameron Spurr). Claire é o oposto da irmã: perfeccionista, responsável, mãe, esposa. John é o financiador da festa, o provedor, o bem-sucedido. Então, acompanhamos a história de Justine, do poço profundo da depressão à recuperação, até que, no final, a vemos transformada e, é possível dizer, reconciliada com a finitude inescapável e essencial da existência.
À primeira vista, as atitudes de Justine podem parecer absurdas, mas, aos poucos, sua trajetória vai fazendo sentido. Ao pensarmos nas suas diferenças para com o noivo, o pai, a mãe, o chefe e, sobretudo, com Claire, Justine parece cada vez menos inconsequente. No início, Claire parece muito dona de si, apenas para no fim revelar-se um poço de insegurança. Seu marido, John, é um ricaço que não perde a oportunidade de ostentar seu poder econômico—ele faz questão de dizer que bancou a festa de casamento de Justine—como veremos, ele não passa de um grande covarde. Uma fala sua—“Você precisa confiar nos cientistas”—soa muito irônica hoje, por obvias razões. Partindo dessas suas palavras, é possível entender o percurso de Justine como um desafio às nossas mais civilizadas pretensões de certeza e autonomia, pois, ao sair da depressão, Justine passa então a desprezar tudo o que Claire e John mais valorizam e representam: a certeza racional; o poder econômico; a aceitação social; a propriedade privada; a família constituída etc. Também a relação de Justine com seu sobrinho é importante, já que ela se torna mais distante dos adultos à medida que cria intimidade com o garoto. Seu ultrarrealismo – “A Terra é má, não precisamos lamentar isso. Ninguém vai sentir falta dela.” – é tão mais direto e incômodo quanto mais inocente parece a criança, mais medrosa a irmã, mais desesperado o cunhado.
Assim como faziam seus antecessores escandinavos Carl Theodor Dreyer e Ingmar Bergman, Lars von Trier também escolhe mulheres para protagonizar seus filmes, com a peculiaridade de retrabalhar irônica ou perversamente os diversos gêneros hollywoodianos consagrados, como os filmes de horror—Anticristo—, as comédias—Os idiotas—ou os melodramas—como é o caso de Melancolia. Há um importante elemento de intertextualidade nesse trabalho, a começar pelo nome das personagens femininas. A protagonista de Melancolia chama-se Justine, tal qual no famoso primeiro livro publicado pelo Marquês de Sade, Os Infortúnios da Virtude, em 1791. A Justine do livro é uma garota de 12 anos que vai tentar a vida na França pré-revolucionária, em busca de trabalho, abrigo e uma vida digna. A narrativa a acompanha até os 26 e conta como ela constantemente foi vítima de bandidos e aproveitadores—de monges e freiras a magistrados e aristocratas—que a violentavam e torturavam, sem que nada disso a fizesse perder a virtude. Quem viu Dogville reconhecerá a mesma personagem retornar com diferentes nomes nos diferentes filmes de von Trier—Selma, Graça, Joe, Justine ou simplesmente Ela—e perceberá que a intertextualidade tem um aspecto metalinguístico, ou autorreferencial. Pois interpretando a si mesmo em Epidemic (Dinamarca, 1987, 66min.), von Trier afirma que um filme é como uma pedrinha no sapato, sempre tem alguma dor.
Imagem 2: divulgação. © Magnolia Pictures.
Com Melancolia é isso mesmo, há um incômodo. E que incômodo! Nada de pedrinhas ou uma dorzinha qualquer, é a morte, a destruição final e absoluta de todo o planeta, e não apenas da personagem principal, que vemos crescer na tela. Se os melodramas clássicos buscavam sensibilizar o espectador usando o artifício da identificação com a personagem principal, Melancolia coloca em questão, mais ou menos pela mesma estratégia de seguir a trajetória da protagonista, a emoção mais aterradora e intensa possível, dando desde bem cedo a nós, espectadores, a certeza inexorável da morte de toda a humanidade. Nesse sentido, o filme assume a dimensão de uma meditação sobre o nosso destino civilizacional comum, retraçando o tradicional recorte dos melodramas na intensificação das virtudes e vícios das personagens para comover os espectadores.
No cinema, a tática melodramática de estimular sensorialmente os espectadores é potencializada pela experiência imersiva. O cinema cria uma ambientação na qual nós, espectadores, somos convocados a emular, simular ou mimetizar (não estou certo quanto ao melhor verbo) as emoções e sensações que as personagens exibem na tela. Há algo de melodramático ineliminável do próprio meio. O ritmo cardíaco dos espectadores acompanha a montagem das imagens que tocam a percepção e provocam excitação sexual, suscitam medo, ansiedade, alívio, alegria ou mesmo dor e lágrimas de profunda tristeza, e assim por diante. Passamos a viver na realidade do filme, a diegese, como se diz. E, segundo a fórmula comercial, quanto mais emoções vivenciarmos, melhor o filme, quanto mais catártico o desfecho da narrativa, mais eficiente o artifício.
O cinema vive dessa manipulação dos nossos afetos e raramente somos capazes de perceber as estratégias fílmicas que causam essas reações em nós. A tentativa de controlar as reações diante de um filme nos faz perder a experiência do cinema. Pois que estátua de pedra poderia não se emocionar com a sequência do vagabundo Carlitos, o garoto e o cachorro? Que gélido coração poderia não quebrar com a morte do campeão diante do filho de 9 anos? Que impávida muralha poderia não rir com Dona Hermínia? Que ignóbil heresiarca não condenaria os atos maléficos de um Zé do Caixão? No cinema, nós vemos e experimentamos, experimentamos porque vemos e ouvimos—quem assiste a um filme se distrai de tudo o mais, como o menino que balança as pernas na cadeira, absorto pela tela, em Cinema Paradiso—, estamos ali, testemunhas da ação que se desenrola na tela, sentimos junto com as personagens, como se fôssemos outras—e o poder hipnótico das nossas telinhas digitais não autoriza responsabilizar a sala escura. Até onde tal manipulação dos afetos é legítima ou não é difícil dizer, mas é fundamental questionar o poder imersivo das imagens em movimento. Pois se dificilmente percebemos como essas reações surgem em nós, nem por isso abandonamos sem mais toda reflexão—há filmes que nos acompanham depois de acabar.
Imagem 3: Ofélia (c. 1851), óleo sobre tela de John Everett Millais, atualmente no acervo da Tate Modern, Londres.
No caso de Melancolia, as emoções que experimentamos como espectadores não encontram a catarse final. Ao contrário, o filme suscita dúvidas e perguntas para as quais não oferece repostas, sugerindo uma continuidade entre as emoções e a reflexão que perturba a nossa expectativa de apaziguamento. Por exemplo, o “capítulo 1”, dedicado ao casamento de Justine, é uma sucessão de quebras de expectativas quanto ao desfecho da narrativa—e, é bom lembrar, o filme tematiza a quebra última, cabal e definitiva, de todas as nossas expectativas, a morte absoluta. Os movimentos da câmera, rápida e nem sempre estável, “tremida”, como se costuma dizer, também funcionam nesse sentido: a perda momentânea e intencional de foco, oscilando entre a profundidade e a superfície de campo, transmite uma sensação de desorientação tal qual a que vemos as personagens experimentarem. Ao mesmo tempo, o tratamento da fotografia digital ressalta as texturas, ao passo que a diferença de temperatura da cor—predominantemente quente, no primeiro capítulo, e fria, no segundo—também é usada para mimetizar os diferentes estados de espírito da protagonista e, com isso, preparar o ânimo da plateia conforme o filme progride. Não devemos esquecer as imagens de computação gráfica—Justine com os passarinhos computadorizados caindo em câmera lenta atrás dela; os planetas em movimento, em imagens que anunciam o final do filme; as pinturas do velho Bruegel e Caravaggio, sobre as quais haveria muito o que falar, pois a de Bruegel pega fogo, também por computação gráfica. Ou mesmo a representação de Justine como a pintura da Ofélia de Hamlet por John Everett Millais (1829-1896), artista inglês do movimento dos pré-rafaelitas, aqueles que buscavam pintar no estilo de antes de Rafael, o renascentista. Na peça de Shakespeare, Ofélia tenta o suicídio jogando-se num rio e Millais assim a retrata, flutuando na água, morta, um buquê desfeito nas mãos soltas. Retratada por von Trier, porém, Justine é muito menos frágil do que a Ofélia de Millais, já desde a imagem de divulgação do filme. Vestida de noiva, sim, flutuando como Ofélia no rio, sim, mas segurando firmemente o buquê nas mãos, Justine nos fita diretamente e não deixa dúvidas de que está viva, muito bem viva, obrigado, e consciente de que estamos ali, a olhá-la. Todos esses elementos favorecem o nosso desconforto—estamos e não estamos no filme; sentimos, mas também pensamos porque sentimos; fundamentalmente, perguntamos—onde vamos parar com tudo isso? No filme, em lugar algum. Justine e todos os demais são aniquilados pelo planeta chamado Melancolia. E que melancolia, não?
Imagem 4: divulgação. © Magnolia Pictures.
Melancolia? A julgar pelo que vemos, somos obrigados a dar razão a Justine, ninguém sentiria falta se sobrevivesse. No entanto, uma coisa é saber que vamos morrer e outra bem diferente é ver a morte se aproximar e não poder fazer nada a respeito. Como viveremos até o momento fatal? Como a vida nesse período “anormal” de espera vai se relacionar com a vida do tempo “normal”? Aliás, não há volta no tempo, a vida segue em frente, mas na frente só há a morte. Pouco alentador, não? Pois é, mas é isso mesmo.
O destino da família burguesa representada no filme, Claire, John e o pequeno Leo, não permite ilusões. Leo é a criança que vive no mundo da inocência, da imaginação e da brincadeira, mas não tem coleguinhas. John tenta alfabetizá-lo no mundo da astronomia, a disciplina dos nobres e aristocratas, de Cícero a Leopardo de Lampedusa. Claire, por sua vez, é a mais realista dos três, embora, ao contrário do que sugere seu nome, tenha verdadeiramente pouca clareza de pensamento. John tampouco, pois vemos que ele é um negacionista hipócrita que estoca água e combustível às escondidas, um cínico, um mitômano que varre os fatos para debaixo do tapete tentando “salvar as aparências”. No fim das contas, sua racionalidade fingida pouco lhe vale, o que mostra que ele nunca suportou a realidade—o isolamento em uma mansão distante é só mais um sinal de sua aversão ao mundo.
É Justine, então, a única realmente esclarecida, aquela que já se libertou das ilusões que a aprisionavam. Por mais que pareça insana aos olhos da irmã e do cunhado, a clarividência de Justine revela a vacuidade do discurso defendido por John, o discurso oficial que invoca a ciência para tapar o sol—o gigantesco planeta, no caso—com uma peneira, e da falta de objetividade de Claire, incapaz sequer de entender as próprias neuroses. Justine, ao contrário, não finge crer e não mente para Claire quando diz que sabe. Ao ouvir Justine dizer que sabe que a garrafa na festa de casamento continha 678 feijões, Claire desdenha: “Ah, sim, você sempre imaginou que sabia das coisas. E, se for verdade, o que isso prova?”. Justine não cede e reafirma: “Só prova que eu sei das coisas. E quando digo que estamos sós, estamos sós. A vida é só sobre a terra e não por muito tempo.” Claire, aflita com o futuro do pequeno Leo, não consegue planejar nada direito. Não pode contar com o provedor; tenta fugir, mas o carro falha; os empregados já a abandonaram há muito; todo o seu pequeno mundinho desmoronou e em breve o mundo todo será destruído. Justine, ao contrário, parece uma Cassandra, a personagem da mitologia grega cujo destino é falar a verdade e não ser ouvida por ser julgada delirante. No entanto, a lucidez desesperançada de Justine parece dotá-la de um conhecimento quase místico do destino, como seu saber dos feijões sugere.
Imagem 5: divulgação. © Magnolia Pictures.
Ora, se comparado a praticamente todos os blockbusters catastrofistas, é possível ver em Melancolia certo desdém pela ciência e pela tecnologia, algo que parece contraditório com a própria natureza do cinema, arte tecnológica por excelência. A imagem de uma vareta com um arame na ponta, para uma criança brincar, reduz a ciência e a tecnologia ao seu essencial: um exercício de imaginação e observação que a brutal dureza dos fatos, aliás, reduz a muito pouco; melhor, a realmente nada. Diante do apocalipse, toda a parafernália tecnológica não servirá para nada. Muito menos as histórias da carochinha contadas pelo cinema de efeitos especiais que domina o mercado.
Com efeito, a tecnociência é só mais uma instituição social cujo valor é posto em cheque por Justine, e sempre com alguma agressividade. Justine talvez pareça insanamente irresponsável, mas são Claire e John que continuam a agir como os músicos do Titanic, pois quando o mundo deles virou de ponta-cabeça, foi ela, a louca, a pária social, quem afinal se mostrou preparada para enfrentar a adversidade inexorável e derradeira—Justine consegue acalmar o pequeno Leo e imaginar um enredo criativo, livre de desespero e talvez com alguma esperança, ainda que inútil.
Se não é rara a ideia de que veneno é remédio, tampouco é um truísmo. Em Dogville, a filosofia do estoicismo comparecia para dar um tom sarcástico à destruição das aparências. Em Melancolia, o estoicismo não é citado, mas pode ser convocado a contribuir com o que os romanos antigos chamavam de premeditação dos males, a antecipação imaginária da perda que poderia fazer às pessoas repensarem as suas atitudes no presente. Ao contrário da autoajuda contemporânea, essa premeditação estoica nada tem que ver com os discursos de superação que nada superam e apenas inculcam nas pessoas a ideologia da adequação individual a uma sociedade injusta, tendo em vista uma prosperidade financeira muito mais incerta que o endividamento. Longe disso, o estoicismo visava o autoconhecimento pela via do enfrentamento de si e do reconhecimento de que cada um faz parte de um universo que ultrapassa em muito os limites das nossas preocupações mesquinhas. A premeditação dos males tem a ver com isso: se o mundo que conhecemos deixar de existir, como agiremos? Como devemos agir hoje, aqui e agora, diante da possibilidade da morte? Eis a consciência que sobra a Justine e falta a Claire e John. Os limites da mansão kitsch ou, reconheçamos, algo brega, em que Justine está isolada com sua irmã, seu cunhado, seu sobrinho e os cavalos que não passam ao outro lado da ponte são mesmo bem estreitos, ainda que pareçam muito maiores que os das habitações da maior parte da humanidade. É só nesse mundo fechado que a obsessão de Claire por perfeição e a racionalidade burguesa econômica de John fazem sentido—mas não fazem, sabe Justine, como também o sabia Gaby (Charlotte Rampling), a sua implacável mãe (como todas as mães). Justine não é amarga como Gaby e, talvez cansada de tanta leviandade e amargura, ela pratica o único ato de generosidade sincera em resposta ao único desejo inocente que sobrevive durante todo o filme, a construção da cabana mágica para seu sobrinho.
Imagem 6: divulgação. © Magnolia Pictures.
Por isso, não consigo ver niilismo na atitude de Justine, mesmo com todo o vácuo em seu desejo. O discernimento impassível por ela demonstrado, sem qualquer sinal de autoindulgência, pode fazê-la parecer fria e desumana, mas todas as utopias baseiam-se nessa mesma lógica: para que um mundo melhor surja, o velho tem de morrer—e não morrerá na paz e tranquilidade dos justos. A melancolia e o niilismo, então, não podem ser só de Justine, mas principalmente de quem, como Claire e John, se apega ao modo de vida inútil e frívolo de uma civilização morta antes de morrer, inconsequente e dada a mistificações. Pode parecer terrível, mas esse é o significado do infanticídio: tudo tem que acabar, o presente precisa ser interrompido, nem um laivo de conformidade, nem um fio sequer de continuidade com o velho pode ser poupado. Podemos imaginar que o universo continuará após nossa morte, mas não há imaginação que salve o que teima em pertencer à velha ordem.
Cordiais saudações e que 2022 seja mesmo novo.