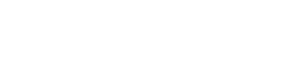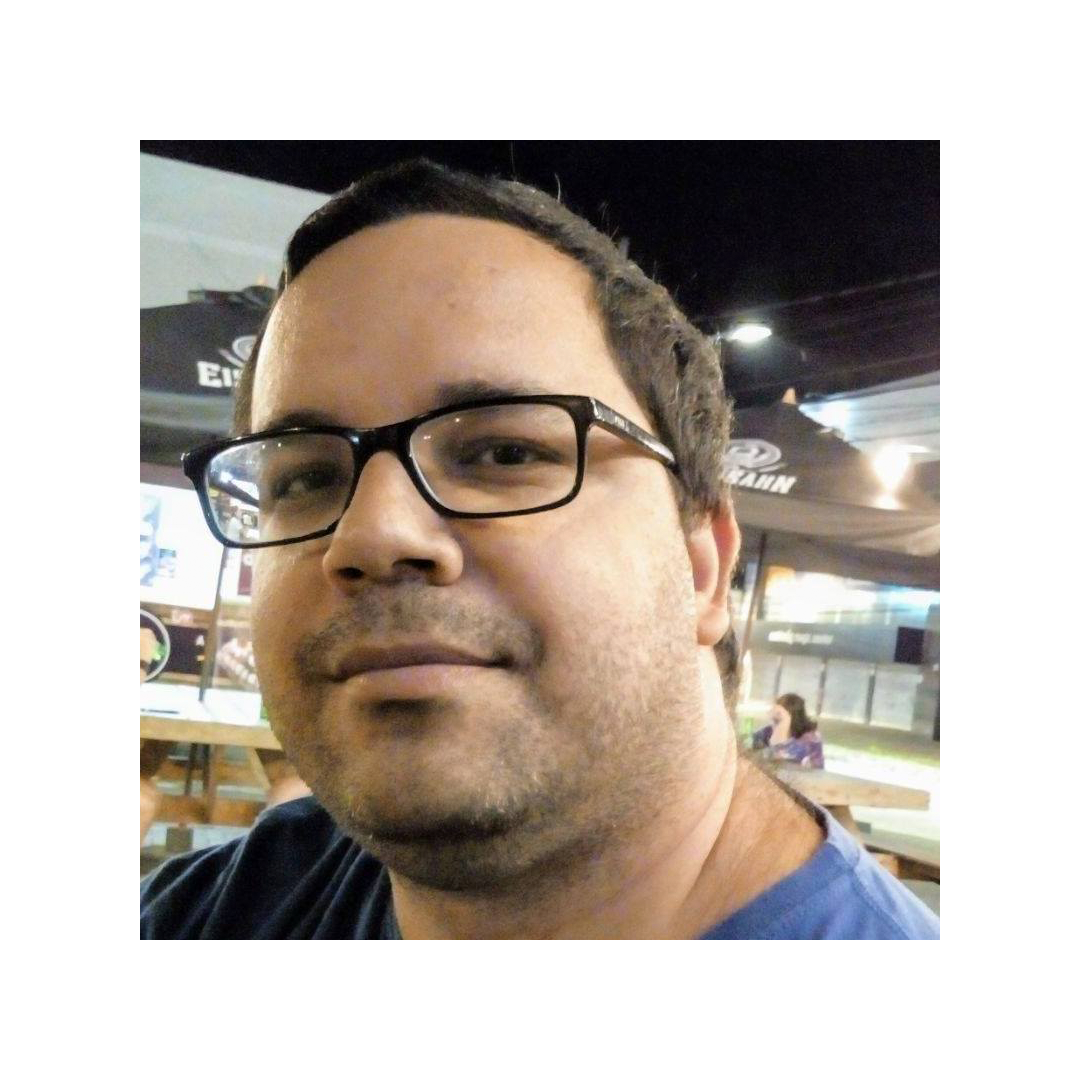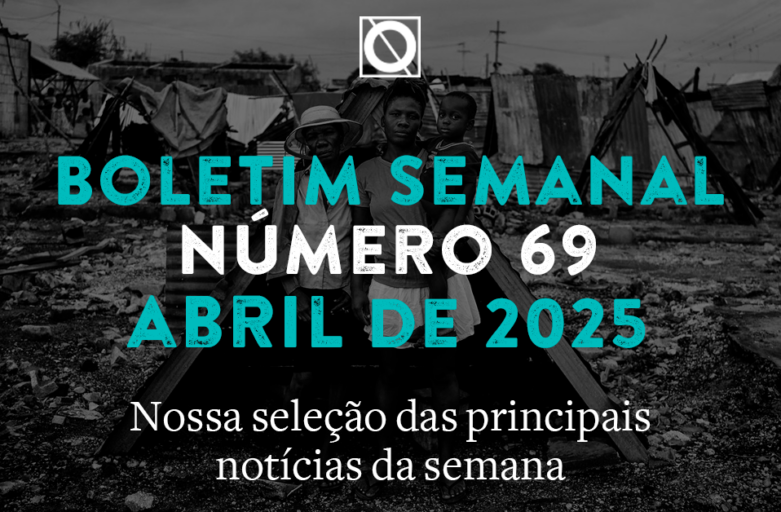Desde a intentona bolsonarista de 8 de janeiro de 2023, se discute a possibilidade de anistia da turba que depredou prédios dos três poderes em Brasília. Esse debate se acirrou ainda mais depois que foram reveladas as intenções golpistas e tentativas de articulação promovidas pelo então presidente Jair Bolsonaro. Esse processo acabou desembocando na hipócrita defesa da democracia e dos direitos humanos por parte de apoiadores do ex-presidente e a reivindicação de anistia para os envolvidos na tentativa golpistas.
Esse debate coloca em questão a reflexão sobre como esse processo tem relação com a anistia de 1979 e a postura conciliadora com os criminosos da ditadura. Deve-se refletir, em particular, sobre como as instituições da democracia burguesa foram coniventes com a impunidade aos militares que lideraram o golpe de 1964 e sustentaram com repressão e violência o regime ditatorial. Essa impunidade reflete no debate em torno da recente intentona. Entre os 34 acusados da tentativa de golpe bolsonarista, 24 são militares, dos quais muitos com carreira militar iniciada durante a ditadura.1 Esses militares tiveram sua formação em meio aos embates ideológicos contra a suposta ameaça comunista e, ainda jovens, foram cúmplices das instituições que perseguiram e assassinaram os opositores da ditadura.
Esses elementos se entrecruzam com as contradições da Lei de Anistia. Promulgada em 1979, a lei deveria permitir o fim da perseguição política contra os militantes da resistência contra a ditadura. Essa era uma reivindicação daqueles que combateram a ditadura e foram perseguidos pelo regime repressivo. Contudo, a lei aprovada não contemplou a totalidade das reivindicações dos movimentos de resistência à ditadura, que deveria passar por uma anistia ampla, geral e irrestrita. No processo de sua aprovação,
“[…] antes mesmo de anunciar o projeto de lei que versaria sobre a anistia, o governo militar – especialmente os idealizadores do ato, Petrônio Portela e Figueiredo – já havia definido que teria ela um caráter restrito, eis que seriam excluídos todos aqueles que estavam sendo condenados por delitos comuns – como o assalto a banco e crimes de sangue – e por atos de terrorismo. Na verdade, a proposta do governo militar previa a anistia somente para os crimes considerados políticos, que, portanto, vinham definidos na Lei de Segurança Nacional”.2
Os limites da abrangência da Lei de Anistia foram apresentados pelo próprio Figueiredo. O então presidente informou publicamente que nem todos seriam anistiados, sendo excluídos “os condenados pela Justiça Militar, em razão de prática e crime de terrorismo – assalto, sequestro e atentado pessoal”.3 Desde sua primeira versão, a lei se mostrava restrita, sofrendo outras modificações em sua tramitação, sendo aprovado um projeto “que concede anistia ampla, porém restrita”.4
Contudo, esse não era o único problema dessa lei. Segundo a interpretação da Lei da Anistia difundida pelos militares, o uso da expressão “crime conexo” em sua redação abarcaria também os crimes praticados pelos agentes estatais de repressão. Com isso, veiculou-se a interpretação de que essa lei também perdoaria os “crimes políticos” daqueles que perseguiram, torturaram e assassinaram trabalhadores e estudantes. Conforme foi aprovada, o texto da nova lei garantiu “a brecha da qual os militares e os civis ligados à repressão necessitavam para que seus atos excessivos e/ou arbitrários tivessem o benefício do esquecimento”.5 Essa interpretação é totalmente distorcida e equivocada, afinal
“[…] as atitudes praticadas pelos setores militares ligados à repressão – evidenciadas, sobretudo, na existência de torturas – não foram conexas aos crimes políticos (praticados pelos opositores do regime militar), eis que com estes não possuíam qualquer relação causal teleológica, consequencial ou mesmo ocasional. Aliás, os crimes políticos, formalmente passíveis de anistia são aqueles cometidos contra o status quo vigente. Tanto isso é certo que até mesmo os militares ou agentes civis que se engajaram contra o regime e por isso foram demitidos ou aposentados compulsoriamente receberam o beneplácito da anistia de 1979”.6
Portanto, ao final da ditadura, por meio de uma interpretação deturpada de uma lei bastante limitada, aqueles que perseguiram, torturaram e assassinaram os opositores ao regime não foram responsabilizados pelos seus crimes. Essas contradições são parte do processo de transição, marcado também por outras disputas e tensões. O processo de transição “não foi produto exclusivo das inciativas do governo militar e das diversas frações do bloco no poder”, mas também “da interação entre os diversos agentes políticos e sociais”.7 Nesse sentido, a chamada “transição democrática” acabou sendo um processo que deu origem a uma “democracia forte”, entendida como
“[…] uma variedade de república burguesa na qual a vigência de mecanismos específicos de segurança em favor dos estratos estratégicos das classes capitalistas não adquira muita saliência e tais mecanismos possam ser concentrados em certas funções do Estado, sem que assuma o caráter explícito de ditadura e seja combatido como tal”.8
Embora governantes civis tenham assumido a presidência do país, por meio do voto da população, o regime político constituído a partir da transição lenta e gradual permanece com a mesma composição de classes da ditadura. Não se deve esquecer que o Estado no regime capitalista é “uma máquina especialmente destinada ao esmagamento de uma classe por outra, da maioria pela minoria”.9 Depois da transição da ditadura, o controle das instituições do Estado continuou nas mãos dos diferentes grupos burgueses, geralmente associados ao capital externo, que seguem definindo as ações e os rumos dos governos que vêm sendo eleitos nesses últimos anos.
Embora se tenha constituído um regime político com aparência democráticas, a própria permanência da estrutura econômica criou atritos, que colocaram para o Estado a necessidade de defender a propriedade privada, caso essa pudesse estar ameaçada por forças sociais e políticas consideradas subversivas e perigosas. Nesse regime, as liberdades democráticas são apenas concessões, que podem ser permanentes ou temporárias, a depender de sua interferência nos interesses das classes dominantes. No processo de transição,
“[…] a institucionalidade autoritária exerceu a função de domesticação do conflito político, amortecendo as contradições sociais que dividiam a sociedade de alto a baixo através da relativa imunização da arena da disputa política diante delas. Esta, por sua vez, adquiria progressiva capilaridade e permeabilidade diante dos diversos interesses presentes no bloco no poder, limitando-se ao seu horizonte histórico e impedindo que suas contradições internas explodissem numa crise de hegemonia de consequências imprevisíveis para o caráter autocrático do Estado e do padrão de transformação capitalista”.10
Um dos elementos mais evidentes dessa forma de “democracia forte” possivelmente passa pela participação de antigos membros de governos da ditadura e de militares na vida política nacional. Mesmo depois do término formal da ditadura, foi possível observar que importantes figuras que atuaram em governos da ditadura influenciaram, direta ou indiretamente, em diferentes níveis da política brasileira, sendo possível apontar nomes como José Sarney, Delfin Neto, Antonio Carlos Magalhães, Jorge Bornhausen, Espiridião Amin, Jarbas Passarinho, entre outros. Os militares também mantiveram sua influência. Mesmo depois da eleição de um civil como presidente da República, os militares continuaram a ocupar espaços na vida política do país. Quando não estavam em cargos de governos, continuaram a exercer influência sobre o Poder Executivo.11
Os militares procuraram constituir uma situação de equilíbrio, onde não atuavam diretamente no processo político, mas estavam numa espécie de prontidão caso houvesse uma situação política que entendessem ser necessária sua intervenção. Essa pode ser chamada de uma situação de tutela, que “corresponde a uma manifestação específica do papel militar na preservação da ordem social num momento em que a corporação castrense não se encontra no exercício do poder de Estado, sem, no entanto, haver perdido a importância orgânica no conjunto dos órgãos do Estado”.12 No processo de transição, “os militares foram perdendo a direção política do bloco de poder para os partidos da ordem”, mas foram capazes de manter o aparato repressivo e de informações ampliado e em suas mãos e sua designação constitucional como guardiões da lei e da ordem”.13 Por meio de um pacto tácito, os militares não promoveriam intervenções com uso de força ou mesmo golpes de Estado, desde que os governos civis garantissem sua autonomia e os interesses da burguesia permanecessem intocados.
Esse pacto entre civis e militares, que resulta num Estado com práticas autoritárias e liberdades democráticas restritas, foi perceptível na polêmica em torno da punição dos agentes repressivos da ditadura. Uma parcela da sociedade, entre os quais jornais como a Folha de São Paulo e organizações políticas como o Clube Militar, procurou proteger os torturadores do passado, afirmando que as investigações e eventuais punições seriam uma postura de revanchismo. Os militares faziam ameaças de revogação da Lei de Anistia e de punição dos militantes da resistência à ditadura, chantageando inclusive aqueles que se dispuseram a participar do pacto de silêncio e tiveram a oportunidade de ocupar espaços nas instituições democráticas.
Contudo, esse pacto produzido pelo contraditório processo de transição ruiu diante da crise econômica e das tensões da luta de classes em âmbito internacional e nacional. O consenso constituído em torno do apoio às instituições da Nova República faliu, tendo como marco simbólico o ano de 2013. Na conjuntura aberta naquele contexto, colocou-se para as diferentes forças políticas e econômicas a necessidade de estruturar uma nova forma de dominação por meio do Estado. O uso da frente popular, como mecanismo para amortecer a ação independente dos trabalhadores contra a exploração, sucedendo governos cuja forma burguesa era mais evidente, também se mostrou desgastado e vinha perdendo sua função de contenção dos embates da luta de classes. No bojo da crise das instituições da Nova República, inclusive os partidos, como o PFL, o PSDB e o PT, vinham passando por processos de tensão e mesmo desagregação.
Uma saída que se apresentou foi o bonapartismo, que se caracteriza pela tentativa de um governante ou mesmo de uma instituição do Estado de se mostrar acima das disputas entre as diferentes classes. Esse governo aparece “como um juiz-árbitro entre dois bandos em luta”.14 Nesse quadro, marcado pela crise das principais organizações dos trabalhadores, a opção pela interrupção da normalidade democrática mostrou-se necessária para a burguesia, levando a um governo cujas ações deveriam fundamentalmente passar pela tentativa de superar a crise econômica e institucional por meio da coerção e da repressão. Contudo, essa tentativa de bonapartismo se viu frustrada, na medida em que os diferentes poderes do Estado continuaram em permanente atrito diante do agravamento da crise econômica e social.
Esse é o processo que desembocou na intentona bolsonarista, depois que o antigo presidente se mostrou incapaz de encabeçar uma alternativa bonapartista e, diante da iminência de perda do controle do governo, mobilizou contra as instituições sua turba de descontentes. Esse processo tem relação com os limites da transição “lenta e gradual”, que não permitiu a derrubada das instituições da ditadura, mas apenas sua reconfiguração. Na transição, figuras que conspiraram contra as próprias instituições burguesas foram acobertadas pelo regime democrático que se constituiu, ignorando suas ameaças e sua postura de não aceitar o pacto que se configurou no novo regime. Se, de forma geral, os militares se vieram em prontidão diante de qualquer possibilidade de ameaça, no interior das Forças Armadas também um grupo de ressentidos sobre a suposta vitória da esquerda na transição da ditadura não deixava de propagar seu discurso demagógico e mobilizava sua turba de descontentes, falando inclusive que teria havido uma vitória da esquerda ou outras coisas fora da realidade. Em entrevista realizada no ano 2000, o Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, assassino da ditadura idolatrado por Bolsonaro, dizia que “em 1964, fomos vencedores quando impedimos que, na marra, fosse implantada uma república sindicalista de cunho marxista-leninista”.15 Contudo, segundo Ustra, depois dessa primeira vitória,
“[…] infelizmente perdemos uma batalha muito significativa – a comunicação de massa. Os vencidos distorcem os fatos e enganam o povo, principalmente os jovens. Querem, através da mentira, escrever a história com a sua versão e vão conseguir o seu objetivo. Há uma certa covardia em contar a verdade às novas gerações”.16
Essas mentiras, difundidas por Ustra e outros defensores da ditadura, durante a permanência de Bolsonaro no poder, chegaram a ser ditas por membros de governos em discursos oficiais, assim como por parlamentares em diferentes momentos. Contudo, a propagação dessa podridão retórica não se deu por acaso. Esse processo tem bases materiais concretas, que passam pela crise das instituições da Nova República, que escancarou tanto a fragilidade do pacto da transição limitada como o papel da esquerda como cúmplice na manutenção da institucionalidade burguesa.
Em 2013, uma parcela da sociedade, em especial da classe média, se mostrava disposta a se mobilizar de forma massiva, diante da insatisfação que vivenciavam em seu cotidiano. O processo de mobilizações mostrou que as organizações tradicionais da esquerda não tinham mais condições de influenciar ou mesmo de dirigir as ações dos movimentos sociais organizados. Os anos em cargos no Estado pareciam ter feito a esquerda desaprender a dirigir e organizar os trabalhadores e a juventude, deixando as mobilizações sem uma direção que apontasse para a derrubada das instituições burguesas. Por outro lado, não havia condições de construir no calor do momento uma nova direção de massas que herdasse a base social do PT e apontasse para a estratégia de transformação da sociedade. Por meio da “chantagem do mal menor”, o PT e seus aliados haviam permitido que se chegasse a uma situação de “retrocesso em termos de mobilização e organização para o movimento social das classes trabalhadoras”.17
Não houve a construção de uma nova direção política de massa dos trabalhadores, em grande medida pelo fato de que as esquerdas não conseguiram abandonar o projeto estratégico do PT, que se sustentava na defesa das instituições construídas pela Nova República. Essa democracia se mostrou falida e, depois de 2013, a população não teve qualquer interesse em defendê-la, querendo uma mudança que, na ausência de uma estratégia de luta pelo socialismo, não tinha ideia de como seria. Com a ausência de uma direção de massas que apontasse no sentido do socialismo, setores da direita tomaram o controle da indignação popular, expressando de forma distorcida a insatisfação contra as instituições. Ganhou força a pauta da corrupção, que, a despeito de sua pertinência, nada mais foi do que um mecanismo para perseguir a esquerda por meio de processos jurídicos ou de denúncias vazias sobre supostas infiltrações ideológicas. Esse processo redundou na manobra jurídico-parlamentar para derrubar a presidente Dilma Rousseff e, depois, na eleição de um aventureiro demagogo como Jair Bolsonaro.
No contexto de 2013, se observou, por parte de Dilma, o aprofundamento de acordos com setores conservadores, que viriam a ganhar mais espaço no seu segundo mandato. Por parte da burguesia e seus representantes, viu-se progressivamente a aplicação de medidas de austeridade, que passavam por ataques contra os direitos de trabalhadores e da juventude. Paralelamente ao desenvolvimento dessa agenda de ataques, que foi progressivamente aprofundado nos mandatos de Dilma, Temer e Bolsonaro, se observou o crescimento do conservadorismo como ideologia na sociedade e o combate aos espaços de participação popular.
O processo que se observa atualmente, com o bolsonarismo defendendo a anistia dos criminosos que participaram da intentona golpista, se dá sobre os escombros das destroçadas instituições da Nova República. O bolsonarismo, por um lado, se coloca como crítico dessas intuições, na medida em que elas teriam sido condescendentes com os subversivos “comunistas” e, por isso, teriam se tornado corruptas e ineficazes para garantir a estabilidade política e social. Por sua vez, a esquerda ainda tem a pretensão de salvar essas instituições, na defesa de sua própria existência como representante dessa ordem que há anos vem ruindo. Os trabalhadores se veem em meio a uma retórica vazia de um lado e de outro, sem uma direção política de massas que seja capaz de apontar para uma estratégia de transformação da sociedade e sem que a esquerda aponte para a superação da ordem dominada pela burguesia.
Este texto não passou pela revisão ortográfica da equipe do Contrapoder.
Referências
- GIELOW, Igor. “Ditadura formou geração de militares que hoje povoam governo Bolsonaro”, Folha de São Paulo, 2020, https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/06/ditadura-formou-geracao-de-militares-que-hoje-povoam-governo-bolsonaro.shtml
- PRADO, Larissa Brizola Brito. Estado democrático e políticas de reparação no Brasil: tortura, desaparecimentos e mortes no regime militar. Universidade Estadual de Campinas, Dissertação (Mestrado em Ciência Política), Campinas, 2004, p. 54.
- O ESTADO. Anistia exclui os terroristas e corruptos. Figueiredo considera um projeto para a época atual. O Estado, Florianópolis, 29 de junho de 1979, nº 19448, ano 65, p. 02.
- O ESTADO. Em sessão tumultuada, o Congresso aprova anistia ampla, mas restrita. O Estado, Florianópolis, 23 de agosto de 1979, nº 19496, ano 65, p. 02.
- PRADO, Larissa Brizola Brito. Estado democrático e políticas de reparação no Brasil: tortura, desaparecimentos e mortes no regime militar. Universidade Estadual de Campinas, Dissertação (Mestrado em Ciência Política), Campinas, 2004, p. 61.
- PRADO, Larissa Brizola Brito. Estado democrático e políticas de reparação no Brasil: tortura, desaparecimentos e mortes no regime militar. Universidade Estadual de Campinas, Dissertação (Mestrado em Ciência Política), Campinas, 2004, p. 63-4.
- MACIEL, David. A argamassa da ordem: da Ditadura Militar à Nova República (1974-1985). São Paulo: Xamã, 2004, p. 25.
- FERNANDES, Florestan. A ditadura em questão. 2ª ed. São Paulo: T. A. Queiroz, 1982, p. 10.
- LÊNIN, Vladímir. O Estado e a revolução. São Paulo: Boitempo, 2017, p. 115-6.
- MACIEL, David. A argamassa da ordem: da Ditadura Militar à Nova República (1974-1985). São Paulo: Xamã, 2004, p. 323.
- SCHMIDT, Flávia de Holanda. “Presença de militares em cargos e funções comissionadas do Executivo Federal”, IPEA, 2022, https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/11211/1/NT_Presenca_de_militares_Publicacao_Preliminar.pdf
- OLIVEIRA, Eliézer Rizzo de. Militares: pensamento e ação política. Campinas, SP: Papirus, 1987, p. 61.
- MACIEL, David. Notas sobre a dominação burguesa no Brasil durante a ditadura militar e seu legado (1964-1985). In: Marcelo Badaró Mattos. (Org.). Estado e formas de dominação no Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro: Consequência, 2017, p. 117.
- TROTSKY, Leon. Bonapartismo y fascismo. In: Escritos (1934-35), t. VI, vol. 1. Bogotá: Pluma, 1976, p. 84.
- MOTTA, Aricildes de Moraes (Coord.). 1964 – 31 de março: o movimento revolucionário e sua história. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 2003, t. 5, p. 234.
- MOTTA, Aricildes de Moraes (Coord.). 1964 – 31 de março: o movimento revolucionário e sua história. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 2003, t. 5, p. 234.
- MACIEL, David. Notas sobre a dominação burguesa no Brasil durante a ditadura militar e seu legado (1964-1985). In: Marcelo Badaró Mattos. (Org.). Estado e formas de dominação no Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro: Consequência, 2017, p. 121.