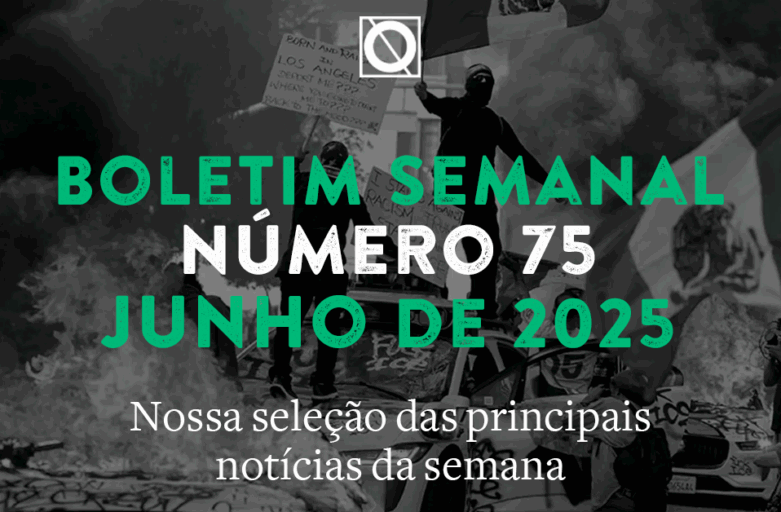Um sujeito alto, bem-humorado, talentoso e criativo – não há palavras melhores para definir o cineasta francês Jacques Tati, autor de poucos, mas incontornáveis filmes que são contribuições de alto nível para a história do cinema mundial. Além de artista refinado, Tati também foi um crítico arguto da “americanização” da França, expressando sua crítica ao imperialismo em algumas das mais importantes obras que realizou. É disso que trata este pequeno texto.
Nascido em outubro de 1907, Tati foi, na juventude, tanto um desportista quanto um mímico de sucesso. Depois de uma temporada apresentando-se nos palcos de Londres, assinou contrato com a ABC Théâtre, trabalhando aí até a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Engajado nas forças militares francesas, participou da Batalha da França, que foi a tentativa de conter a invasão nazista de seu país. Tati lutou na frente de batalha na região das Ardenas, cenário em que o exército francês estava mais fragilizado e, por isso, mais duramente acossado pelas forças de Hitler. Após a derrota e a desmobilização das forças francesas, Tati retomou ao seu ofício de artista em Paris, logo depois de seu governo ter declarado, covardemente, que Paris era uma “cidade aberta” aos alemães.
Depois de atuar em alguns filmes de curta e longa durações, Jacques Tati tornou-se também cineasta, estreando seu primeiro longa-metragem, O Carrossel da Esperança (Jour de fête), em 1948. Teimoso, perfeccionista e exigente, Tati realizou apenas seis longas em cerca de trinta anos de carreira. São poucas obras, mas todas obras-primas. Em boa parte delas sobressai uma longa reflexão acerca da sempre crescente influência dos EUA sobre a França e toda a Europa ocidental, por meio do Plano Marshall, o conjunto de medidas adotadas pelos Estados Unidos que fez da reconstrução do Velho Continente um dos mais bem-sucedidos expedientes do imperialismo.
O Plano Marshall não se restringiu à ajuda financeira para a reconstrução dos países europeus que o integraram. Também fez parte do Plano o deliberado crescimento da influência cultural estadunidense, constituindo uma espécie de integração assimétrica de valores e representações que hoje, podemos dizer, plasmam-se na ideia de “cultura ocidental”, tão em voga na atual disputa entre OTAN e Rússia. O filósofo Henri Lefebvre abordou a questão em diversos ensaios, dentre os quais destacamos o livro A Vida Cotidiana no Mundo Moderno, publicado pela primeira vez em 1968, em que ele destaca o que chamou de cotidiano, categoria que sintetiza a culturalização de diversas nações pelos EUA. Uma culturalização que não diz respeito apenas à construção de um novo campo de representações, mas também à total readequação dos sentidos e significados de toda a sociedade para ajustá-los a novos padrões de consumo, atendendo aos interesses da reprodução do capital, após a Segunda Guerra Mundial. Mais ainda, para o filósofo, os novos padrões de consumo impostos pelo capitalismo pós-1945 são mais agressivos que aqueles anteriores ao conflito, pois se trata não mais apenas de invadir a vida social com mercadorias necessárias ou não, mas também de reorganizar a vida social em todas as suas instâncias em favor da troca de mercadorias, ou seja, não mais se ajustam as mercadorias às relações sociais, mas sim as relações sociais às mercadorias. Assim, Lefebvre opõe vida cotidiana (que é a experiência humana da própria existência, em que o elemento criativo faz parte do dia a dia) a cotidiano, a reorganização da vida social em função dos interesses da reprodução e troca de mercadorias. E, dessa forma, a comida caseira é trocada por toda sorte de enlatados e semiprontos, automóveis são consumidos e trafegam incessantemente, formando uma verdadeira “cultura do automóvel”, a moda passa a determinar os gostos e o cinema estadunidense influencia os comportamentos dos jovens, levando-os a se vestir com as mesmas calças jeans e jaquetas de couro. Todos passam a se parecer uns com os outros, a comer os mesmos sanduíches acompanhados pelos mesmos refrigerantes e a sofrer os mesmos sentimentos.
Feita essa pequena digressão teórica, tomemos três dos filmes de Tati que constituem uma bem-humorada e sensível crítica à crescente influência cultural estadunidense sobre a sociedade francesa, enquanto uma França idealizada deixava de existir. Os filmes são Carrossel da Esperança (Jour de Fête, 1949) Meu Tio (Mon Oncle, 1958) e PlayTime (1967). A França que Tati defende nos filmes é formada por pessoas simples, que vivem em pequenos vilarejos e comungando de uma vida coletiva e solidária. Gente que conversa muito e fala alto, bebe vinho em alegres balcões de bares, toma café em mesas nas calçadas e convive em família. Não podemos perder de vista que o primeiro desses filmes foi realizado apenas quatro anos após a libertação da França pelas forças aliadas. Os franceses assistiram, ainda no início do conflito, seu exército ser esfacelado pela blitzkrieg nazista e fugir para o Reino Unido pela Baia de Dunquerque. Acompanharam também o apelo feito pelo general De Gaule, que estava refugiado no Reino Unido, conclamando seus cidadãos a lutar contra o invasor, e viram, por fim, o desembarque das forças aliadas em suas praias, para dar combate e vencer as forças militares alemãs. Mas os franceses não apenas assistiram ao conflito: embora parte de sua população, incluindo os governantes, tenha sido simpática à ocupação nazista, o que provocou e ainda provoca muitos debates, outros cidadãos, sobretudo os comunistas, engajaram-se corajosamente na luta de resistência. Assim, quando põe na tela os riscos que a França corre ante a influência cultural estadunidense, ele o faz, de alguma forma, como um resistente ainda defendendo a soberania de sua pátria, lutando não mais contra os nazistas, já vencidos, mas contra os novos invasores imperialistas. E o faz desvendando ao público como essa influência se imiscui na vida cotidiana francesa, convertendo-a sorrateiramente em cotidiano, nos termos de Lefebvre.
Se tomarmos três dos mais significativos filmes de Tati que se debruçam sobre o tema, veremos que ele não apenas faz o alerta, mas também registra o estado mas também registra os diferentes momentos do processo de invasão e conquista da cultura estadunidense. E, por isso, no conjunto, as obras tornaram-se uma única narrativa visual e poética desse triste processo.
Em Carrossel da Esperança, Tati interpreta o carteiro François, que mora e trabalha em uma pequena vila, percorrendo em sua bicicleta as estreitas ruas e a área rural em seu entorno para entregar cartas e pacotes. No caminho, muitas paradas para conversar, beber com os amigos e ajudar as pessoas em suas tarefas diárias. Mas, em um dia especial de festa, a prefeitura contrata os serviços de dois malandros que têm um carrossel de aluguel e outros divertimentos. Os malandros chegam à cidade com seu caminhão e montam tanto o brinquedo quanto as barracas de divertimentos, mudando assim o dia a dia da vila. Uma das barracas, em particular, mexe muito com o pobre François: nela, é exibido um filme de propaganda dos serviços postais dos Estados Unidos. A propaganda mostra como os carteiros estadunidenses são arrojados, cruzam o país em motos e aviões, saltam de paraquedas e dispõem de equipamentos diversos capazes de processar e despachar um volume descomunal de correspondências. Querendo divertir-se às custas de François, os malandros o convencem de que ele deveria ser como os “carteiros americanos”. Impactado pelo filme e querendo ser como os estadunidenses, François começa a entregar cartas em um ritmo alucinado, improvisa mecanismos e procedimentos e tenta ser funcional como um “carteiro americano”.
Já em Meu Tio, Jacques Tati traz à tela seu personagem Senhor Hulot, que mora em um bairro distante da cidade, onde as pessoas têm uma forma de vida comunitária e próxima. Nesse bairro, as crianças caminham em bando livremente pelas ruas e barrancos fazendo suas traquinagens, as pessoas caminham e se encontram, conversam e se ajudam, compram nos pequenos comércios e nos mascates de rua. É, no fundo, a mesma vila do carteiro François. Hulot tem uma irmã, casada com um alto funcionário de uma grande empresa. Sua irmã e seu cunhado têm um filho, de cerca de oito anos, e moram no centro da cidade. Essa região, diferentemente da periferia, é toda já tomada pelo american way of life: a vida é mediada por engenhocas elétricas e eletrônicas, como torradeiras, portões automáticos, fontes de jardins etc. A posse dessas engenhocas tem, como principal objetivo, não facilitar a vida, pois não facilita, mas sim exibi-las à vizinhança e às visitas. Hulot, rotineiramente, ajuda sua irmã cuidando do menino.
Por fim, PlayTime, o mais ousado dos três filmes. Nele, praticamente não há uma narrativa, mas sim diversas situações que se encadeiam e, em seu conjunto, apresentam uma França já toda tomada pelo american way of life. Os prédios são todos feitos de vidro, concreto e metal, suas portas, elevadores e escadas são eletrônicas, há diversos equipamentos e toda sorte de engenhocas que são acionadas por uma miríade de botões luminosos e alavancas, e tudo é envolto em ruídos ininterruptos. As pessoas agem de maneira funcional, sempre seguindo protocolos e sistematizações. Neste filme, os estadunidenses não são apenas uma referência distante, como nos anteriores – eles estão em cena como turistas que praticamente invadem a França em constantes levas barulhentas. Já não há mais uma França francesa, mas tão somente uma para “americano ver e se reconhecer”. A França verdadeira só aparece em fugazes reflexos nas vidraças que nunca são notados pelas pessoas.
O primeiro ponto a destacar nesses filmes é a progressão do american way of live na vida francesa ao longo dos anos. Em Carrossel da Esperança, a influência se dá à distância, por meio de um filme de propaganda e por malandros já “americanizados”, mas não há ainda a presença física estadunidense, nem por meio de máquinas nem de pessoas. Já em Meu Tio, parte dos franceses, aqueles que moram nos centros urbanos, vivem uma vida assentada no tecnicismo, no individualismo e na vaidade que se alimenta pela posse de bugigangas eletrônicas. Mas se mantém uma linha demarcada entre a França “americanizada” e a França ainda francesa. Todavia, em PlayTime, a americanização da França se completa: os estadunidenses chegam aos borbotões, são barulhentos e querem transitar por uma França que seja exatamente igual a seu país. A velha França aparece apenas como reflexos nos vidros, reflexos do passado, uma espécie de lembrança do que está ausente.
Destaca-se também como François e, depois, Hulot – e no fundo, o próprio Tati – se tornam cada vez mais deslocados na paisagem social francesa. Em Carrossel da Esperança, a graça está na tentativa frustrada do personagem de se descolar do conjunto das pessoas tornando-se um carteiro “à americana”; rimos de suas tentativas de se tornar mais industrial em seu ofício, mas sabemos que logo as coisas voltarão ao normal, pois é impossível deixar de ser quem se é no meio de sua comunidade. Em Meu Tio, a graça está na interação disfuncional dos dois mundos, cujas fronteiras são bem demarcadas. Mas, em PlayTime, Hulot/Tati é um sujeito solitário, sem ter para onde ir, totalmente deslocado numa sociedade já totalmente americanizada e numa cidade cujas ruas estão tomadas por levas e levas de turistas estadunidenses. As personagens de Tati vivenciam, assim, a desumanização das relações sociais, enquanto a mercadoria toma o papel central das mediações cotidianas, até o ponto em que a vida cotidiana se torna o cotidiano estandardizado de interesse do imperialismo.
A deterioração da velha França é habilmente narrada em pequenos e marginais detalhes visuais, dos quais destacamos aqueles mostrados em Meu Tio. Nesse filme, vemos a vila em que Hulot vive sendo lentamente desmontada: num momento, é a queda de um dos tijolos do muro que separa a vila do centro urbano; noutro, é o esvaziamento das ruas; por fim, suas casas começam a ser demolidas e seus moradores mudam-se para outros lugares. A França de antes da invasão cultural imperialista estadunidense desmorona lentamente, e ainda que essa derrocada seja mostrada de forma poética, não é por isso menos triste. Essa deterioração também aparece em PlayTime, numa longa sequência que ocorre em um restaurante. Nele, há dois ambientes. O primeiro, é o salão luxuosamente sofisticado onde os turistas são servidos; o outro, são os bastidores do restaurante, onde tudo é precário e improvisado. A relação entre os ambientes na perspectiva do filme parece dizer que só o que sobrou da verdadeira França foram os franceses tentando sobreviver trabalhando para os estadunidenses, que ocupam o salão principal com seu barulho, exageros, histrionismos e individualismos vaidosos. Assim como quando sucumbiu aos nazistas, agora a França é totalmente ocupada pelos estadunidenses.
A obra de Tati é anti-imperialista, mas evidentemente não é antiestadunidense. A crítica não é ao povo dos Estados Unidos, nem à sua cultura, muito menos ao seu cinema: Jacques Tati era um admirador do trabalho de colegas como Buster Keaton e Alfred Hitchcock. Suas críticas centram-se, coerentemente, no achatamento da sensibilidade e da particularidade, condição imposta pelo capitalismo para que as mercadorias produzidas pelo império possam circular pelo mundo sem qualquer forma de estranhamento.
Mas Tati é, antes de tudo, um otimista, porque François, Hulot e outras personagens que criou não sucumbem. A França desmorona, mas continua viva para além do cotidiano imperialista, vivendo na insistência do cineasta em se manter ao longo da vida filmando e denunciando o empobrecimento da cultura de sua nação em tal nível estético e técnico. E é justamente sua qualidade artística que garante a sobrevivência de seus filmes – ainda bem –, resistindo ao tempo e ao acirramento das lutas de classes. Aliás, nos tempos em que vivemos, no qual o imperialismo aperta o cerco às nações do mundo, seja pelas imposições econômicas, seja pelas guerras híbridas, golpes e espalhamento de bases da OTAN, os filmes de Tati revelam-se imprescindíveis. São manifestos que denunciam a violência simbólica do imperialismo, que acusam a invasão cultural e tornam evidente o novo cotidiano estandardizado, à imagem e semelhança da mediocridade imperialista.