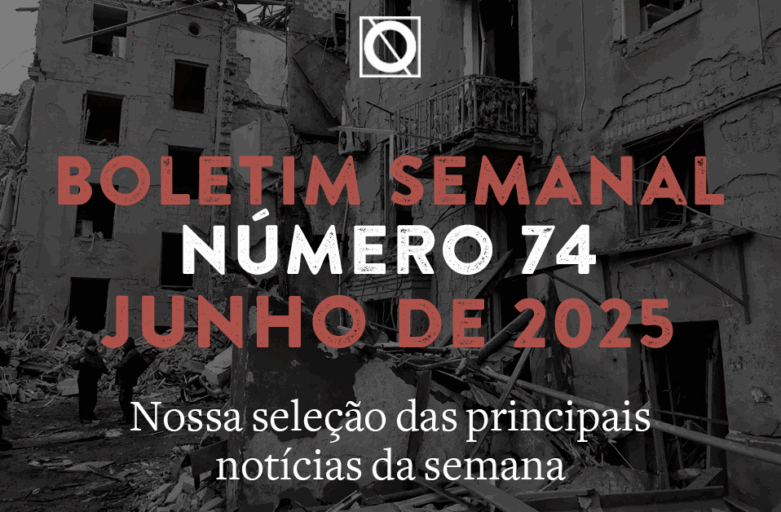Nas últimas semanas, uma parcela da direita da ordem passou a reivindicar abertamente o impeachment do presidente Bolsonaro. A julgar pelas manifestações de seus principais porta-vozes – Rede Globo, Estadão, Folha de São Paulo –, a iniciativa é uma resposta à irritação das chamadas classes médias com o desastre sanitário, particularmente com a constatação de que o governo federal não tem (nem revela a intenção de ter) um plano nacional de imunização coletiva da população contra o coronavírus. Mas é, sobretudo, uma reação preventiva de parcelas crescentes do empresariado diante da possibilidade de o agravamento da crise social despertar a ira do povo e colocar em risco a continuidade das reformas liberais.
A oportunidade de uma aliança com segmentos da direita reacende o debate sobre a conveniência de uma “frente ampla” contra Bolsonaro em nome de um governo de salvação nacional. Como é impossível descolar a tática da estratégia, a discussão de fundo, ainda que não esteja explicitada, diz respeito à substância programática que embasa a unidade tática com setores “mais cordatos” da burguesia.
Impulsionadas por preocupações pragmáticas e imediatistas, parcelas expressivas da esquerda da ordem colocam a tática acima do programa, defendendo a unidade incondicional como meio mais seguro e ágil de derrotar o inimigo comum. A necessidade de evitar o mal maior justificaria avançar pela linha de menor resistência, dentro dos parâmetros do possível, com quem quer que seja, mesmo que isso implique a renúncia de uma discussão nacional sobre o substrato da unidade. Questões programáticas ficariam para um segundo momento.
Segue-se rigorosamente o padrão histórico de uma sociedade controlada com mão de ferro pela burguesia. Foi o que prevaleceu na transição da ditadura militar para o Estado de direito e, posteriormente, no impeachment de Collor de Mello. Postos em perspectiva histórica, os resultados foram desastrosos para a classe trabalhadora. No “segundo momento”, Inês é morta. As decisões sacramentadas no “primeiro momento” bloquearam qualquer possibilidade de mudança estrutural que pudesse colocar em xeque o substrato do que se pretendia combater. A vitória tática contra o inimigo político comum implicou a derrota dos interesses estratégicos das classes subalternas.
O acordão nacional que legitimou a eleição indireta de Tancredo Neves (com Sarney de contrabando) acabou sancionando a transição lenta, segura e gradual para a democracia, arquitetada pela ditadura militar, sem que se alterasse em nada o substrato do pacto de poder que sustentava o Estado autocrático burguês. Em consequência, o padrão de dominação continuou funcionando como uma contrarrevolução permanente, bloqueando toda e qualquer possibilidade de transformação estrutural. A nova forma do regime – uma democracia de cooptação – não modificou sua essência: uma plutocracia associada ao imperialismo. É o que explica a absoluta incapacidade da Constituição de 1988 de sair do papel e cumprir suas promessas cidadãs. É a persistência do circuito fechado do subdesenvolvimento e da dependência que explica o déficit de legitimidade irreparável que condiciona a crise terminal da Nova República, que não será resolvida pela mágica pura e simples da ejeção do atual ocupante do Planalto.
A grande aliança nacional para depor Collor de Mello, em nome da restauração da moralidade pública, que juntou do PT ao Centrão, passando pelo PSDB, legitimou o governo Itamar Franco e criou as condições políticas para a realização de sua principal obra: o Plano Real – a base do padrão de acumulação liberal periférico. Para quem combatia a ofensiva do capital sobre o trabalho, foi a derrota na vitória. A quinta-essência do governo Collor – promover mais uma rodada de modernização dos padrões de consumo financiada pela liberalização comercial e financeira da economia brasileira, às custas do rebaixamento sistemático do nível tradicional de vida dos trabalhadores e do desmantelamento das políticas públicas – não apenas foi preservada e institucionalizada, como também, com o passar dos anos, passou a contar com o apoio entusiástico de Lula – o líder político que em 1989 representava o projeto antípoda.
A deposição de Bolsonaro é, sem dúvida, condição necessária para interromper o genocídio sanitário, enfrentar a crise econômica e social e afastar a ameaça de golpe totalitário. Trata-se, contudo, de uma condição insuficiente. Substituir Bolsonaro por Mourão, sem colocar em questão a política de desmonte da nação impulsionada pela burguesia, que inclui o genocídio sanitário, seria trocar seis por meia dúzia. Na melhor das hipóteses, Mourão revelar-se-ia um Bolsonaro lapidado. O risco é legitimar a “intervenção militar” e as “reformas liberais” defendidas pela burguesia.
Os trabalhadores devem lutar pelo fim da mortandade e pela derrota política do programa que vendeu aos brasileiros a farsa de que mais neoliberalismo e mais autoritarismo seriam as soluções para os problemas nacionais. Para que a deposição de Bolsonaro e Mourão não seja uma farsa, ela deve ser construída nas ruas, através de grandes mobilizações populares que coloquem como prioridades absolutas a vacinação imediata do conjunto da população e a criação de condições econômicas para que todos os brasileiros possam fazer isolamento social, sem o que não há como deter a circulação do coronavírus. Um programa dessa natureza requer mudanças de grande envergadura em todas as dimensões da sociedade, a começar pela política econômica. Por isso, ele enfrenta a resistência implacável da burguesia e de seus porta-vozes. No entanto, se os trabalhadores paralisarem a produção e circulação de mercadorias e o povo tomar as ruas, o que hoje parece impossível, amanhã pode virar realidade. Organizar a rebelião contra o genocídio sanitário e a pandemia de fome que se avizinha é a tarefa premente dos partidos de esquerda.
Contrapoder, 01 de fevereiro de 2021