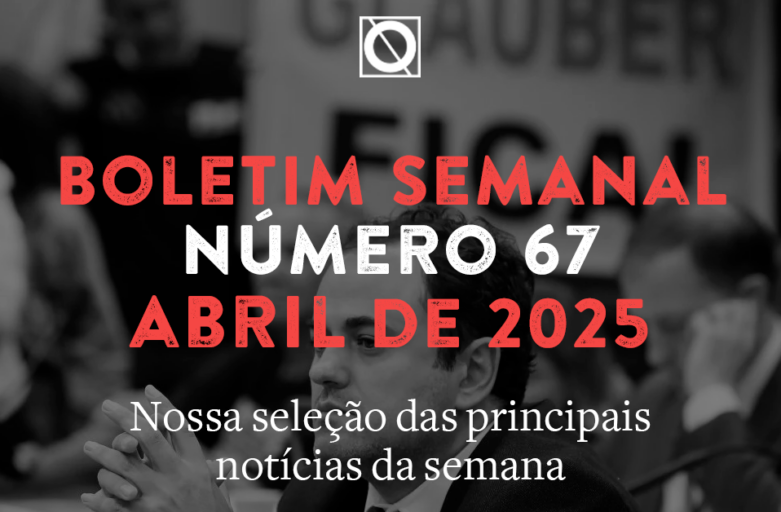O vigor da rebelião popular que há três semanas desafia o establishment norte-americano representa uma importante mudança na luta de classes. Desencadeados pelo brutal assassinato de George Floyd, os protestos rapidamente se alastraram pelos quatro cantos do mundo. Os Estados Unidos tornaram-se o epicentro da luta de classes.
O risco de contaminação por coronavírus e a violenta repressão dos aparelhos policiais, que levou à detenção de mais de 11 mil manifestantes e a morte de pelo menos 12 pessoas (até 12 de junho), não arrefeceram o ânimo dos manifestantes. Iniciativa de trabalhadores auto-organizados, com destaque para o coletivo “Vidas Negras Importam”, à margem do movimento negro convencional, dos grandes sindicatos e dos tentáculos do Partido Democrata, os protestos expandiram-se para mais de 2.000 cidades do país.
Mais do que uma mera continuidade das rebeliões e lutas anteriores, o movimento atual apresenta-se como uma crítica radical à perspectiva reformista, à ideia de que seria possível, por meios institucionais, integrar o negro na sociedade norte-americana. Os ataques sistemáticos às estátuas, edifícios de grandes corporações, delegacias de polícia e até mesmo à bandeira americana – símbolos do racismo, do colonialismo e da exploração e dominação imperialista — revelam o conteúdo potencialmente revolucionário da luta dos trabalhadores.
Para além das exigências iniciais dos manifestantes – punição de policiais responsáveis por crimes e reforma radical da polícia – amplamente apoiadas pela opinião pública, os protestos têm iluminado os nexos perversos e estruturais da discriminação, associando racismo estrutural à desigualdade social, desigualdade social ao colonialismo e colonialismo ao imperialismo. A luta pelos direitos dos negros articula-se, assim, com a luta pelos direitos da classe trabalhadora. E, potencialmente, torna-se uma luta anticapitalista; um passo decisivo para romper, de baixo para cima, a fragmentação da classe.
Ainda que longe de colocar em questão as estruturas sociais e políticas responsáveis pela exploração e dominação dos trabalhadores, as Jornadas americanas têm impulsionado ações de grande radicalidade. Em Washington, os manifestantes cercaram a Casa Branca e durante um dia deixaram Trump sitiado no bunker do palácio. Em Minneapolis, alguns bairros pobres decidiram banir a presença da polícia e assumir a autodefesa de seus territórios. Em Seattle, a população decretou uma densa área do centro – Free Cap Hill – como zona autônoma, livre de polícia e autogovernada.
Em perspectiva histórica, o recado dos jovens trabalhadores norte-americanos é inequívoco. Exigem o fim da polícia racista. Exigem mudanças profundas nas estruturas da sociedade e da economia. As violentas revoltas urbanas que se seguiram à absolvição dos assassinos de Rodney King em Los Angeles (1992) e à morte por asfixia de Eric Garner em Nova York (2014) não levaram a uma reforma da polícia. Ao contrário. A criminalização, o arbítrio e o encarceramento do homem pobre, sobretudo do negro, intensificaram-se nas últimas três décadas, inclusive durante os oitos anos do governo Obama. As promessas da luta pelos direitos civis liderada por Martin Luther King nos anos 1960 não se realizaram. A conquista de direitos formais não erradicou um passado escravista mal resolvido.
A indignação dos jovens que saíram às ruas das principais cidades do mundo para dar um basta à violência que os condena a uma vida miserável revela o impacto devastador da crise econômica, social e política sobre a situação da classe trabalhadora. A precarização do trabalho, o desemprego em massa, o desmantelamento das políticas públicas, a extrema instabilidade econômica, a intensificação das desigualdades sociais, a escalada da pobreza e o acelerado agravamento da crise ambiental explicitam a correlação perversa entre a acumulação de riqueza e o sistemático rebaixamento do nível tradicional de vida dos trabalhadores.
A absoluta subordinação do Estado aos imperativos do capital fica patente na diferença com que os poderes estabelecidos tratam as demandas do sistema financeiro e as necessidades dos trabalhadores; na violência com que combatem qualquer gesto contra o patrimônio; na criminosa cumplicidade com a pilhagem da natureza pelas grandes corporações. Diferenças que explicitam como o Estado capitalista contemporâneo funciona literalmente como quartel-general da burguesia. Após décadas de neoliberalismo, o espaço de reformas dentro da ordem foi reduzido a zero.
O recrudescimento do racismo, do machismo, da LGBTfobia, da intolerância religiosa, da ignorância militante e da violência política como meios de perpetuação de privilégios evidencia que, sem nada ceder às classes subalternas, à burguesia só resta a brutalidade como forma de submeter a força de trabalho a seus desígnios. O sonho de um capitalismo edulcorado acabou. A razão capitalista virou uma completa desrazão – a naturalização da barbárie.
Impulsionada por um acúmulo de contradições que não têm mais como serem absorvidas dentro dos parâmetros da ordem, a guerra de classes veio para ficar.
Liderada pelos seus estratos mais precarizados, a classe trabalhadora das economias centrais entrou em movimento e começou a superar a fragmentação que a impede de se contrapor à burguesia como uma classe independente. A luta do trabalhador negro foi encampada por trabalhadores de todas as cores. As rivalidades nacionais transformaram-se em solidariedade de classe. As manifestações tornaram-se multirraciais e internacionais, protagonizadas pela luta antirracista, e englobam as pautas de gênero, identitárias e ambientais.
O sentimento de revolta contra a ordem capitalista é uma condição necessária, mas insuficiente para abrir novos horizontes para a humanidade. Criar conselhos populares e construir uma Frente de Esquerda, articulada internacionalmente, apontando o socialismo como horizonte para a superação da barbárie capitalista, são tarefas inescapáveis para que se consiga ir além do capital.
Contrapoder, 15 de junho de 2020.