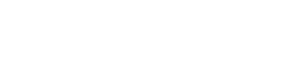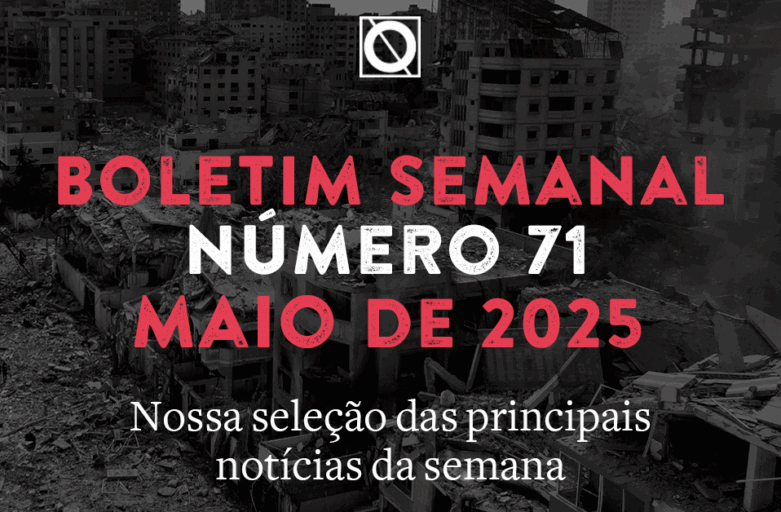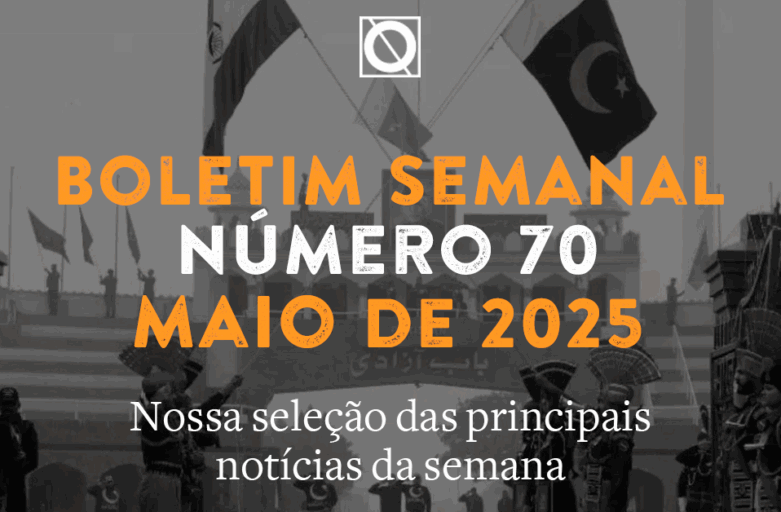Na segunda parte do dossiê “As derivas da Venezuela: deterioração do processo bolivariano“, Raúl Zibechi e Silvia Adoue entrevistaram Emiliano Teran Mantovani, professor e pesquisador da Universidad Central de Venezuela, além de militante ecologista engajado nas lutas contra o extrativismo e na construção de alternativas ecossociais para a América Latina.
Você pode acessar o dossiê completo aqui:
Dossiê Venezuela – Raul Zibechi e Silvia Adoue: As condições de vida do povo venezuelano vêm se deteriorando ano após ano. Isso tem levado um crescente número de trabalhadores a empreender o caminho da migração. No exterior, vemos venezuelanos, muitos deles com qualificação, aceitar empregos mal pagos e situações e situações legais incertas e com risco. De sua perspectiva, que levou tantos venezuelanos a desistir de permanecer em seu território?
Há uma mistura de fatores. Não podemos esquecer que Venezuela viveu um dos colapsos societais mais profundos de nossa história contemporânea, sem que tenha havido uma guerra em nosso território. E estou me referindo à história mundial. Tem dados comparados por países que viveram crises semelhantes que mostram essa realidade.
Pode-se debater sobre os fatores históricos nacionais que nos levaram a isto, que são irrefutáveis, mas isso não exime de responsabilidades aos governos bolivarianos, incluindo Chávez, que aprofundaram os velhos males do modelo venezuelano, baseados numa sociedade e num conjunto de instituições extremadamente dependentes do petróleo. Já viemos de uma crise desde os anos de 1980, e se aprofundaram esses males precisamente no momento de esplendor do processo bolivariano, quando mais popularidade e maior hegemonia tinha, mais alto estava o preço do barril de petróleo, e melhores condições regionais tinham com o auge do ciclo progressista. Todo isso implicou em acentuar a vulnerabilidade internacional do país, e do próprio tecido social, não apenas afetado pela crise econômica, senão pela corporativização da sociedade em torno de um Estado com um poder muito vertical como o chavista.
Com maduro foi se desenvolvendo a desintegração societal, e incrementou-se a conflitividade política com a oposição e com o flanco internacional. O regime decidiu, antes que atender a sociedade venezuelana ante a debacle, governar pela força e manter o controle do poder do Estado a todo custo. Aí tivemos uma mudança de regime a partir de dentro, pulverizando o nacionalismo energético, o rentismo com enfoque popular e o marco de direitos promovido dentro do governo Chávez, para transmutar num autoritarismo neoliberal. Em direção a um dos processos de reestruturação neoliberal mais agressivos e um dos regimes mais repressores da região.
Que fatores específicos determinaram que se tenha gerado uma das maiores migrações de nosso tempo global atual? Bem, como dizia, são vários esses fatores e vale a pena mencioná-los detalhadamente. Primeiro, o país viveu um empobrecimento muito drástico e acelerado em poucos anos, com gôndolas vazias e milhões de venezuelanos perdendo peso. Isso foi um choque para a sociedade. Segundo, houve um processo inflacionário que chegou à hiperinflação, obviamente, a maior do mundo. O Banco Central falou em 130.000% de inflação em 2018, enquanto o FMI falava em 1 milhão %. Para além da exatidão ou inexatidão das cifras, imaginem o que foi para um venezuelano viver a loucura dos preços nesse nível. O dinheiro na conta bancária alcançava para comprar três batatas, duas cebolas e uma cenoura. Depreciava-se várias vezes ao dia. Creio que poderíamos escrever um livro sobre a experiência social de viver com hiperinflação, que é bastante surreal. Aqui temos o segundo choque.
Terceiro, o colapso dos serviços públicos, elementos fundamentais para manter nossa vida cotidiana. Já vínhamos do acirramento da crise elétrica, quando, em 2019, Venezuela viveu um apagão total do país por vários dias. O impacto foi tremendo, podem imaginar a vida quando todo desliga e não tem fonte elétrica para nada. Sem dúvida, o venezuelano viveu isso como um choque, aí temos o terceiro. Lamentavelmente, a crise elétrica continuou no país, com seu vai e vem, e não é o único serviço público em declive. Temos numerosos setores da sociedade que apenas recebem água, alguns, com vários meses sem recebe-la. Outros sem gás, e por isso se deu um auge de deflorestação para a obtenção de lenha para cozinhar. Houve período da crise em que o transporte público praticamente desapareceu, e víamos caminhões de carga ou “350”1 servindo de transporte, o que fazia lembrar um pouco o “período especial” em Cuba. Boa parte do cotidiano venezuelano era dedicado à obtenção desses elementos para a reprodução da vida. Nosso dia a dia estava extraordinariamente precarizado.
Acrescento outros elementos: o desemprego e falta de oportunidades, já que a economia formal era praticamente um deserto. Onde gerar ingressos para viver? É uma pergunta de difícil resposta. Também a repressão social e política incidiu muito, já que, na medida em que se ia degradando o sistema social, o regime político tornava-se mais predatório. Foi aumentando a perseguição política, as detenções arbitrárias, o autoritarismo. Operativos policiais nos bairros mais pobres foram deixando mortos, e foi se asfixiando mais e mais as possibilidades de dissidência política e social. Nesse sentido, o exílio ou a migração era uma opção de resguardo.
Peço licença para incluir uns elementos a mais que explicam a migração, que têm a ver com os imaginários sociais, as desilusões políticas e a falta de sensação de futuro. Creio que para os venezuelanos também caiu o marco de sentido e possibilidades que se havia construído desde o imaginário de uma Venezuela rica, graças ao petróleo. Essa queda deixou um vazio que, creio, não se pode preencher, para abordar a reprodução da vida a partir de outros códigos, a partir de outro modelo ou sistema social. Na minha perspectiva, esses são os efeitos da cultura petroleira, muito estudados para o caso venezuelano. A isto é preciso acrescentar as decepções políticas que deixou o chavismo, que havia gerado grande ilusão. A sensação de desilusão foi muito grande. Lembremos que o chavismo inundou o país com promessas emancipatórias e discursos grandiloquentes, e chegou a gerar simpatia em quase 70% da população. A desintegração foi para alguns como uma espécie de duelo que demorou muito em ser superado.
Mas também é preciso mencionar as grandes decepções que deixou a oposição, que foram muitas. Essas decepções se basearam na falta de conexão real com as pessoas, seus personalismos vazios, sua incapacidade de compreender a realidade política e cultural do país, e para gerar uma unidade que conseguisse enfrentar o governo. Muita desilusão, em geral, de uma classe política que não esteve à altura das necessidades para abordar a profunda crise venezuelana. Isso também foi cobrado pelas pessoas.
O estabelecimento do regime de Maduro, junto com a conflitividade apresentada pela oposição, e as diferentes formas de intervenção de fora, seja estadunidense, chinesa, russa, a dos governos uribistas, da União Europeia, chegaram a ser tão destrutivas que marcaram consideravelmente as noções e expectativas de futuro nacional. O governo Maduro foi um regime de terror, de tristeza e desespero que esvaziou as perspectivas de futuro. Por isso, as pessoas saíram a votar massivamente contra o regime; praticamente o 70% da população.
Maduro tirou do futuro o horizonte nacional, e, com o conjunto de fatores que descrevo, é completamente compreensível ver tantos venezuelanos saíndo pelas fronteiras e em muitos países da região e outros continentes, buscando oportunidades. Creio que as pessoas querem oportunidades em seu próprio país, mas não as conseguem.
Dossiê Venezuela – Raul Zibechi e Silvia Adoue: O processo iniciado em Venezuela sob direção de Hugo Chávez prometia superar a dependência da exportação de petróleo com todas as mazelas históricas resultantes de tal dependência. Para isso, propunha-se, entre outras medidas, a reforma agrária, que seria base da soberania alimentaria. Porém, um quarto de século depois, a dependência da exportação de petróleo e também de outros minérios parece ter se intensificado. E continuam importando produtos de primeira necessidade. Como explica esses fatos?
Apenas nos primeiros anos, inclusive nos primeiros meses do governo Chávez, prevaleceu o discurso petroleiro não expansionista e austero. Chávez entendia bem isso que chamou “a questão petroleira”, e as correntes de pensamento que previamente haviam problematizado os delírios de grandeza da Venezuela petroleira e os limites das economias rentistas. Porém, lamentavelmente, durou pouco essa austeridade. Vimos então uma mudança de orientação econômica do processo em direção ao expansionismo petroleiro, da mão da emergência da “construção do socialismo do século XXI”. Para Chávez, a ideia do crescimento do poder vinha da mão do crescimento da produção petroleira. O socialismo era um formato ultra desenvolvimentista com nacionalizações, e para isso o Petro-Estado devia se maximizar a partir da expansão dos níveis de extração, até leva-los à estrambótica cifra de 6 milhões de barris diários. Novamente, a Venezuela saudita que havíamos visto com Carlos Andrés Pérez nos anos de 1970. E também essa maximização se basearia na expansão da captação de renda para financiar esse desenvolvimentismo e a aceptação popular motorizada pela distribuição rentista. Chamaram isso de “Venezuela Potência Energética Mundial”.
Essa foi a narrativa predominante e disso faz muito tempo. Não outra. Quando Chávez falava de vez em quando em sair da dependência do modelo rentista petroleiro, na realidade, tratava-se de um discurso demagógico. A fórmula era petróleo e poder como eixo de produção política, e o resto era acessório. A expropriação e entrega das terras não conseguiu transcender sua dependência da renda petroleira e a corporativização. Com Chávez se propôs o mais grande projeto de mineração, o Arco Mineiro do Orinoco, na Amazônia, como complemento da proposta de expansão extrativista. Assim que se apresentou o paradoxo de um Chávez falando de alcançar a “independência” de Venezuela numa fórmula estreitamente ligada à intensificação da dependência petroleira. Quando Chávez chegou ao poder, a dependência das exportações de petróleo era de 74%; ao morre, ela era de 96%. Dificilmente isso ia acabar bem.
Com Maduro, o que aconteceu é que se deslocou a estrutura da economia nacional, mas seu enfoque de reestruturação aponta para mais extrativismo, relançamento da indústria petroleira com grandes facilidades para as corporações transnacionais, como vemos tanto com a Chevron, dos EUA, como das empresas chinesas na Faixa Petrolífera do Orinoco. Muita mineração de ouro na Amazônia, que é fundamentalmente ilegal ou irregular, turismo de elite, entrega de terras a investidores privados, e outros negócios ilícitos. Uma economia para poucos.
No entanto, o de Chávez e Maduro é a repetição da fórmula que vemos tanto em esquerdas como em direitas: promover a expansão do extrativismo de hidrocarburos com velhas narrativas acríticas sobre o desenvolvimento; e ancorar a ideia da soberania e da independência na extração massiva de recursos naturais para vende-los no mercado mundial. Isto é, “soberania” baseada no próprio espólio, neocolonialismo, reprimarização, dependência, rentismo, devastação de nossos ecossistemas e pilhagem de nossos recursos. Muito problemática noção de soberania.
Dossiê Venezuela – Raul Zibechi e Silvia Adoue: Outra promessa, que também atraiu a atenção entusiasta dos povos do continente, foi a de superar as formas tradicionais do exercício do poder pelas vias representativas e passar ao exercício da democracia direta por meio das comunas. Na prática, porém, as decisões políticas continuaram buscando legitimação das eleições. A própria direção chavista montou o Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), a partir de várias organizações que o apoiavam, para participar de eleições. A constituição chegou a plasmar em sua letra uma “nova geometria do poder” e a última palavra de ordem de Chávez foi “Comuna ou nada!”. Essa “nova geometria” não saiu do papel, as comunas não têm autonomia e a democracia representativa é exercida (ou não) para referendar o que o governo central decide. Isto é, consolidaram-se práticas centralizadas e autoritárias. Como explica essa deriva da política venezuelana?
Depois que o processo bolivariano montou na onda expansionista da Venezuela Potência Energética Mundial, colocou-se a contradição: consolidar um poderoso Petro-Estado, presente em todo e determinador de todo; e ao mesmo tempo conformar numerosas comunas como expressão do poder popular nos territórios. Essa foi a colocação, mas parece-me que poucos, dentro do chavismo, identificaram a contradição estrutural que havia nisso, ou ao menos não foi denunciada.
Se entendermos as comunas como uma forma de construção do poder desde abaixo e orientado à sustentação autônoma da vida desde os territórios, isso ia estar em contradição com o projeto de poder de cima, e com o modelo extrativista, ainda que os atores do chavismo anunciassem suas alianças com a proposta. De cima, desde a programática governamental, e de baixo, desde os comunheiros, reivindicava-se a ideia do chamado “Estado comunal”. O problema, entre os muitos problemas, é que esse era um jogo de poder de soma zero. A transferência de poder devia ser de cima para abaixo até reduzir a zero a dependência política e econômica com o Estado; até inclusive prescindir das figuras de poder tradicionais, como as prefeituras e os governos de estado e todo devia ser gerido pelas comunas. Isso era o que se colocava teoricamente nas discussões e nos discursos. Mas em realidade o Estado não tinha em seu projeto real o propósito de ceder poder. Ao contrário, o que queria era concentrar mais poder, e, ao mesmo tempo, criar mecanismos de controle dos de baixo e correias de transmissão de mando a partir de cima que fossem mais eficientes.
Do seio do Petro-Estado chavista se desenvolveram extraordinários processos de concentração de capital e riqueza. Não é casual que antes que comunas fortalecidas e estendidas em todo o país, o que surgiu foi uma nova burguesia chavista, que alguns chamaram “boliburguesia”. Do seio do processo bolivariano surgiu o PSUV, que propôs desde o seu início a fórmula de partido único. Quer dizer, que toda força política se fusionasse com esse partido. Também se impôs a centralidade do eleitoral, de que o governo mantivesse o poder a todo custo, e também as lógicas de lealdade ao líder, assim que as comunas terminaram empenhando sua força em atividades eleitorais, em manifestações em apoio ao governo, que em nada tinham relação com os processos de empoderamento popular territorial.
E, não menos importante, a lógica da renda petroleira seguia sendo um determinante de cima para baixo, e as comunas foram estabelecidas também amarradas à dependência do Estado rentista. Todos esses fatores asfixiavam as possibilidades de autonomia, que devia ser o horizonte comunal. O “Estado comunal” era algo inviável, no meu modo de ver quase um oxímoro. É nesse sentido que era um jogo de soma zero, e a disputa também foi no interno, para a construção de autonomia comunal, de baixo. Uma disputa inevitável com o Estado, uma disputa que era política, econômica, territorial, e também cultural. Disputa que servia ao mesmo tempo para deter as forças regressivas dentro do processo bolivariano, que eram, na realidade, anti-comunais. Porém, essa disputa nunca aconteceu, as comunas não se insurgiram com projeto próprio, a não ser em casos muito pontuais. Não houve uma disputa por esse projeto político. Prevaleceu, no meu entender, a lealdade. O Estado comunal, como conceito, era a crua expressão da conciliação de duas forças irreconciliáveis.
Dossiê Venezuela – Raul Zibechi e Silvia Adoue: O extrativismo espoliador se intensificou e as zonas de extração, como o Arco Mineiro do Orinoco, foram militarizadas. Como isso vem afetando o meio ambiente, os povos dos territórios de extração? O autoritarismo e o deterioro do tecido social se intensificaram junto com a atividade extrativa?
Se mencionava que com Maduro se desenvolveu uma mudança de regime desde dentro do próprio processo, isso, por sua vez, configurou uma nova fase do extrativismo, muito mais predatória. Ficou para trás esse modelo extrativo centralizado e que construía hegemonia e governança através da distribuição estratégica da renda, e passamos a um modelo no qual a renda ficava pulverizada ou muito diminuída. Prevalece a apropriação direta de recursos naturais por parte dos setores mais poderosos e grupos de poder locais, um formato que poderíamos denominar neo-patrimonial. Multiplicam-se polos de extração para alimentar esses grupos de poder. Violam-se normativas de todo tipo, pois o novo modelo baseia-se em derrubar toda barreira à apropriação de riqueza e acumulação do capital. E impõem-se economias ilícitas e enramados de corrupção. Como vemos, o esquema extrativista é mais bem caótico, e como não governa por hegemonia, o faz fundamentalmente através da violência.
Aqui, então, interessa-me ressaltar isso que podíamos chamar: uma tríada; extrativismo predatório/autoritarismo/desregulação ambiental. Ainda que prefiro chamar as coisas pelo nome, assim que vou chama-lo extrativismo predatório/ditadura/desregulação ambiental. São elementos centrais que compõem o regime atual na Venezuela e um permite explicar os outros, o que vai unido ao quarto componente, que é o barateamento da força de trabalho. Basicamente, a crise e a sustentação do regime no poder são pagas não apenas pelos trabalhadores e a população em geral, senão também a natureza, que é objeto de recolonização e espoliação para pagar as dívidas externas contraídas pelo regime, sustentar a elite governante e financiar a maquinária da repressão. E a espoliação aberta, desregulada, militarizada.
Os impactos socioambientais são numerosos e profundos. Algo do que se fala muito pouco quando se olha e debate sobre Venezuela. Da minha perspectiva, esse marco deve ser chamado de crise ambiental nacional, como uma dimensão mais da crise venezuelana. Os corpos de água do país estão sendo muito afetados pelos derrames petroleiros que são permanentes e acontecem com total impunidade. Muitos camponeses mais ao sul, e pescadores nas costas do Caribe, estão sendo muito afetados em sua atividade de subsistência pela contaminação, socavando ainda mais a frágil segurança alimentaria venezuelana. Na Amazônia, é o mercúrio que se está disseminando por toda a bacia do Orinoco e o Cuyuní, produto da expansão extraordinária da mineração ilegal. Da mão disso tudo, está o avanço do desmatamento, que está afetando florestas e bosques, penetrando novas fronteiras de extração, produto também do avanço a novas fronteiras agrícolas desordenadas e ilícitas. Ou a extração de madeira. O manejo de detritos é terrível em todo o país e produz impactos à saúde dos habitantes, ainda que também se gerou um nicho de enriquecimento ilícito com o contrabando de sucata. As comunidades mais pobres são as mais afetadas por toda essa degradação ecológica, pois a intoxicação por contaminação se contrapõe aos sistemas de saúde pública colapsados ; ou obriga as famílias a fazerem grandes esforços por conseguir água limpa e potável. As comunidades indígenas estão sofrendo com mais intensidade esses impactos do extrativismo, porque, pelo menos na Amazônia, estabelecem-se através de grupos armados irregulares que ameaçam seriamente sua segurança.
Dossiê Venezuela – Raul Zibechi e Silvia Adoue: Desde sua perspectiva, como as gentes dos territórios do que hoje chamamos Venezuela podem sair desse atoleiro?
Creio que se fala muito pouco do que vem ocorrendo na Venezuela no campo popular, um processo de luta que vem surfando as recorrentes ondas da crise econômica, a repressão do regime e os diferentes episódios da crise política nacional. Houve diferentes momentos de protesto popular, protesto do setor de trabalhadores por salários dignos e a recuperação dos direitos trabalhistas protestos pelos serviços públicos; mobilizações em defesa dos direitos humanos; iniciativas sociais e comunitárias de tipo ambiental interessantes, de conservação, defesa da água e acesso a ela; continuação de processos de autodemarcação e de guardas indígenas na Amazônia. Todos esses processos tiveram altos e baixos e grandes dificuldades para se articular e vencer os altos níveis de dispersão e fragmentação que predominam, e disputar com mais força perante o regime político. Aí tem um grande desafio, para superar os obstáculos e fragilidades. No entanto, o preâmbulo das eleições presidenciais fez evidente que o cansaço generalizado da sociedade venezuelana, que é massivo, tinha se traduzido num desejo de mudança e de recuperação da democracia que, frente a tanta fragmentação, viu a possibilidade dessa mudança através da via eleitoral. Por isso as eleições geraram tanto entusiasmo e expectativa.
Não creio que seja correto interpretar isso que aconteceu no campo popular unicamente a partir da ideia do “cidadão votante”. Isso transcendeu o evento eleitoral, e também não pode ser lido em chave de polarização política, ou apenas com foco nos próprios candidatos participantes. Há um desejo de mudança, uma pulsão de liberdade, uma ansiedade coletiva de recuperação do pa´´is, de um horizonte de futuro que vai para além de um candidato ou outro de oposição. E isso precisa ser ressaltado. Trata-se, eu acho, de um novo sentido político no país, uma nova consciência social, que certamente carece de um esquema de articulação amplia, de baixo, orgânica, e que por isso é aproveitada fundamentalmente pelos partidos de oposição. Porém, insisto transcende o meramente eleitoral e partidário. Fazendo apenas um exercício mental, podemos ver o que representou a rebelião social em Chile de 2019, ou o Caracazo em 1989, uma força popular massiva que ia para além da organização de partidos ou as pautas de um grupo político, que mais bem expressou a ebulição de um prolongado descontentamento coletivo contido, e mudou a história desses países. Tem coisas que se mexeram na sociedade venezuelana sem poder dizer agora qual é a forma que tomarão e que vai se passar no futuro no campo popular.
Minimamente, coloco duas questões gerais sobre possibilidades de mudança em Venezuela. Uma, que é o estabelecimento de uma ditadura tão violenta em Venezuela, sobre todo após o fraude eleitoral, abriu com muita força a necessidade de construir uma grande frente nacional de luta, uma frente muito ampla, que possa contribuir a que essa força social tenha um espaço plural de expressão, de convergência e transforme isso numa agenda de luta e objetivos que possam ser alcançados. Quando se derrocou a ditadura de Pérez Jiménez em Venezuela, em 1958, uma frente nacional como essa teve um papel crucial. O governo Maduro controla o setor militar, basicamente governa pela força, e isso é assim precisamente porque carece de legitimidade e apoio popular. Essa é uma debilidade muito grande. Mas o processo ou não de uma articulação ampla para poder sair do regime poderá ser determinante, ainda que creio que não será uma luta de curto prazo.
Uma segunda possibilidade tem a ver com a continuação dos processos sociais que têm se gerado no local, no pequeno. Processos que se ampliaram precisamente pela falta de Estado, do público, e obrigaram as pessoas a fortalecer aspectos organizativos e de gestão para enfrentar os embates da crise. Há um tecido que foi crescendo, de organizações de direitos humanos; os setores feministas também cresceram no país nos últimos anos, assim como os grupos ambientalistas. A articulação de setores sindicais ampliou-se, tomou muita força de rua e de presença nos estados do país, e é algo muito positivo. E já mencionava a experiência de várias comunidades indígenas. Quem se quedou em Venezuela buscou desenvolver esses processos, mas, novamente, me parece crucial que se fortaleçam os canais de cooperação entre organizações setores e comunidades, porque é a partir daí que podem enfrentar a ditadura e crescer. Tarefa nada fácil quando o regime se tornou ainda mais repressivo, mas isso é parte da criatividade, imaginação e desejo de liberdade que impulsionem uma urgente mudança política.
Este texto não passou pela revisão ortográfica da equipe do Contrapoder.