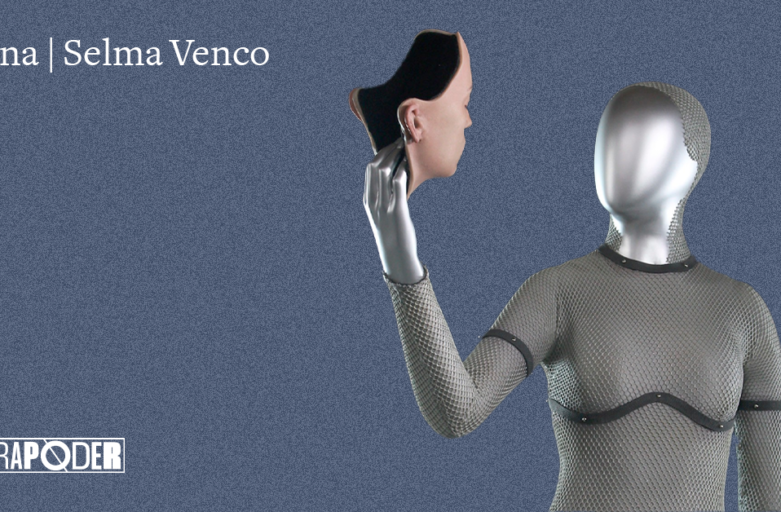por Francisco Tavares1
A iminência da definitiva ruptura institucional que precipitaria o Brasil em um regime fechado de extrema direita é um tema constante no debate político nacional. “Será que vem um golpe?”, perguntam-se as pessoas desde em pontos de ônibus até em videoconferências nas plataformas virtuais, nos comentários ocasionais que as antecedem. Entretanto, a ruptura com a ordem constitucional de 1988 já ocorreu e o Brasil não pode mais ser compreendido como uma democracia liberal.
Em geral, debates e contribuições intelectuais sobre a possibilidade de um golpe se compreendem como variantes de dois tipos de interpretação. Em um polo, comparecem as reduções que acreditam na existência de um “Partido Militar”, de uma aliança costurada a partir de congressistas do assim chamado Centrão, de um governo policial-miliciano, de um grande acordo entre agentes da Faria Lima ou de diferentes combinações entre esses setores, que, somados às igrejas neopentecostais, à atividade minerária e ao agronegócio monocultor, atuariam como demiurgos capazes de precipitar o país em uma noite autocrática. Em outro, remanesce uma minoria de cientistas políticos, economistas e juristas reunida sob a crença de que as instituições da Nova República seguem a todo vapor e de que o regime democrático e constitucional brasileiro não encontraria nenhum risco.
Entre essas duas posições há inúmeros gradientes. É perceptível, sobretudo, que não se trata de leituras equidistantes da realidade dos jogos de poder em curso no país. O receio de um grande golpe a ser perpetrado por Jair Bolsonaro em nome de alguma conspiração tenta reduzir quase caricaturalmente um cenário tão complexo quanto indefinido. É preciso, porém, partir da premissa de que o Brasil atual destoa dos – voláteis e contraditórios – critérios de participação social e de respeito aos direitos fundamentais associados às diferentes variantes do liberalismo jurídico-político.
Parado no ar
A tese de que não há risco às instituições que vicejaram nos últimos 40 anos é mais problemática. Ao afastar a possibilidade de um golpe futuro, também ignora sua ocorrência no passado recente e no presente. De algum modo, em um jogo de sombras, projeta sobre a negação daquilo que potencialmente virá (uma ruptura institucional ainda mais profunda) a defesa do que já é (um regime estranho à democracia e ao constitucionalismo, mesmo em sua tênue variante liberal). Não detecta, assim, que o golpe ocorreu, ocorre e, caso não seja reconhecido como tal, haverá de perdurar em novos capítulos, tendentes a aprofundar o autoritarismo em uma peça cujo enredo, neste momento, já alcançou a dissolução do regime de 1988, mesmo que esteja distante de seu limite quanto à supressão das liberdades políticas e dos direitos fundamentais.
Uma alegoria ajuda a explicar esse ponto. Nos anos 80 e 90, a TV exibia um desenho animado chamado Papa Léguas. Ali, um coiote tentava, com todo tipo de invencionice e sempre em vão, caçar uma ave veloz que escapava pelo deserto. Frequentemente, o frustrado predador despencava de algum abismo. Em sua correria, no átimo em que perdia a pista e ganhava o vazio da queda, parava no ar, por alguns segundos, até que notasse a perda do chão. É possível que a democracia brasileira esteja nesse instante. Foi-se o solo e estamos ali, parados no vazio, aguardando uma precipitação inevitável. A questão é: de que seria composto este chão?
Nosso pavimento liberal-democrático pressuporia, quando menos, os seguintes elementos: 1) respeito ao voto e aos mandatos conferidos pelas urnas; 2) alguma margem de democracia fiscal; 3) eleições íntegras; 4) prevalência do poder civil; 5) respeito à oposição política e aos direitos civis; e 6) um mínimo desempenho estatal quanto à efetivação de políticas públicas.
São parâmetros mínimos, restritos aos confins das noções liberais na democracia constitucional. Se o país não atende a esses estreitos critérios, ainda mais distante estará de ideários mais exigentes, como os republicanos, deliberacionistas, agonistas ou socialistas. Cada um destes aspectos merece um breve comentário. Ademais, se estiver correta a hipótese de que a democracia liberal já está no retrovisor, será preciso assumir com responsabilidade uma realidade em que não há instituições a se agarrar ou a se defender, mas apenas um futuro – por exemplo, ecossocialista e radicalmente democrático – como alternativa à noite autoritária que este entardecer político anuncia.
O golpe de 2016
As eleições que reelegeram Dilma Rousseff (PT) em 2014 foram turbulentas. O cheiro do gás lacrimogênio lançado por todos os governos – incluindo os petistas – ao longo dos protestos no ano anterior ainda estava suspenso no ar. Como notara o sociólogo Breno Bringel, um dos principais estudiosos de protestos e lutas sociais na atualidade, a conflitualidade era reintroduzida na cena política e ocupava o terreno até então definido por um horizonte de conciliação nacional. O conflito não se limitou, como é sabido, à disputa entre o governo petista e seus aliados à direita contra uma difusa oposição de esquerda que emergira das ruas. A oposição direitista também se organizou e, derrotada nas urnas, começou a mostrar as garras e o desprezo às regras de seu próprio jogo quando questionou na Justiça a idoneidade do processo eleitoral.
O segundo mandato de Dilma e seus descaminhos já são, a esta altura, bem conhecidos. Um choque de austeridade e de redução de direitos sociais lançou combustível sobre as chamas de uma retração econômica intensa. No campo político, a base popular se encolheu e os aliados constituídos segundo a lógica do presidencialismo de coalizão e do governo de conciliação começaram a desertar. Há inúmeras narrativas, análises, pesquisas e interpretações sobre o desfecho daquele momento em um golpe que destituiu a primeira mulher eleita para presidir o país.
Falta, contudo, atenção a um aspecto de primeira relevância: o argumento que respaldou o golpe juridicamente é estapafúrdio e afronta as mais simples noções de direito financeiro. Poucas pessoas e, possivelmente, quase nenhum parlamentar em exercício no ano de 2016 sabem, com alguma clareza, o que são as tais “pedaladas fiscais” que teriam justificado a retirada de uma governante eleita. O estarrecedor é que uma superficial análise do assunto sugere que a vontade das urnas fora frustrada com base numa razão não apenas incompreendida por quem tomou a decisão, mas insustentável à luz do direito e da ordem que se dizia defender.
Dois fatos teriam respaldado o suposto crime de responsabilidade cometido por Dilma. Ambos diriam respeito ao âmbito fiscal e, assim, estariam enquadrados no artigo 10 da Lei 1.079/1950, que trata das hipóteses que autorizam a perda do cargo de Presidente da República.
A primeira acusação entendia que, ao atrasar o repasse de recursos para bancos públicos responsáveis pelo pagamento de determinadas obrigações públicas, a União teria contraído, de maneira ardilosa, crédito junto a essas instituições financeiras. O problema desta interpretação é que se trata da ampliação de uma categoria técnico-jurídica (operação de crédito), com a finalidade de imputar um crime de responsabilidade. Ou seja, em oposição ao que estudantes do primeiro ano de direito já sabem, deu-se conteúdo extensivo a um conceito jurídico para criar hipótese de delito, o que não é cabível no mundo civilizado. Ao se entender que o simples atraso no cumprimento de obrigação legal equivaleria a uma operação de crédito, considerou-se, comparativamente, como se uma pessoa que atrasa sua conta de água ou luz estivesse tomando empréstimo da fornecedora do serviço. Em síntese, um disparate jurídico.
O segundo argumento para a deposição da presidente eleita traduzia a acusação de que teriam sido expedidos créditos suplementares em descompasso com os limites autorizados em lei. Sem nos aprofundar nos meandros técnicos do direito financeiro, basta mencionar que o problema se ateve ao fato de que a lei que autorizou os créditos foi posterior à sua expedição, mas no mesmo exercício financeiro. O que acontece é que, novamente, qualquer vestibulando para a carreira jurídica sabe que o direito financeiro é regido pelo princípio da anualidade. Assim, a exorbitância ou não entre créditos suplementares e as autorizações legais deve ser considerada com base em valores e na legislação vigentes ao final do exercício. Este, aliás, sempre fora o entendimento dos órgãos de controle. Em uma ação de exceção, contudo, aplicou-se uma nova e antijurídica tese para destituir um mandato conferido pelo voto popular.
É preciso, ainda, constatar que o direito administrativo tem poucos consensos. Um deles ensina que a motivação é um elemento vinculado ao ato administrativo, ou seja, condiciona necessariamente sua validade e não está sujeita a variâncias discricionárias. Ocorre que, na sessão parlamentar da Câmara dos Deputados que votou o prosseguimento do processo de impeachment, não houve motivações baseadas nas assim chamadas “pedaladas fiscais”, mas exortações à bíblia, à família, e, anulando todo o processo com uma dose de horror e barbárie, uma homenagem à repugnante figura do torturador Brilhante Ustra. Abriam-se, assim, as cortinas de um palco onde o golpe ainda seria encenado em outros atos.
O regime de exceção fiscal
Consumado o golpe, o governante que assumiu o poder, Michel Temer (MDB), enviou ao Congresso Nacional uma Proposta de Emenda Constitucional que visava impor, no Brasil, a mais rígida meta fiscal vigente em todo o mundo. A medida fundamentou-se na noção, fartamente desmentida por estudos empíricos e teóricos, de austeridade fiscal expansionista. Segundo esta concepção, o aumento de tributos ou a redução de despesas (escolha do governo brasileiro) produziriam um ambiente de confiança junto aos credores da dívida pública que reduziria o respectivo risco, derrubando os juros e (zás!) provocando expansão da atividade econômica. Na prática, o que se verifica é que a contração fiscal gera retração econômica.
No caso brasileiro, determinou-se que as despesas primárias (excluído, portanto, o serviço da dívida) seriam congeladas em termos reais (corrigidas pelo IPCA) pelo prazo de vinte anos. A medida fora instituída no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e não estabeleceu exceções para situações como crescimento econômico, aumento demográfico ou necessidade de maior intervenção do Estado em decorrência de crises sociais. Assim, seja pelo critério do prazo, de rigidez ou de abrangência, impôs uma norma de austeridade sem igual em nenhum outro país.
Para além dos problemas econômicos, o teto de gastos implica consequências políticas. Não há significativa controvérsia na teoria política contemporânea quanto à percepção de que, sem margem fiscal, a democracia eleitoral se torna um simples espetáculo ou formalidade carente de consequências significativas. Ocorre que, sob rígida restrição orçamentária, como se dá no Brasil, é impossível produzir políticas públicas que reflitam, na ação governamental, as preferências expressadas nas urnas. O entendimento de que a dimensão fiscal é indecomponível da democracia congrega autores tão díspares teórica e ideologicamente como J. Schumpeter, R. Goldscheid, C. Tilly, C. Offe, C. Crouch e A. Downs. Este último, referência na aplicação da teoria econômica ortodoxa para o campo da ciência política, entende as eleições como competições entre orçamentos prospectivos. É lícito supor, portanto, que no Brasil o congelamento orçamentário equivale à imobilização da democracia.
O golpe, em síntese, retirou um mandato eleito com base em um argumento fiscal falacioso e, em seguida, operou um ataque à democracia igualmente situado no campo das finanças públicas. Trato mais detalhadamente desse assunto em três artigos científicos, que saíram nas revistas Dados, BGG e RSCP. Seria possível, àquela altura, imaginar que as instituições construídas a partir de 1988 resistiriam ao ataque e que, com as eleições de 2018, alguma “normalidade” liberal-democrática seria restabelecida. Não foi o caso, porém.
A eleição sabotada: a judicialização contra a integridade do sufrágio
Já há imenso acúmulo nos debates e análises sobre os rumos que a judicialização da política alcançou no Brasil – desde os escritos pioneiros de autores como Luiz Werneck Viana no final dos anos 90 até as atuais discussões sobre o chamado “Lawfare”. O tema tornou-se central para a compreensão do Brasil atual. A Operação Lava Jato, no início apoiada por alguns setores da esquerda, afastou todas as ilusões quanto à possibilidade de conquistar direitos ou inclusão social por meio da jurisdição. Ainda merece maior discussão, porém, o modo com que a indevida atuação do Judiciário interferiu na integridade das eleições de 2018.
É suficiente notar que, no início do ano, o candidato que liderava as pesquisas de intenção de voto, Lula (PT), fora impedido de disputar as eleições. O fundamento primeiro da retirada do ex-presidente da corrida eleitoral foi a confirmação, em instância superior, de sentença penal condenatória proferida pelo ex-juiz Sérgio Moro. Como se sabe, o juiz seria declarado suspeito para sentenciar o líder petista e sua decisão teria a nulidade declarada pelo STF.
É também de conhecimento comum o conteúdo de trocas de mensagens entre o magistrado e um integrante do órgão acusador que, no mínimo, afronta noções como devido processo legal e isonomia entre partes litigantes. O juiz suspeito, aliás, fora premiado com um ministério no governo de extrema direita de Jair Bolsonaro. É impressionante como não se debate e não se combate algo tão assombrosamente escandaloso em uma suposta democracia eleitoral: o líder nas pesquisas fora impedido de disputar com base em sentença nula, proferida por juiz suspeito que, em seguida, foi presenteado com um cargo de Ministro no governo que se elegeu sem a presença do nome de seu principal adversário nas urnas.
Nem mesmo descrições caricaturais sobre regimes de exceção em manuais de ciência política pensariam em um exemplo tão patente de violação ao mínimo que se espera em um regime pautado por eleições livres e justas. O governo decorrente dessa farsa, como seria de esperar, avançou no fechamento do regime.
A volta dos que não foram
O cientista político José Murilo de Carvalho publicou, após a eleição do capitão reformado Jair Bolsonaro, uma edição ampliada de seu importante livro sobre as Forças Armadas e a política no Brasil. Ao tratar da atualidade, o autor revela parcimônia e rigor, de modo que não adere às análises redutoras que tratam de um Partido Militar ou de uma conspiração dos generais contra a República. Isso não o impede de notar que a atual crise brasileira, já consideradas as suas especificidades, reverbera uma história republicana em que militares arbitram conflitos, quando não exercem o poder com mão própria.
De fato, desde 2018 o projeto político da extrema direita brasileira conta com o apoio dos militares. Naquele ano, o então comandante do Exército, General Villas Bôas, publicou em sua conta na rede social Twitter uma inequívoca ameaça ao Supremo Tribunal Federal (STF), com vistas à exclusão de Lula do processo eleitoral. Em seguida, o governo Bolsonaro loteou a administração pública federal entre militares, cuja presença em cargos comissionados dobrou em relação ao período anterior. Ademais, partiram da caserna integrantes de ministérios estratégicos do Planalto e um general da ativa, Eduardo Pazuello, que comandou o circo de horrores da gestão tão omissa quanto inepta do Ministério da Saúde durante a pandemia de COVID-19, com um saldo de mais de meio milhão de mortes evitáveis e escândalos de corrupção, hoje sob apuração em uma CPI.
Sempre que acossado, Bolsonaro lança mão das Forças Armadas, invariavelmente prontas para acudi-lo, como, por exemplo, no caso da nota conjunta do comando das três Forças Armadas e do Ministro da Defesa insurgindo-se contra o Parlamento, ao criticar pública e diretamente a CPI instaurada para apurar responsabilidades na gestão da crise sanitária que dizimou centenas de milhares de vidas. Sob o mesmo contexto, o comandante da Aeronáutica foi mais explícito e declarou que “homem armado não faz ameaça”. Posteriormente, um episódio tão cômico como trágico expressou-se na brancaleônica parada militar realizada em frente ao Palácio do Planalto horas antes da votação, no Plenário da Câmara, de um projeto que pretendia implantar o voto impresso, tema da agenda diversionista e golpista do governo.
O que ressai desta aliança entre a extrema direita e a caserna é um governo em que os militares: 1) demonstram pouco profissionalismo e exercem funções absolutamente alheias às suas competências, como o caso Pazuello indica de maneira emblemática; 2) insubordinam-se ao poder civil, como indicam as declarações políticas públicas e a ocupação do Ministério da Defesa por um militar; 3) não têm sua competência reconhecida em suas áreas de atuação e de autonomia no que diz respeito às suas questões específicas, como se vê na forma com que Bolsonaro conduz as Forças Armadas, ao se referir ao exército como “meu Exército” e desafiar adversários políticos com menções à sua força bélica; e 4) participam de uma ampla intervenção militar na política e uma ampla intervenção política no meio militar, como se vê diariamente.
Ocorre que os quatro elementos acima citados informam o que o insuspeito cientista político referenciado com a direita estadunidense, Samuel Huntington, entende como o mínimo “controle civil objetivo”, necessário aos regimes democráticos. Sim, nem mesmo para alguém como Huntington as relações entre Bolsonaro e as Forças Armadas atendem aos critérios mínimos esperados de uma democracia. Ao contrário, somos a antítese de cada um de seus quatro critérios. Onde há tutela militar, desaparece qualquer rastro de democracia constitucional. Desaparecem, igualmente, os limitados direitos e liberdades que se esperam em um regime liberal.
O eclipse das liberdades
Não há dúvidas de que o Brasil jamais foi o país das liberdades políticas e do livre exercício da oposição. Após 1988, houve formidáveis avanços, mas ainda nos mantivemos como o Estado responsável, para ficar apenas em exemplos emblemáticos, pelo Massacre de Eldorado dos Carajás, a repressão truculenta aos protestos de 2013 e o uso do aparato de inteligência contra ativistas que se opuseram à Usina de Belo Monte, para não nos estender a um sem-número de violações de direitos civis.
No governo de extrema direita de Bolsonaro, porém, as coisas se intensificam. Indicadores tímidos e regiamente enquadrados nos pálidos limites liberais já acusam os problemas ocorrentes no Brasil. O ranking de liberdade de imprensa da ONG Repórteres sem Fronteiras, por exemplo, classificou o país, pela primeira vez, em sua “Zona Vermelha” no ano de 2021, quando o Brasil passou a perfilar na 111a posição em um conjunto de 180 nações. Do mesmo modo, o índice V-Dem, elaborado a partir da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, atesta o país como o quarto com maior retrocesso democrático em 2020, atrás apenas de Polônia, Hungria e Turquia. Passamos a ser classificados meramente como uma “democracia eleitoral”, o que é ainda generoso e pouco refinado analiticamente, haja vista os vícios ocorridos no pleito de 2018.
Somos, igualmente, o país onde pessoas têm sido presas por portarem adesivos contra o governo, intelectuais são alvo de processos e tentativas institucionais de silenciamento e os órgãos repressivos parecem, cada vez mais, referenciados na voz subjetiva do Presidente do que em comandos objetivos decorrentes das normas. A repressão é, talvez, a única política pública em funcionamento no Estado brasileiro. Todo o restante parece definhar.
No hay banda: a realização da distopia ancap
Não cabe aqui uma apresentação mais detida da aliança celebrada entre o anarcocapitalismo de M. Rothbard e o chamado “paleoconservadorismo” dos Estados Unidos. O fato é que, em algum momento ao final do século XX, a agenda supremacista, tradicionalista, fundamentalista, patriarcal, autoritária e violenta do antigo conservadorismo, referenciado em uma identidade geopolítica e histórica com os derrotados Confederados, aliou-se ao libertarianismo mais extremo. Muitos anos depois, o surgimento de um líder como D. Trump ressoou esse ideário e se apropriou até mesmo da divisa que comungaram o conservador David Duke e um libertário como Murray Rothbard: “America First”. Como notou a socióloga Melinda Cooper em artigo publicado recentemente, as ações do republicano no governo – como bombardeio sobre a Síria e pontuais políticas econômicas lenientes com Wall Street – acabaram por semear fissuras entre paleoconservadores e anarcocapitalistas.
No Brasil, porém, esta distopia parece seguir um curso mais estável. Bolsonaro se mostra incrivelmente coerente com um discurso que proferiu ao visitar os Estados Unidos em seu segundo mês de mandato, diante de uma plateia de extremistas de direita. Na oportunidade, afirmou que sua prioridade seria, antes de criar ou realizar ações, desconstruir o que havia sido implementado em gestões anteriores. Esta lógica rothbardiana segue seu curso, e políticas historicamente consolidadas no campo da educação (ENEM, ENADE, expansão do ensino superior etc.), da saúde (vacinação em massa, atenção primária, redução de danos etc.) e da regulação ambiental (mapeamentos por satélites, fiscalizações por profissionais do Ibama, adesão a protocolos internacionais), dentre incontáveis outras, encontram-se à deriva, simplesmente abandonadas.
Não se trata de uma condução distinta, sob outras bases ou alternativa, da máquina pública. É, ao contrário, um abandono, uma omissão como projeto, um desmonte da atuação estatal, exceto no que diz respeito a seu aparato coercitivo. Com efeito, em fevereiro de 2021 Bolsonaro apresentou ao Parlamento um documento em que listava as 35 prioridades de seu governo, para as quais esperava tramitação prioritária. Salvo as relativas às matérias penais, todas compreendiam a destruição de estruturas ou marcos regulatórios existentes, sem nenhum teor de construção ou reposição de políticas ou direitos.
No governo Bolsonaro, a dissolução da democracia não ocorre apenas no plano do demos. Apaga-se, também, a dimensão do kratos, traduzida pelo helenista J. Ober como “capacidade para fazer as coisas”. Em um governo que desfaz, com a força das armas, tudo o que lhe precede, liberando o regramento jurídico-estatal para que outras formas tradicionais de poder dominem sobre os escombros do constitucionalismo (como o machismo ou o racismo), a aliança entre o velho conservadorismo e os ancaps consolida-se, aniquilando a democracia não apenas no plano da legitimação popular das decisões públicas, mas também no da própria existência destas.
O golpe está aí…
Ao menos desde 2016, o Estado brasileiro rasgou a sua fantasia liberal-democrática. Defender o regime de 1988 como algo que ainda se pode perder equivale a uma manifestação racional-legal e contemporânea de sebastianismo. A Nova República acabou. A história não volta. O regime não democrático diante do qual nos encontramos pode recrudescer, aumentar seu grau repressivo e aprofundar-se. O combate a esta possibilidade deve contar com todas as armas à mão: das eleições às mobilizações de rua, das ações judiciais às conversas em bairros, escolas e locais de trabalho, dos espaços virtuais aos encontros físicos que as condições sanitárias permitirem. Não se trata, todavia, de manter ou de resgatar o que já perdemos.
Há, adiante, uma luta difícil, mas capaz de trazer ventos de fato alvissareiros. O momento é de pensar em saídas que transcendam os desgastados limites do liberalismo constitucional e forcem a abertura das portas de nossa história para uma realidade ecossocialista, anti-imperialista, antirracista, feminista, contrária à heteronormatividade e radicalmente democrática. Não se trata de cogitar sobre um possível golpe futuro, mas de vencer aquele que já foi praticado no passado e torna-se mais profundo no presente, arriscando deixar o ar sociopolítico irrespirável no horizonte próximo.
Atar-nos a âncoras imaginárias, como o regime de 1988, para evitar um naufrágio golpista é, portanto, menos sábio do que preparar as velas e tentar navegar em um mar que nos conduza para além do constitucionalismo liberal.
Publicado orginalmente em: https://jacobin.com.br/2021/08/o-golpe-ja-aconteceu/