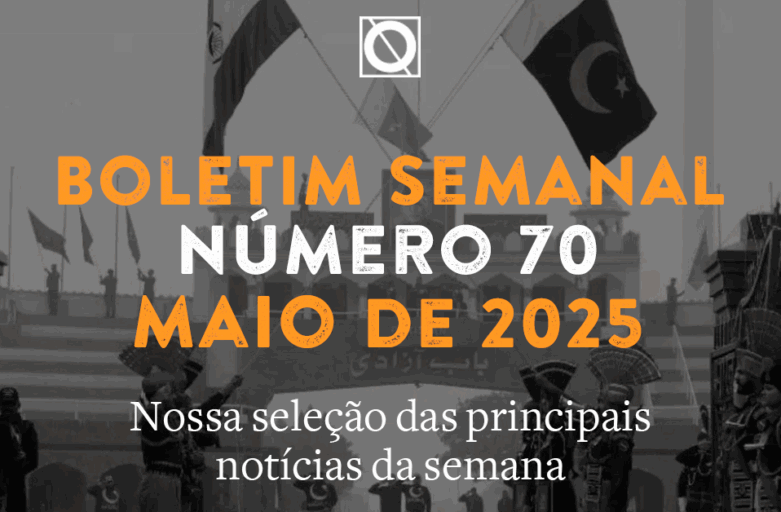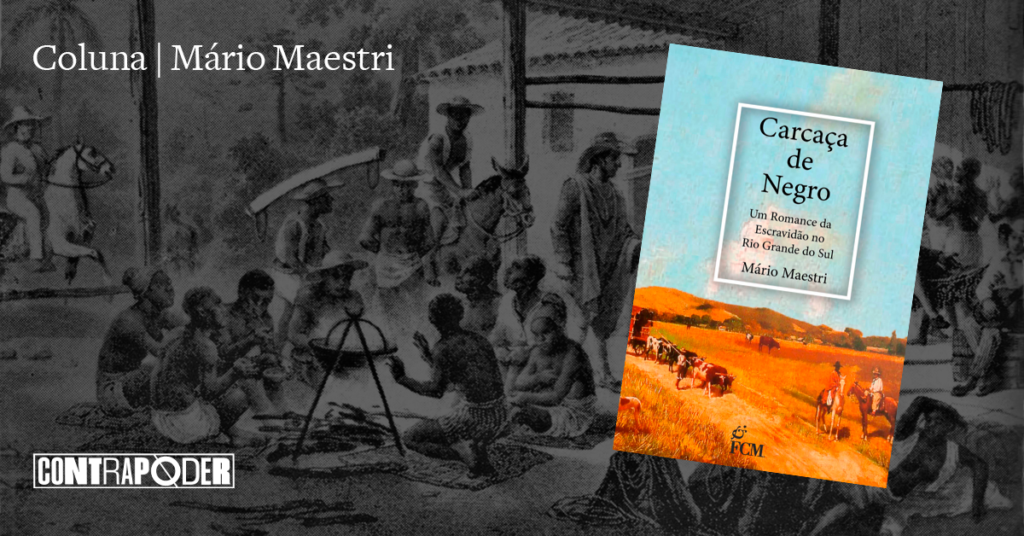
Transcrição da Live de lançamento do romance Carcaça de Negro, de Mário Maestri, no programa Fronteira Vermelha, em 19 de novembro de 2022. O entrevistador é o dr. Wagner Jardim, historiador.
Wagner Jardim: Mário Maestri escreveu e publicou, em 1988, uma breve e pioneira narrativa ficcional protagonizada por um trabalhador escravizado – o moleque Joaquim. Nos últimos trinta anos, Maestri ampliou substancialmente o texto, com novos cenários, novas personagens, novos enredos. Sobretudo, após realizar pesquisa de dez anos sobre a Guerra contra o Paraguai, para onde seu protagonista, o moleque e a seguir liberto Joaquim, é mandado como substituto do filho do seu patrão. Essa segunda edição de Carcaça de negro, com quase trezentas páginas, constitui praticamente um livro novo. E segundo quem entende do riscado, constitui uma narrativa ficcional histórica de indiscutível valor literário. Carcaça de negro foi o primeiro romance a ser publicado no RS sobre a escravidão e o trabalhado r escravizado.
Mário Maestri, como nasceu a ideia de escrever Carcaça de negro?
O nascimento de Carcaça de negro, em sua primeira versão, foi imprevisto. Em 1984, quando ensinava no Programa de Pós-Graduação em História da UFRJ, onde introduzi a disciplina História da África Negra Pré-Colonial e dirigi dissertações sobre a África Negra e a Escravidão Colonial, temas na época marginalizados pela Academia, decidimos, Florence e eu, ir viver alguns anos na Itália. Florence, minha companheira, italiana, mas nascida na Bélgica, conhecia pouco o país de seus pais. Queríamos que Gregório, nosso filho, com sete anos, estudasse em um colégio público de qualidade. Eu pretendia concluir um trabalho geral sobre a escravidão no Brasil para o I Centenário da Abolição da Escravatura, em 1988. Aquele livro terminou sendo lançado no Brasil, muito mal, e na Itália e na França, muito bem, em traduções da Florence. Pretendia, também, estudar melhor a escravidão greco-romana, o que me permitiu concluir o livrinho Escravismo Antigo, para a Atual, de muito longa vida.
Em Milão, inativo e sem conhecidos, sob um inverno rigorosíssimo, à espera – para continuar escrevendo o livro sobre a escravidão colonial – dos livros e notas de trabalho enviados por mar em quatro enormes malas de ferro, que demoraram três ou quatro meses para chegar, decidi escrever, para passar o tempo, um trabalho ficcional sobre a escravidão no Rio Grande do Sul, que estudava havia cerca de quinze anos. Em 1977, defendera, ainda no exílio, na Bélgica, dissertação de mestrado sobre a Angola pré-colonial, no Centre d´histoire de l´Afrique, da Universidade Católica de Louvain, onde voltei, em 1980, para apresentar tese de doutoramento sobre a escravidão colonial no Rio Grande do Sul, trabalho bastante centrado na charqueada escravista, com destaque para Pelotas.
Maestri, de onde surgiu o projeto de escrever literatura? Era vontade guardada no bolso do colete?
Não. Jamais me propusera um projeto literário. Mas, nesta vida, nada cai do céu. A literatura ficcional em prosa e em verso fora uma minha companheira de longos anos. Minha geração foi a última no Brasil a conhecer a televisão tardiamente. Então, a gurizada se dividia entre jogar bola e ler. E eu lia furiosamente. Muito jovem, quase menino, com uns doze anos, com acesso a duas bibliotecas familiares, de minha mãe e de minha avó, comecei a ler literatura ficcional, de forma obsessiva. Lia tudo, o que prestava e o que não prestava, no que fui incentivado pela rusticidade da escola privada religiosa que cursei, com turmas imensas, professores em geral pouco preparados e enfadonhos, e ensino apoiado sobretudo na memorização.
Escondido de meus pais, com uma toalha cobrindo a fresta debaixo da porta de meu quarto, para não filtrar a luz, lia até altas horas da noite e terminava quase dormindo na sala de aula, na manhã seguinte. Lia um ou até dois romances por semana, primeiro os de aventura, Tarzan, Salgari e coisas semelhantes, depois outros um pouco mais sérios e, finalmente, a boa literatura estadunidense, inglesa, francesa, alemã, lamentavelmente toda ela em traduções, algumas ótimas, da antiga Livraria do Globo, assinadas pelo Mário Quintana. Em 1967, quando da Ditadura Militar, então na escola de Engenharia da PUC, me incorporei ao movimento estudantil e acresci, de forma crescente, a narrativa política à literatura ficcional.
Entretanto, hoje vejo que os autores políticos pelos quais comecei e que, digamos, “fizeram minha cabeça” para sempre eram, praticamente, todos exímios escritores: autores estrangeiros como Isaac Deutscher, com a maravilhosa trilogia dos profetas, e León Trotsky, com sua história da revolução russa, o melhor escrito sobre uma grande revolução, do ponto de vista literário, histórico e político; do Brasil, lia nessa época Edmar Morel, Moniz Bandeira, Décio Freitas, etc.
Por orientação familiar recebida desde a infância, iniciara curso de Engenharia, na PUCRS, que não me dizia nada. Troquei-o pelo de História, na UFRGS, logo que pude. Em 1971, em razão da militância política, após a repressão desembarcar furiosa no Sul, me refugiei no Chile, onde vivi e estudei, até o golpe militar de 1973, no Curso de História da Universidade do Chile. Escapei do Chile pela Embaixada do México, país onde vivi diversos meses, antes de viajar para a Bélgica, onde pude obter refúgio político e terminar meus estudos de História, sem abandonar a militância política, ao lado de companheiros chilenos. Nesse período, li e reli clássicos da literatura francesa, no original, sempre que o tempo me permitia, para espairecer do pesado trabalho historiográfico e de militante.
Maestri, de volta ao Brasil, retornaste às leituras literárias ao lado das historiográficas?
Aí se deu algo interessante. Na volta, após seis anos de exílio, me servi da literatura ficcional brasileira, em prosa e verso, para meu trabalho como historiador, como fonte histórica, o que ampliei, mais tarde, quando lecionei no PPGH da PUC, onde desenvolvi com meus mestrandos e doutorandos um projeto totalmente pioneiro sobre a escravidão colonial no Rio Grande do Sul e no Brasil. Nesse trabalho, e em minhas pesquisas, servia-me da literatura brasileira do século 19 como fonte histórica, logicamente respeitando as especificidades desse tipo de fonte.
Nos anos noventa, uma minha orientanda, Marilia Conforto, escreveu uma dissertação pioneira sobre a escravidão, tendo como fonte primária um número considerável de romances – O escravo de papel: O cotidiano da Escravidão na literatura do século XIX. [CONFORTO, 2012.] Uma prática que ensejou, por longos anos, olhares tortos de colegas historiadores, que viam a literatura como puro produto da imaginação. Mais tarde, esse recurso metodológico popularizou-se. Ainda guri, me apaixonara também pela poesia brasileira do século 19 e começos do século 20, que li em livrinhos publicados naqueles anos, verdadeiramente preciosos, quase todos perdidos. Terminei escrevendo um estudo crítico sobre Castro Alves, A segunda morte de Castro Alves: genealogia crítica de um revisionismo, ampliado em uma segunda edição. [MAESTRI, 2011.]
Entretanto, jamais pretendi enveredar pela escritura de ficção, até por respeito à arte. Repito. Em Milão, em pleno inverno, um inverno que foi rigorosíssimo, com uma nevasca que cobriu os automóveis, fechado em casa, decidi, um pouco por brincadeira, sentar diante do pequenino Apple que comprara e iniciar um breve romance. Pensei inspirar-me no que vivera no Chile, mas terminei escolhendo, como tema, as vicissitudes de um cativo crioulo nascido e criado em uma charqueada sulina, do cativeiro até a alforria. Foi assim que nasceu Joaquim.
Em 1977-78, no Rio Grande do Sul, quando estava preparando minha tese de doutoramento sobre a escravidão sulina, defendida na UCL, na Bélgica, em 1977, visitei, com Florence, a cidade de Pelotas, então praticamente intocada em seu acervo arquitetônico soberbo, do século 19, quando do ciclo charqueador. Apaixonei-me literalmente pela cidade, hoje profundamente descaracterizada por novas construções e reformas dos antigos solares e sobrados. Com Florence, alugamos um pequeno barco, logicamente com um barqueiro, e subimos da foz do arroio Pelotas até um pouco além da última charqueada. Esse era o meio de locomoção e a estrada da época, e as sedes e construções das charqueadas se voltavam para o rio e se articulavam com ele. Era como entrar em uma máquina do tempo e viajar aos anos finais da produção charqueadora, ainda sob a escravidão. Uma excursão entre o fantástico e o mágico. Tudo isso está hoje semidestruído.
Maestri, no romance, a vila e o arroio Pelotas são inspiração da vila e do arroio Palhetas, não?
Sim. Uma inspiração sem compromisso cerrado com a realidade objetiva. Digamos, uma transfiguração ficcional! Creio que foi aquele cenário – sobretudo o arroio, com suas charqueadas principalmente na margem direita – gravado a ferro e fogo, até hoje, em minha memória, passados quarenta anos, que me ditou o tema a ser abordado. E, à medida que escrevia, era quase como se o fio do novelo de uma trama escondida em seu interior se desenrolasse independentemente de minha vontade, mostrando o caminho que eu deveria seguir. Era, porém, um fluxo de recordações, sentimentos, informações alimentadas pela leitura de uma enorme documentação sobre a questão. Fluxo mediado pela consciência, semiconsciência e inconsciência de que sofriam, logicamente, a censura e incorporações do autor. Algo um pouco assustador, para marinheiro de primeira viagem, habituado à narrativa historiográfica, onde se avança, seguindo um plano, apoiado em documentação metodologicamente tratada.
Muito logo, deparei-me com diversos problemas, que exigiram algumas soluções temerárias. O grande protagonista da novela era Joaquim, um cativo crioulo, mulato, que nasce e cresce em uma charqueada à beira do arroio Palheta. Propor seus sentimentos, desesperanças, objetivos de vida era imprescindível para os objetivos da narrativa que se ia delineando, na qual um dos principais narradores é o protagonista. Um processo fortemente arbitrário, ainda mais porque, no Brasil, praticamente não há depoimentos diretos de trabalhadores escravizados, como há, por exemplo, nos USA, abundantíssimos. Eu, entretanto, sempre me preocupei com a voz interior do cativo. Em 1988, salvo engano, publiquei os dois únicos depoimentos longos de ex-cativos, em Depoimentos de escravos brasileiros, pela Ícone. [MAESTRI, 1988.]
Nos anos 1990, um orientando meu, Agostinho Mário dalla Vecchia, no PPGH da PUC, durante sua dissertação de mestrado e tese de doutoramento coletou, analisou e editou, também pioneiramente, a memória de dezenas de velhos senhores e senhoras negros, em geral da região de Pelotas, na pós-Abolição. Um trabalho portentoso. Algo maravilhoso, na, digamos, monstruosidade dos cenários descritos. Os trabalhos foram mal publicados e distribuídos.
Joaquim me levara a um enorme e então insuperável impasse. Como um bom número de cativos de sua geração, ele fora alforriado para ir lutar como substituto na Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, que ocorreu de 1864 a 1870. Tomara, portanto, o lugar do filho de seu senhor, convocado para a guerra. E para isso, eu não tinha solução. Confesso que, do Paraguai, eu sabia não muito mais que a localização no mapa. Para mim, então, a população paraguaia era formada sobretudo de camponeses guaranis, como ainda seguem acreditando muitos dos mais reputados especialistas nacionais sobre aquele conflito.
E, aí, caro Maestri, o que fizeste?
Bem, servi-me da licença artística para sair do aperto. Lancei mão do direito do autor de torcer, desconhecer, etc. os fatos-realidade, para cumprir seus objetivos artísticos. Mandei o Joaquim, alforriado, para a guerra no Paraguai e o recebi, vivo, após o fim do conflito. E não lhe perguntei o que fizera naqueles anos terríveis. Dali, retomei a trama, concluindo rapidamente a narrativa, na Itália, nos meses de espera de meus livros e notas. Na época, como gostei de brincar de ficcionista, comecei uma ainda mais breve novela, concluída e publicada no Brasil em 1987, pela Editora Mercado Aberto – Caminho de sombras. Ela narra, em 73 páginas, de letra miúda, a reação de uma professora da rede pública de ensino quando da primeira greve do magistério público estadual, no final do Regime Militar. Greve que eu assistira como professor de história da Fundação Universidade de Rio Grande. Era para ser a primeira parte de três narrativas. Terminei a segunda, sobre um professor universitário que retorna do exílio e não reconhece o Brasil que encontra, mas jamais a publiquei.
Mas retornemos à Carcaça de Negro. A novela, com 105 páginas, ficara na gaveta e foi publicada, em junho de 1988, pela Tchê, pequena editora rio-grandense, de Airton Ortiz, já inexistente, com apresentação do jornalista Carlos A. Muller, com quem eu estabelecera fraternal relação ao trabalhar como correspondente internacional em Milão do Diário do Sul, publicado em Porto Alegre pelo grupo Gazeta Mercantil. Registro aqui meus agradecimentos a ambos.
Nas décadas seguintes, volta e meia retornei ao texto, corrigindo-o e ampliando-o. Entretanto, o hiato paraguaio afastava qualquer intenção de uma reedição. Mas, como se diz, se o homem põe, deus dispõe. Em 2008, por uma sequência inesperada de circunstâncias, iniciei um detido e ininterrupto estudo sobre a sociedade paraguaia e a Guerra da Tríplice Aliança, que durou uns dez anos, ao qual associei meus orientandos do PPGH da UPF. Visitei os principais palcos do conflito, no Brasil, no Uruguai, na Argentina, com destaque para o Paraguai, que percorri de fio a pavio. Foi certamente a investigação mais exaustiva sobre o conflito realizada nos últimos tempos. Ela foi apresentada em cinco livros meus, publicados em espanhol e em português, e nos trabalhos de meus mestrandos e doutorandos, muitos deles editados em português e em espanhol.
Então, em visita a Joaquim, homem de poucas palavras, ele me falou longamente de como vivera a Guerra Grande e as decorrências do conflito nos tempos subsequentes à sua volta. Contou-me coisas cabeludas, que viu e fez no Paraguai. Voltei então em forma decidida ao texto, metamorfoseando-o. De tudo isso, resultou um texto fortemente ampliado e modificado, quanto a novas tramas, novos personagens, novas paisagens, etc. A primeira versão tem cem páginas, a presente, três vezes mais. Diria que se trata de um texto quase novo que, entretanto, não se afasta da linha central da narrativa apresentada em 1988. Ainda mais que dependiam do enredo algumas surpresas, no estilo de novela policial, e a sustentação de visões gerais apresentadas no romance.
Maestri, Carcaça de Negro é o primeiro romance rio-grandense que tem como tema a escravidão e como protagonista um trabalhador escravizado, não?
Isso mesmo. Como assinalei, Carcaça de Negro nasceu quase por descuido, sem pretensões ou planejamento, em Milão, à espera de meus livros e documentação. E foi publicado numa época em que foram lançadas diversas centenas de trabalhos sobre a escravidão. Eu tinha consciências das limitações da narrativa, não apenas pelas razões expostas. O livro teve escassa divulgação e passou quase despercebido. Entretanto, a edição não foi pequena. Fiz dezenas de palestras, vendendo o livro, convidado por um animador cultural que valorizou uma abordagem ficcional séria da homossexualidade masculina nas charqueadas.
Alguns anos depois da publicação, um professor e pesquisador de Literatura entrou em contato comigo pedindo informações sobre o livro, para um manual que estava escrevendo sobre a literatura ficcional sulina – As bases da literatura rio-grandense. [BERNARDI, 1997.] Perguntei-lhe surpreso por que pretendia citar meu livro, no meio de tantas obras excelentes. Ele me explicou que Carcaça de Negro era o primeiro romance sulino sobre a escravidão tendo como protagonista um trabalhador escravizado. No livro, ele propôs: “Maestri, o único prosador que trata do negro escravo no Rio Grande do Sul […].” Compreendi, então, ainda mais surpreso, o inesperado destaque que a novela merecia, não por seu valor literário intrínseco, mas para a historiografia da literatura sulina.
Aquele pioneirismo não era de estranhar. Ao voltar do exílio, preparando minha tese de doutoramento, pude notar quão pouco interesse havia, na historiografia brasileira, pela escravidão negra e, ainda mais, pela África Negra Pré-Colonial. No Rio Grande do Sul, a ignorância e o desinteresse pela escravidão negra eram praticamente gerais. Tínhamos sobretudo o livro de Fernando Henriques Cardoso, diga-se de passagem, a única coisa decente que ele já fez ou escreveu. [CARDOSO, 2003.] Décio Freitas, referência nos estudos nacionais da escravidão, não pesquisara a escravidão no RS e quase nada escrevera sobre ela.
No Brasil, nas décadas finais do cativeiro, quando enfurecia a luta contra o trabalho escravizado, tivemos dois clássicos sobre o cativeiro. A poesia magnífica de Castro Alves e o livro A escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. Após 1888, nossa literatura ficcional em prosa praticamente esqueceu a escravidão e o escravizado, o que registra a qualidade daquela intelectualidade. Nesses anos, destacam-se sobretudo os romances do “Ciclo da Cana-de-Açúcar”, de José Lins do Rego, registro ficcional magnífico dos anos finais do cativeiro. [REGO, 2012.] No “Ciclo”, temos o belo romance O moleque Ricardo. Entretanto, é um livro menor em relação ao Menino de engenho e Fogo morto, magníficos. Em verdade, não contamos até hoje com um romance histórico sobre a escravidão, digno do nome, como o referente à imigração italiana, O Quatrilho, de José Clemente Pozenato, e O amor de Pedro por João, sobre a luta contra a ditadura e os anos de exílio, de Tabajara Ruas. [POZENATO, 1995; RUAS, 2014.] Nesse deserto aridíssimo, destaca-se a obra historiográfica Rosa Egipcíaca: uma santa africana no Brasil, de Luiz Mott, escrita em uma narrativa barroca magnífica. [MOTT, 1993.]
Maestri, como se sentiu um historiador profissional escrevendo um romance histórico?
Ao iniciar minha narrativa, como proposto, foi como se a história já estivesse pronta em meu inconsciente e fosse se desenvolvendo à medida que eu avançava, sempre um passo adiante de mim, surpreendendo-me sempre. Meu sentimento era que apenas policiava uma narrativa construída por visões, recordações, imagens emaranhadas em meu subconsciente. Como assinalei, era apenas uma impressão. Aquela e a versão atual da narrativa pressupunham um longo período de estudo e de reflexão sobre a escravidão colonial no RS e no Brasil e, mais tarde, sobre a Guerra contra o Paraguai. Este terrível conflito conta com diversas tentativas, de maior e menor qualidade, mas não possui ainda um grande romance histórico. A retirada da Laguna, do visconde de Taunay, é ainda o que temos de mais valioso sobre aqueles dolorosos sucessos, apesar de não ser ficção em prosa. [TAUNAY, 1894.]
Entretanto, ficção histórica e narrativa historiográfica são como duas irmãs que nasceram juntas, seguiram caminhos próprios e quase se estranharam, apesar de manterem uma indiscutível identidade original. A historiografia, com pretensão científica, na descrição da realidade, trabalha com categorias sociais. [MAESTRI, 2002.] Para a produção de uma categoria social, que descreva a realidade objetiva, em suas determinações fundamentais tendenciais, ela se serve dos dados empíricos, contextualizados, hierarquizados e tratados metodologicamente pelo historiador. A descrição da dinâmica do processo social, em suas tendências dominantes, exige a apresentação das interações tendenciais necessárias das múltiplas categorias em confronto. Trata-se de processo analítico em que as categorias expressam uma multiplicidade de fenômenos, digamos, idênticos, em um contexto histórico, como “proletariado industrial”, “burguesia comercial”, “escravo crioulo”, etc.
No romance histórico, o autor interpreta, em sua singularidade, tipos gerais, por mais particulares que sejam, e suas relações tendencialmente necessárias, no contexto descrito. Ou seja, os protagonistas personificam categorias sociais, expressando suas determinações centrais, através do desenvolvimento da trama. Joaquim Crioulo tenta expressar, nos atos, nos pensamentos, nas ações, uma infinidade de cativos que poderiam e possivelmente teriam se comportado como ele, em situações semelhantes. Portanto, sobretudo, os protagonistas de uma narrativa ficcional de viés histórico encenam, como no teatro, as ações tendencialmente possíveis de categorias sociais e de suas relações com o meio em que se encontram. Para tal, exige-se delas que não rompam com a verossimilhança. Que o proposto, nascido de um processo de elaboração subjetiva e imaginária, seja um reflexo artístico – reflexo não no sentido físico – da realidade que descreve. Que a narrativa proponha e sintetize, artisticamente, o que ocorreu ou o que poderia ter ocorrido no mundo objetivo. Nesse processo, a própria ruptura-transformação-negação da realidade que se narra processa-se para melhor apresentar as determinações centrais desta última. Aristóteles propunha que o poeta, ou seja, o ficcionista, “cria um mundo coerente em que os acontecimentos são representados na sua universalidade, segundo a lei da probabilidade ou da necessidade”. Não podemos esquecer que toda obra ficcional em prosa assenta os pés no mundo real em que o autor vive.
Na historiografia, temos que procurar, na medida do possível, superar a subjetividade na apresentação dos fatos narrados, não nos permitindo saltos lógicos desprovidos de referências factuais objetivas. A realidade sempre foi e é mais complexa do que a imaginação. Na literatura ficcional, com destaque para a de viés histórico, impõem-se momentos de forte construção subjetiva da narrativa, sobretudo ali onde falta a informação necessária, sob pena de, sem eles, produzirmos personagens truncados, que não falam, mas não são mudos, que não pensam, mas não são retardados, que não sofrem, sem serem insensíveis. Falharíamos, assim, na tentativa de reprodução e penetração sintética artística do objeto tratado.
Em uma narrativa sobre a escravidão brasileira, esse espaço nebuloso é ainda mais denso, já que são ainda extremamente raros os registros objetivos, diretos e indiretos, da subjetividade da população escravizada, ainda mais africana. Temos pouca informação sobre como ela falava, quais eram seus sonhos, quais eram suas visões de mundo, etc. E as deduções sobre essa realidade são sempre arriscadas. É nesse processo contraditório que o romance histórico se esforça para construir-se como “uma representação artística”, a mais “fiel” possível, “de uma era histórica concreta”. Narradores magníficos falharam na construção de romance histórico em razão do desconhecimento e pouco estudo de nosso passado. Em Romance histórico, Georg Lukács lembra que um romance histórico referencial surge da abordagem, por um poderoso e sensível ficcionista, de um tema histórico maior, que ele conheça profundamente, é lógico. [LUKACS, 2000.] Quanto mais a historiografia avança, o clássico O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, enfraquece-se como narrativa ficcional histórica. Ele fracassou, rotundamente, por exemplo, na apresentação dos trabalhadores escravizados sulinos, tema que o brilhante ficcionista e sua época conheciam muito mal. A descrição daqueles personagens é essencialmente ideológica. [MAESTRI, 2009.]
Mesmo os trabalhos historiográficos clássicos tendem a envelhecer e serem superados. Eles se mantêm, porém, como elos constitutivos fundamentais de uma corrente que jamais se esgota. Corrente que segue procurando representar em forma mais próxima a essência dos fatos objetivos. O mesmo acontece, de uma forma diversa, com o romance histórico. Um e outro, porém, e talvez o segundo mais que o primeiro, deixam registros importantíssimos, sobretudo sobre a época em que foram escritos.
Maestri, o livro traz uma apresentação bastante elogiosa do Juremir Machado da Silva.
Quando terminei a versão definitiva de Carcaça de negro, Florence, minha companheira, linguista e tradutora literária, elogiou-a além de sua obrigação. A Nara Machado, que participou da revisão, elogiou igualmente o livro. Não esperava menos da velha amiga e companheira. Confesso que gostei também do resultado. Mas, sobretudo na literatura ficcional, o sucesso, mesmo relativo, de uma obra que se conclui escapa ao autor. Uma obra historiográfica valoriza-se pelo que informa e propõe, e não pelo valor-pertinência de sua narrativa. Ainda que os grandes clássicos da historiografia sejam em geral exímios narradores. A obra ficcional é um pouco tudo ou nada. Ela é uma totalidade.
Então, colocou-se a questão de quem convidar para apresentar o livro. Tenho amigos e conhecidos que são ótimos críticos literários e, mesmo, ficcionistas. Passei em revista todos os nomes e cheguei ao incontornável. O Juremir Machado da Silva. Ele, além de ficcionista de sucesso, é autor de uma obra referencial sobre a escravidão no Rio Grande do Sul. Em minha opinião, uma das melhores realizadas até hoje – História regional da infâmia – uma análise crítica da produção historiográfica da história da Revolução Farroupilha. [SILVA, 2021.]
Sei o pesado que é receber um pedido de apresentação de um livro, ainda mais de quase trezentas páginas, no meio de nossos compromissos. Sobretudo quando é um pedido difícil de recusar, já que feito por um amigo ou de um conhecido. Apesar disso, pedi ao Juremir uma breve apresentação. Em verdade, ela me interessava sobremaneira pelas duas qualidades citadas: a de ficcionista e a de historiador da escravidão. Ou seja, mandei o livro para a banca de avaliação. E fiquei apreensivo, como o viticultor ao lado do provador profissional, que sorve um gole, mas não engole, faz alguns bochechos com ele e, sempre de cara feia, joga no chão o vinho, para então elogiar ou liquidar a esperança do proprietário da vinha. Confesso que esperei apreensivo, mesmo sabendo que, gentil como o Juremir é, ele tiraria de letra, avançando alguns cumprimentos protocolares.
A nota que recebi, publicada como apresentação, foi além do melhor que esperara. Respondi ao Juremir, agradecendo, nos seguintes termos: “Caro Juremir, ao ler teu comentário, voltei a ser o guri do Primário, no Anchieta, que passeava no pátio do recreio, de peito estufado, todo metido a besta, após o professor ter coberto de elogios sua redação diante da turma. Ou seja, fizeste uma criança sorrir pelo que resta de 2022 e todo 2023!”
Ou seja, era o sentimento de obra cumprida!
BERNARDI, Francisco. As bases da literatura rio-grandense. Porto Alegre: Age, 1997.
CARDOSO, Fernando Henrique. A escravidão no Brasil meridional. O negro na sociedade escravocrata do Rio Grande do Sul. 5. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
CONFORTO, Marília. O escravo de papel: O cotidiano da Escravidão na literatura do século XIX. Caxias do Sul: UCS Editora, 2012.
LUKACS, Georges. Le roman historique. (1956). Paris: Petite Bibliothèque Payot, 2000.
MAESTRI, Mário. A segunda morte de Castro Alves: genealogia crítica de um revisionismo. 2. ed. Passo Fundo: UPF Editora, 2011.
MAESTRI, Mário. Depoimentos de escravos brasileiro. São Paulo: Ícone, 1988.
MAESTRI, Mário. História e romance histórico: fronteiras. Novos Rumos, a. 17, n. 36, p. 39-44, 2002.
MAESTRI, Mário. O tempo, o vento e o negro: consolidação literária do mito da democracia pastoril: o cativo em O Continente, de Érico Veríssimo. Revista Espaço da Sophia, a. 2, n. 30, set. 2009.
POZENATO, J. Clemente. O Quatrilho. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1995.
MOTT, Luiz. Rosa Egipcíaca: uma santa africana no Brasil. São Paulo: Bertrand do Brasil, 1993.
REGO, José Lins do. O ciclo da cana-de-açúcar. [Box]. São Paulo: José Olympio, 2012.
RUAS, Tabajara. O Amor de Pedro por João. São Paulo: Leitura XXI, 2014.
SILVA, Juremir Machado. História regional da infâmia: O destino dos negros e outras iniquidades brasileiras (ou como se produzem os imaginários). Porto Alegre: LP&M, 2021.
TAUNAY, Alfredo d’Escragnolle Taunay. [1874]. A retirada da Laguna. Rio de Janeiro: Americana, 1874.
MAESTRI, Mário. Carcaça de Negro. Porto Alegre: FCM Editora, 2022. Ver em: https://clubedeautores.com.br/cart