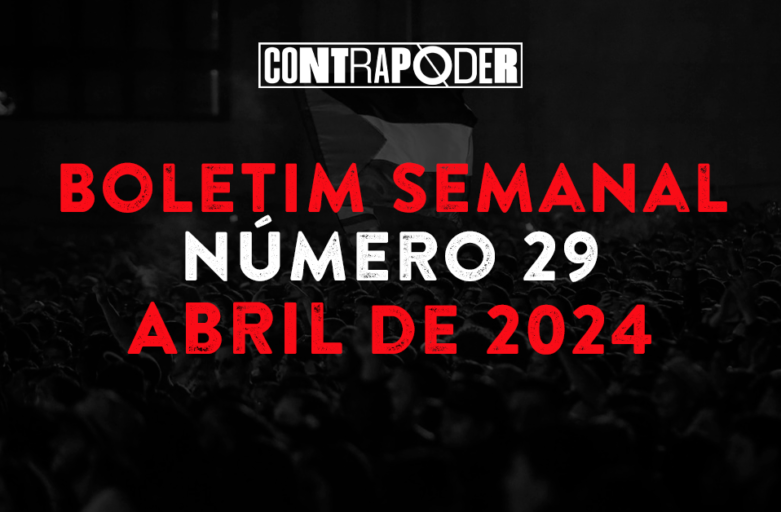Grupos políticos reivindicando-se do marxismo publicaram textos sobre o 13 de Maio e a Abolição, aproveitando aquele transcurso. Procuram superar o desconhecimento dos fatos com opiniões consolidadas que repetem o novo senso comum conservador, vendido como progressista. Denotam limitada preocupação para com o método marxista e a história da formação social brasileira, tida como desnecessária à definição de intervenção política nos dias atuais. [Entre outros, CEM FLORES, 2023; GARCIA & LOPES FILHO, 13/05/2023.]
Reitera-se a defesa da farsa abolicionista, de transição do trabalho escravizado ao livre, promovida pelas classes dominantes, sobretudo capitalistas. Apresentam como prova o fato de que, em 1888, os escravizados não foram indenizados e preparados para os novos tempos. Impugna-se a proposta de uma Revolução Abolicionista denunciando que os ex-cativos não conquistaram o poder. Impõe-se a denúncia do fim da escravidão como um engodo, pois os libertados nada teriam conquistado. [GARCIA & LOPES FILHO, 2023.]
A transição do trabalho escravizado ao livre no Brasil é questão complexa, que exige estudo da vasta informação documental, a ser tratada com o método materialista histórico. Entre outros textos, abordei essa questão em “Abolição: a revolução social vitoriosa do Brasil”, publicado em 14 de maio de 2023. [MAESTRI, 2023.] Nesse breve ensaio, na primeira parte, trataremos algumas questões relativas à transição entre modos de produção pré-capitalistas, com ênfase na referente ao escravismo clássico-feudalismo na Europa. Na segunda e na terceira, abordaremos a escravidão colonial e o caráter revolucionário da Abolição.
I. A LUTA DE CLASSES E TRANSIÇÃO INTERMODAL NA HISTÓRIA
A luta de classes tem como substrato o desenvolvimento das forças produtivas materiais e das relações de produção, que determinam níveis diversos de consciência dos seres sociais sobre os sucessos que vivem. Nos seus primórdios, o ser humano tem consciência mínima de sua ações. “[…] a produção de ideias, de representações, da consciência, está, de início, diretamente entrelaçada com a atividade material e com o intercâmbio material dos homens, como a linguagem da vida real.” . [MARX & ENGELS, 1993: 36.]
No devir histórico, o desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção permitem o avanço da consciência dos homens de seus atos e necessidades. Inicialmente, ela se apresenta sob formas alienadas, que expressam, entretanto, tendencialmente os interesses sociais singulares e contraditórios – crenças, religião, tradição, etc. As representações ideológicas nascem de emanações tendenciais das relações sociais, não são um constructo consciente.
Nesse contexto, constroem-se as visões contraditórias de opressores e oprimidos. As classes dominantes dominam a memória e a consciência, dificultando a elaboração e o conhecimento das percepções dos oprimidos. Entretanto, as visões desses últimos deixam traços na linguagem, nas tradições, nos provérbios, etc. e, sobretudo, nos seus atos de resistência e de oposição e no seu próprio devir histórico. [DOCKÉS, 1979: 28.]
A quase inconsciência primordial, que não impedia aos seres responderem às contradições que viviam, contrasta com o atual nível de consciência, devido ao avanço elevado da produção social. As contradições sociais foram sempre o motor de uma história que conheceu regressões e avanços. As visões anacrônicas, que projetam o presente no passado, dificultam a inteleção da determinação-relatividade do processo histórico.
Evolução na Europa Ocidental
Marx e Engels, para alavancar o avanço social, estudaram o desenvolvimento histórico na Europa Ocidental que levou à gênese e desenvolvimento do modo de produção capitalista – Comunidade Primitiva, Escravismo Clássico, Feudalismo e Capitalismo. É uma tolice propor que Marx tenha “retratado a história como uma progressão de fases desde a antiguidade, passando pelo feudalismo, até o capitalismo e daí para o socialismo” e que a Europa teria sido a “precursora de um caminho de desenvolvimento para toda a história mundial”. [TEDESCO, 2023].
Em sua investigação, Marx e Engels desvelaram o surgimento dos antagonismos estruturais no modo de produção capitalista que tenderiam a sua superação [socialismo e comunismo]. Processo que exigia, por primeira vez na história, além de condições objetivas, um alto nível de consciência e organização dos agentes da superação – as classes trabalhadoras. Enquanto exteriorizaram, no mundo das representações, as contradições internas da ordem capitalista, eles contribuíam para a organização político-social dos trabalhadores. [SANTOS, 2002.]
Apoiados no nível de conhecimento da época e nas necessidades de sua investigação, Marx e Engels descreveram aquela sucessão de modos de produção e de relações de produção, impulsionada pela luta social e apoiada em níveis crescentes das forças produtivas materiais, referindo-se à consciência possível dos homens sobre elas. Modos de produção com determinações singulares, comuns a mais de um ou gerais a todos eles – leis tendenciais monomodais, plurimodais, onimodais. [GORENDER, 2016: 194.]
Entretanto, são habituais as generalizações, das determinações singulares do modo de produção capitalismo, às sociedades pré-capitalistas, apoiadas no elemento geral unificador de todos os modos de produção: a exploração dos produtores diretos pelos detentores ou controladores dos meios de produção. Descuram-se as diferenças qualitativas de como o produtor direto é explorado, diferenças nascidas dos diversos níveis de desenvolvimento da produção social. O que determina formas diversas de extração de sobre-trabalho, de redução à submissão, de resistência, etc.
Singularidades
São igualmente singulares os processos transicionais entre modos de produção, que adquirem um caráter revolucionário quando se dão em um sentido histórico ascendente. “Em certo estágio do seu desenvolvimento, as forças produtivas materiais entram em contradição com as relações de produção existentes […]. De formas de desenvolvimento das forças produtivas, estas relações transformam-se em entraves das mesmas. Inaugura-se então uma época de revolução social.” [MARX, 1977: 35. Destacamos]
Na escravidão greco-romana, a oposição ao trabalho, a fuga, o justiçamento, as rebeliões, as insurreições foram as principais formas de resistência. A historiografia enfatizou as insurreições devido às suas similitudes relativas com as ocorridas nos tempos modernos e contemporâneos, na transição entre o feudalismo e o capitalismo e entre o capitalismo e o socialismo. Na transição do escravismo clássico ao feudalismo, a insurreição não desempenhou papel significativo e os escravizados eram já classe em decadência.
Marx e Engels detiveram-se com vagar na transição feudalismo-capitalismo e escassamente na passagem da escravidão clássica ao feudalismo. [ANDERSON, 1974: 18.] A partir do século 18, a historiografia idealista, historicista, positivista, etc. produziu trabalhos clássicos sobre a escravidão greco-romana e a “Queda do Império Romano do Ocidente”, explicada esta última sobretudo devido às invasões dos povos “bárbaros”.
No século 20, a produção escravista clássica e sua superação foram preocupações permanentes da historiografia marxista. Os historiadores soviéticos polemizaram fortemente entre si sobre as razões da crise da escravidão e sobre o papel do escravizado. [PETIT, 1986: 23-47.] Um interesse geral que arrefeceu após a vitória da contra-revolução neoliberal assinalada pela dissolução da URSS, em 1989-91.
A Superação da Escravidão
Sobretudo na República, o escravismo romano conviveu com incessantes movimentos servis insurrecionais, com sentidos e conteúdos variados quando dos tempos da conformação da produção escravista e dos de sua maturidade. As evoluções do modo de produção e da formação social escravista romana determinaram igualmente as formas e sentidos da luta de classes. [STAERMAN & TROFIMOVA, 1982: 252.]
Muitos movimentos insurrecionais iniciais tiveram um forte componente nacional, étnico e político. As três grandes sublevações de Roma Republicana, em 138-32 e 105-101, na província siciliana, e, em 73-71, na península itálica, aterrorizaram os escravistas. Mas fracassaram e não destruíram a escravidão, o que jamais propuseram. Sequer foram registros de crise do regime escravista, em verdade, em consolidação. [STAERMAN, 1981: 66.]
Nos decênios iniciais do Império, cessaram as grandes insurreições, possivelmente devido à lembrança das derrotas passadas, ao aprimoramento da repressão, ao esforço de gestão ideológica dos cativos, à consolidação da produção escravista pequeno-mercantil rural, etc. Seguiram, entretanto, as fugas; os roubos; os justiçamentos, as maldições, os atos de feitiçarias, as maldições dos cativos contra os amos; pequenas revoltas, etc. Sobretudo no Império tardio, “os escravos, os colonos e os camponeses começaram a agir juntos contra os ricos proprietários e sucessivamente contra o governo de Roma.” [Idem, 253, 255. 258.]
A escassez de cativos
Ainda hoje, se propõe a crise do escravismo romano como nascida do esgotamento da expansão territorial e, portanto, da abundância de cativos nos mercados. O que teria levado à destruição do então enfraquecido Império Romano do Ocidente, no século quinto, quando das “invasões bárbaras germânicas”. Não se explica por que as fortalecidas legiões romanas soçobraram, naquele momento, diante de tribos que haviam derrotado e submetido.
Em 1974, em Passages from Antiquty to Feudalism, Perry Anderson abraçava ainda essa interpretação. A incapacidade de reprodução vegetativa da população escravizada teria selado a sorte do Império do Ocidente. “Ao se fechar definitivamente a fronteira imperial” o “poço fundo dos prisioneiros de guerra secou inevitavelmente”. O que teria ensejado, a partir do século terceiro, uma crise geral que desembocou “no radical colapso da tradicional ordem política” romana, devida aos “ataques esternos”, no século quinto. [ANDERSON, 1978: 68, 73.]
Historiadores marxistas especializados na Antiguidade definiram a luta centenária dos escravizados como a contradição central que criou as condições gerais para a crise final da hegemonia do modo de produção escravista antigo, quando ele entrou em esgotamento. Pressão por autonomia e melhores condições de existência que, no Baixo Império, favoreceu a metamorfose da produção e das relações de produção escravistas que entravavam o avanço das forças produtivas materiais. Modo de produção escravista que, nos sete séculos anteriores, avançara a produção social, e fora a base do apogeu da civilização romana.
Uma longa evolução
Aquele movimento materializou-se durante séculos através de caminhos múltiplos. A escravidão mediterrânica nasceu da exploração de, em geral, um a três cativos, em pequenas unidades agrícolas e artesanais de subsistência. A expansão territorial de Roma, primeiro no Lácio, a seguir, na resto da Itália e, logo, através de importantes regiões da Europa, Ásia e África, lançou no mercado multidões de cativos. [STAERMAN, 1981: 82; BREEZE: 2019, 25.]
A abundância de cativos não produziu, mas apenas potenciou, um modo de produção e relações sociais escravistas, já em consolidação. Nos dois séculos antes e após nossa era, no mundo romano, dominou a produção a villa rustica, que assumira papel de destaque no escravismo grego maduro. Ela funcionava com uma dezena, ou pouco mais, de hectares de terra e de cativos agricultores e era orientada para o mercado, com a esfera de subsistência claramente dependente. O modo de produção escravista pequeno-mercantil conheceu apogeu, nos dois séculos antes de nossa era, e crise, nos dois séculos que se seguiram a ela. [KUZISCHIN, 1984: 5; GARLAN, 1995; GLOTZ, 1973; MAESTRI, 1987.]
Em meados do segundo século do Império, fortaleceu-se a tendência à concentração fundiária. Tudo parecia apontar para a superação do modo de produção pequeno-mercantil pela propriedade latifundiária mercantil escravista, com centenas de cativos e milhares de escravos. Por razões múltiplas, essa transição fracassou. Ela forma de produção surgiria em forma dominante, nas Américas, mil anos mais tarde.
A transição da produção pequeno-mercantil intensiva para a grande produção escravista extensiva constituía regressão produtiva. A primeira forma de exploração servia-se da cooperação simples e da divisão do trabalho, o que não era possível, no latifúndio escravista, que não se adaptava à produção de vinho, de azeite, de figos, etc., produtos de extrema importância no comércio mediterrânico. [COLUMELLA, 1977.]
Exploração homogênea
A triticultura era produção sazonal, com interregno agrícola entre a semeadura e a colheita, durante o qual os cativos inativos deviam ser mantidos. O mercado consumidor de grãos era restrito e em retração; os limitados meios de transportes não aquáticos dificultavam sua distribuição. Eram necessários grandes investimentos de vigilância e coerção para manter centenas de cativos na produção. Na Sicília, essa forma de exploração facilitara as grandes sublevações servis. [STAERMAN, 1981: 92; KUZISCHIN, 1984: 116.]
O colonato nasceu desse impasse. Ao lado da exploração escravista direta, os agora latifundiários arrendavam, por renda monetária, sítios para homens livres – colonus. Da renda monetária passou-se à renda em espécie, quando sobretudo a flutuação dos mercados levou o colono à insolvência e a abandonar a exploração. O colonato mostrou sua superioridade sobre a exploração escravista. [KUZISCHIN, 1984: XIX.]
Plínio, o Jovem (62-114), pronunciou-se pioneiramente sobre esse trânsito: “O remédio [para essa realidade] é um só, darei em aluguel a terra, não por uma soma de dinheiro, mas por uma quota da colheita.” A partir do terceiro século, avançou a exploração heterogênea dos latifúndios homogêneos. Seguiram, entretanto, as vilas rústicas tradicionais e as pequenas produções de subsistência. [KUZISCHIN, 1984: XIX.]
Cuidando dos seus filhos
O colono não exigia vigilância estrita. Ele geria a gleba e esforçava-se na sua exploração, já que o produzido, além do arrendamento pago ao proprietário, era seu. Tratava com cuidado as ferramentas e animais, comumente de sua propriedade. O que permitia o uso de instrumentos produtivos mais refinados. Sobretudo, o colonato livrava o proprietário da necessidade da “inversão inicial de aquisição” do trabalhador escravizado, para iniciar uma exploração ou introduzir novos trabalhadores. [GORENDER, 2016: 612; BLOCH, 1984.]
Os colonos geravam e ocupavam-se de seus filhos, para acrescer a sua mão de obra, como segurança para a velhice, etc. [MEILLASSOUX, 1977.] Quando os filhos cresciam, o proprietário concedia uma gleba ao novo colono. Ao contrário do escravismo, o colonato reproduzia naturalmente a mão de obra que necessitava, produzindo ideologia natalista apoiada a seguir pela Igreja com medidas repressivas. [FONSECA, 1995.]
Os trabalhadores escravizados pressionaram para conquistar o status de colono – resistência no trabalho, sabotagem dos instrumentos, fugas, revoltas, etc. Eles conheceram uma demorada transição de servus, submetidos plenamente ao arbítrio do escravizador, a “servos da gleba”. Com o passar dos tempos, em um contexto não homogêneo, o status do “servus casatus” identificou-se com o do colonus, como servos da gleba.
Inicialmente, a concessão de gleba ao cativo era decisão revogável. Mais tarde, por lei, o cativo não pode mais ser vendido sem a gleba. Nessa transição, o antigo servus assumiu situaçãojurídica e consensual entre o colonato e a escravidão. Era um quasi colonus. “O escravo a quem o amo não pode ´comprar, vender, matar como gado´, e que possuí, ainda sem direito de propriedade, meios de produção, não era já um escravo no sentido absoluto do termo.” [STAERMAN, 1981: 73, 84.]. A transição revolucionária da escravidão ao colonato devia-se a que o escravizado estava separado das condições necessárias à produção dos seus meios de subsistência e o colono, um camponês dependente, geria aquelas condições de produção.
Classe em declínio
Aquela transição não constituiu uma evolução revolucionária ao igual da conhecida na transição do feudalismo ao capitalismo e do capitalismo ao socialismo. “Os escravos, com suas lutas, aceleraram a transição a novas formas de exploração, mas, como demonstrou Engels, não puderam liberar-se por meio da insurreição.” Não puderam e não podiam, já que historicamente eram incapazes de propor modo de produção superior ao em superação. E eram classe em declínio, ao igual do que ocorreu no Brasil, nos anos 1880, como veremos. [Idem, 78.]
Os escravizados participaram do bloco revolucionário que abriu caminho às novas formas de propriedade e exploração. Movimento surgido das “rebeliões dos camponeses, dos colonos e dos escravos que se tinham unido a elas, das invasões dos povos não romanos, dos movimentos separatistas nas províncias, da passagem do campesinato ao patronato, e também [de] fenômenos como a fuga […] dos escravos, dos pequenos proprietários, dos colonos imperiais, etc. em direção da grande propriedade.” [Idem, 79.] Ou seja, movimentando-se em busca de relações camponesas dependentes.
No Brasil, em 1850, o fim do tráfico transatlântico levou a uma elevação em flecha do preço do cativo, vendidos das cidades e de todas as regiões do Brasil para as fazendas cafeicultoras. [CONRAD, 1985.] Em Roma, ao contrário, com a gênese do colonato, conheceu-se decréscimo do preço do trabalhador escravizado. E os cativos aprisionados nas guerras não alimentavam mais a escravidão, mas o colonato! [STAERMAN, 1981: 69.] Fenômeno descurado pelos defensores da tese da crise da escravidão motivada pela queda na oferta de cativos.
Transição revolucionária
A transição revolucionária através do colonato extinguiu o domínio das relações e do modo de produção escravista. Criou nova superestrutura, quanto às formas de governo, à ideologia, às formas de propriedades, etc., abrindo passo à hegemonia do modo de produção e das relações feudais de dominação na Europa Ocidental, em evolução histórica ascendente. Um processo que exigiu um longo período, em algumas regiões, para se materializar plenamente.
A nova realidade foi aceita e impulsionada pelos explorados, já que lhes garantia conquistas ainda que relativas, no duro contexto da nova forma de exploração. Nessa transição revolucionária, os trabalhadores escravizados não se transformaram em classe dominante. Não foram, nem mesmo, emancipados plenamente e, muito menos, “indenizados”. Obtiveram direitos liliputianos de autonomia civil; de gerir com certa autonomia a gleba; de domínio-propriedade relativa dos seus meios de produção e de suas famílias.
Em geral, os servos da gleba seguiram conhecendo formas duríssimas de exploração, vergados pelos tributos em espécie, pequeno pagamento monetário, obrigação em trabalho e outras aos proprietários, etc. Com o crescimento da população rural, as glebas concedidas tenderam a diminuir em tamanho e a acrescer as rendas exigidas. A exação era tal que servos da gleba fugiam para as florestas, tornavam-se assaltantes, procuravam terras livres, etc. [BLOCH, 1968.]
A organização feudal expandiu a produção social, em favor dos proprietários feudais, não mais escravistas, com ganhos limitados, mas reais, aos produtores diretos. A nova realidade ensejou novas formas de resistência, de objetivos de classe, de consciência. Mesmo se a fuga seguiu constituindo forma de libertação, os servos da gleba lutavam pela liberdade civil, pela diminuição dos encargos feudais. A Europa feudal conheceu rosário de violentas revoltas camponesas, comumente travestidas de roupagens religiosas e místicas, não raro propondo mundo apoiado no trabalho, sem exploradores.
Nova Exploração, Novas Lutas
Por diversos caminhos, a luta dos produtores diretos impulsionou o fim da “servidão da gleba”, mantendo-se os tributos sobre a terra que exploravam. No ocaso do feudalismo, direitos feudais foram abolidos, dando lugar a formas diversas de “arrendamento”, de “venda” da terra pelos grandes proprietários, em condições mais ou menos desfavoráveis.
A destruição da ordem feudal alcançou sua forma mais elevada com a expropriação e divisão das terras da nobreza e do clero, sem indenização. Entretanto, na França revolucionária, as terras do clero e da nobreza foram apropriadas sobretudo por segmentos populares enriquecidos, originando uma classe camponesa opulenta, um dos apoios da industrialização do país. Parte substancial dos despossuídos seguiu vendendo sua força de trabalho, livremente, nas cidades e nos campos, em condições muito duras.
Foi a fração burguesa da classe dominante que embolsou o poder. Os novos explorados, com destaque para os trabalhadores urbanos, que conquistaram sobretudo direitos civis relativos, empreenderam as mobilizações proletárias da Primeira República francesa. [GUÉRIN, 1973.] O novo patamar de desenvolvimento da produção social permitiu-lhes ascender à consciência de suas necessidades e da superação do capitalismo, como registrou a Comuna de Paris, em 1871. [DOMMANGET, 1971.] Naquele ano, no Brasil, os trabalhadores escravizados eram ainda propriedades de seus exploradores e a chamada Lei do Ventre Livre desarticulou, por longos anos, o movimento abolicionista. [CONRAD, 1975.] .
As revoluções pré-capitalistas, não raro quase impercetíveis, ensejavam ganhos relativos, limitados, mas objetivos, aos oprimidos, que não se alçaram jamais à classe dominante. Em geral, as revoluções da organização social ensejaram novos segmentos sociais dominantes, não raro, surgidos no interior ou em associação com as classes dominantes do passado.
Revolução como Possibilidade
É anacronismo exigir que as transições intermodais pré-capitalistas se realizem à imagem e semelhança das ocorridas na era capitalista. Que elas se deem sob a direção de vanguardas revolucionárias organizadas, com programas políticos explícitos, realizando a emancipação política, econômica e social plena e substancial dos oprimidos, etc. No frigir dos ovos, espera-se que movimentos sociais em contexto de escasso desenvolvimento das forças produtivas e de consciência sobre os fenômenos vividos materializem objetiva e subjetivamente o programa da revolução socialista. Pretende-se que os Flintstones inventem o telefone!
O ex-cativo “promovido” a “servo da gleba” não tinha consciência que movia a história, abandonando a escravidão, entrando no feudalismo. Que seria objeto de estudo dos historiadores de séculos mais tarde. Durante milênios, mesmo quando conheciam avanços relativos nas condições de exploração, os produtores diretos -trabalhadores escravizados, servos da gleba, foreiros, etc.-, não foram, como historicamente não podiam ser, emancipados social, política e economicamente.
Exige-se da Abolição, em 13 de Maio de 1888, para ser reconhecida em seu significado social e político, que os ex-trabalhadores escravizados, além da liberdade política, recebessem, como concessões dos exploradores, leis e direitos sociais que surgiram das lutas proletárias do mundo capitalista adiantado – e se encontram, atualmente, em franco processo de reversão, no contexto da maré contra-revolucionária que varre o mundo desde os fins dos anos 1980.
Apenas o desenvolvimento robusto da produção capitalista cria as condições materiais para uma eventual emancipação social relativa, mas substancial, no aqui e no agora, em direção à superação do reino da necessidade, com os oprimidos alçando-se à classe dominante. Paradoxalmente, no Brasil de hoje, onde a riqueza social já permite à população direitos universais à educação, à saúde, ao trabalho, etc., e, mesmo, a uma organização socialista, exige-se bondosamente do governo apenas uma tímida política de cotas, para alguns afortunados, enquanto multidões de jovem de todas as cores permanecem marginalizados socialmente, e se aceita salário mínimo que institui forma de escravidão assalariada, etc.
II. CATEGORIA, REALIDADE E LUTA DE CLASSES
As abordagens apressadas e ideológicas da Abolição às quais nos referimos na introdução do presente texto servem-se comumente de categorias improvisadas. Ignoram a epistemologia científica que exige que elas descrevam, em forma unívoca e historicamente contextualizadas, as determinações centrais das realidades a que se referem. [GORENDER, 2016: 83.] O que exige, no presente caso, conhecimento mínimo da antiga formação social do Brasil.
Usam-se os vocábulos “negro” e “branco” como sinônimos, respetivamente, de “trabalhadores escravizados” e “escravizadores”. Utilizados durante o escravismo colonial, eles não são funcionais à descrição das formações escravistas. É habitual a invasão de terminologias usadas pelas classes dominantes do passado das ciências sociais contemporâneas, mesmo quando se procura superar as visões alienadas do passado. [CARBONI & MAESTRI, 2012.]
“Negro” e “branco” são termos imprecisos e polissêmicos, com sentidos variados segundo regiões e épocas, descrevendo realidades epidérmicas, étnica e sociais. Um negro pode ser tido como branco em situações diversas. Quando do escravismo, “branco” não descrevia necessariamente o escravizador, já que nem todos os europeus possuíam cativos. Negros, mulatos, mamelucos, caboclos, cafuzas, etc., proprietários de cativos, eram designados e vistos como “brancos”. Não era a cor, mas a posse de cativos que definia o segmento social dominante.
Estratégias Matrimoniais
“Negro” não pode ser usado como sinônimo de trabalhador feitorizado. No Brasil, nos primeiros tempos, o escravizado foi um nativo – “o negro da terra”. Mesmo quando a escravidão de africanos era hegemônica, os brasis seguiram sendo escravizados sobretudo nas regiões de economia menos rica. Essa realidade manteve-se mesmo após a sua proibição por lei, em 1755, pelo marquês de Pombal. [MAESTRI, 1995; MARCHANT, 1980; MONTEIRO, 1994: VAINFAS, 1995.]
No Brasil, havia negros escravizados, libertos, nascidos livres, aquilombados, etc. Não raro, africanos e afrodescendentes livres possuíam cativos, em geral, em pequeno número, integrando a classe escravista. [LUNA, 1981.] O que coloca a questão do porquê da inexistência de segmento social médio e proprietário negro estável, mesmo diminuto, na Colônia, no Império e na República Velha, como nos USA, sobretudo após a Guerra da Secessão [1861-65.].
No Brasil, entre outras razões, no contexto de relações inter-raciais mais fluídas, até as últimas décadas, essa ausência deve-se sobremaneira ao esforço de negros enriquecidos de se diluírem por casamento na população branca, para defender, consolidar e avançar o movimento de progressão social empreendido. [DOMINGUES, 2002.]
Abordei essa questão, que me foi posta inúmeras vezes por alunos, em linguagem ficcional em prosa, em romance histórico pioneiro sobre a escravidão sulina, Carcaça de negro. Ele tem como protagonista um trabalhador escravizado charqueador, com descendência integrada à sociedade oficial. [MAESTRI, 2023 A.]
Trabalhador Escravizado
“Trabalhador escravizado” é a categoria que em forma mais precisa descreve a relação de dominação do produtor direto na escravidão colonial. Ela abarca todas as etnias submetidas a essas relações de dominação e enfatiza seu objetivo central: reduzir à escravidão um trabalhador para que produzisse sobre-trabalho e acumulação escravista de capitais. [GORENDER, 2016: 590.] E estabelece o nexo intrínseco, na descontinuidade, entre a forma de trabalho no Brasil, no passado [escravizada] e no presente [livre].
Em geral, o trabalhador escravizado faz parte da ancestralidade biológica do brasileiro com afro-ascendência. Ainda que possa não fazer parte de sua ancestralidade sociológica, caso ele não pertença político-ideologicamente ao campo do trabalho. No Brasil, o trabalhador contemporâneo de qualquer cor descende sociologicamente do escravizado. E, em um sentido lato, os que se posicionam objetiva e subjetivamente no campo do trabalho são descendentes sociológicos dos escravizados.
“Trabalhador escravizador” enfatiza que, no Brasil, o mundo do trabalho afunda suas raízes na escravidão, onde o fator étnico foi relevante, porém subordinado à determinação econômica. É leviandade histórico-ideológica propor passado onde os “brancos” exploraram os “negros”, nos últimos “quinhentos anos”, atualmente um verdadeiro axioma do identitarismo no Brasil. (CARNEIRO: 2000, 24-9.)
Natureza Escrava
O uso da categoria “escravo” é desaconselhado, devido à sua impregnação aristotélica. Ele sugere que a escravidão não nascia das circunstância [captura, guerra, etc.] que podiam ser superadas, com retorno ao status livre pleno [fuga, emancipação, etc.] Ela expressa a concepção da escravidão como o destino de indivíduo com uma natureza inferior, nascido para ser gerido por um ser superior, pretensamente em seu próprio proveito. Essa produção ideológica do escravismo grego foi assimilada pelo mundo romano, feudal, etc. [ARISTÓTELES, 1957.]
Aristóteles propunha que a inferioridade do “escravo” por natureza espelhava-se em inferioridade corporal. Proposta de difícil materialização no mundo greco-romano, onde os escravizados eram de múltiplas etnias e, não raro, das mesmas dos escravizadores. [BRIZZI, 2017.] A proposta ideológica da diferença de natureza entre o escravizado, inferior, e o escravizador, superior, tornou-se mais operativa quando da escravidão colonial. Nela, os negro-africanos tinham fenótipos diversos aos europeus, brancos, e níveis culturais relativamente inferiores. O que ensejou o racismo negro que, certamente, não aumentou ou foi invenção da pós-Abolição!
No Brasil, até onde nos foi possível ver, os escravizados se autodesignavam mais comumente como “cativos” e se referiam à escravidão como “cativeiro”, categorias de campos semânticos diversos aos dos vocábulos “escravo” e “escravismo”. As categorias “escravo” e “escravidão” se apresentam como neutras, descrevendo situação jurídica sem história. “Cativo” e “cativeiro” apontam para realidades transitórias, nascidas da desfortuna pessoal, uma captura. [MAESTRI, 1988.]
Ser e estar
Em geral, o africano escravizado conhecia sua origem e a captura como a razão de sua situação, mantida pela coerção física. Ele sabia estar cativo e não ser cativo. E que podia se libertar sobretudo pela fuga. E, para alguém ser cativado, é necessário um agente da captura – o negreiro, o escravizador, etc. A categoria estabelece relação de desigualdade, nascida de ato apoiado na violência.
Passa despercebido que a categoria étnica “negro” é de origem sobretudo europeia. Ela era desconhecida nas regiões da África não penetradas por europeus, que não se viram como brancos até ter contatos sistemáticos com não-brancos. É igualmente aproximativa a designação de africanos para os homens e mulheres arrancados da África. O mesmo podendo-se dizer até tempos recentes do designativo europeu. Na África e na Europa viviam povos de culturas, de línguas, de etnias e de cores múltiplas.
Essas imprecisões contribuem para a indignação anacrônica com a contribuição e enriquecimento de africanos ao tráfico transatlântico. Através do mundo e na África Negra, as comunidades foram sempre perpassadas pelas contradições de classe, de sexo, de idade, de nação, etc. [MEILLASSOUX, 1995.] As contradições essenciais foram sempre sociais, mesmo quando se materializavam em contradições de etnias, de línguas, etc.
As designações “senhor de escravos”, “amo” e mesmo “escravista” encontram-se também incrustadas de conteúdos de classe, chegados comumente dos tempos da escravidão. “Senhor” ou “amo” sugerem excelência, superioridade, em oposição a ser inferior. A categoria “escravista” escamoteia a violência do ato social que seu agente produz. “Escravizador”, ao contrário, explicita a submissão, através da violência, do “escravizado”, origem da oposição essencial econômica entre eles.
III. BRASIL, 1888: A REVOLUÇÃO ABOLICIONISTA
A superação final do escravismo colonial, em 13 de maio de 1888, ocorreu em contexto histórico pré-capitalista. Quando da Abolição, os cafeicultores escravistas sequer tinham capital monetário suficiente para pagar os novos assalariados, nacionais e imigrados. Eram sobretudo detentores dos meios e condições materiais de produção – a terra, ferramentas, maquinaria rústica, etc.- e, sobretudo, a força de trabalho escravizada, o bem mais valioso.
O “Encilhamento”, promovido por Rui Barbosa, primeiro ministro republicano da Fazenda, deveu-se também à necessidade de acudir os cafeicultores, em crise de liquidez. Os proprietários de cafezais de “terras cansadas” faliram com a Abolição, ao perderem seu capital real, os cativos. Não houve, igualmente, a proposta expulsão geral do cativo pelo imigrante. Em grande número, eles seguiram trabalhando na cafeicultura, por escassos salários, sem aceder ao status de “colonos” arrendatários, por não possuírem núcleos familiares estendidos.
A Revolução Abolicionista, o movimento que se concluiu com o fim constitucional da escravidão no Brasil, não deu lugar à imediata hegemonia da produção capitalista. [GORENDER, 1987.] Esta última existia, antes de 1888, sobretudo nas cidades, em forma muito secundária, e a Abolição abriu-lhe às portas da conquista da hegemonia, décadas mais tarde. Entretanto, esse não foi o seu propósito, como propõem visões anacrônicas da história.
“[…] o que inviabilizou o escravismo brasileiro foi o avanço do capitalismo no País.” [MARINGONI, 2011.] “O regime republicano foi instaurado para assegurar a continuidade do ciclo patrimonialista […] sob as novas condições do capitalismo industrial.” [SODRÉ, 2023: 40.] Após o 13 de Maio, dominaram no Brasil formas diversas de produção mercantil apoiadas no trabalho livre, remuneradas, sobretudo nos campos, muito parcialmente em dinheiro. A hegemonia capitalista se imporia ao longo de um processo histórico em desenvolvimento.
Trabalhador do Pastoreio
Na República Velha [1889-1930], o peão, trabalhador das fazendas pastoris sulinas, era remunerado com a moradia, com a alimentação, com o vestuário e com um pequeno salário monetário. A liberdade civil era a sua grande diferença em relação aos cativos campeiros, seus ancestrais sociológicos e não raro biológicos, até a Abolição. Essa forma de remuneração não-capitalista dominou até tempos recentes, com introdução tardia das “leis trabalhistas” e do capital no campo. E não foram próprias apenas aquelas regiões. [MAESTRI, s.d.]
Na República Velha, a produção rural mercantil seguiu sendo o coração da economia nacional. Para que ela fosse dominada pelas relações capitalistas, impunha-se a formação de um exército rural de trabalhadores de reserva, trabalhadores que, de seu, tinham apenas a força de trabalho, obrigados a se assalariarem por remuneração em geral abaixo das necessidades mínimas de subsistência.
Na escravidão, a quantidade disponível de trabalhadores escravizados devia corresponder às necessidades produtivas, já que necessitavam ser sustentados, quando inativos. O controle draconiano da remuneração dos trabalhadores feitorizados era imposto sobretudo pela coerção física, apesar dos devaneios de historiadores neopatriarcalistas que propõem condições permanentes de negociação favoráveis aos escravizados. [MAESTRI, 2009]
É um contra-sentido propor que, nos últimos anos da escravidão, o trabalho escravizado custasse mais do que o livre, em contexto da inexistência de amplo exército rural e urbano de trabalhadores livres desempregados. Ele era, sobretudo, a forma de trabalho dominante disponível. Caso a Abolição tivesse se dado sem a imigração, o valor do trabalho no mundo rural se desequilibraria fortemente em favor dos explorados, inibindo a acumulação mercantil.
Cafeicultura Escravista
Havia anos que as relações de produção escravistas emperravam o avanço da produção social, que, no passado, haviam impulsionado. Em 1850, sob a pressão inglesa, abolira-se o tráfico internacional de trabalhadores escravizados. Ele foi substituído, transitoriamente, em forma insuficiente, pelo tráfico interprovincial. A cafeicultura ressentia a carência da mão de obra e o alto preço necessário para obtê-la. O modo de produção escravista colonial tornara-se um entrave para o avanço da produção.
Entretanto, em inícios dos anos 1880, os cafeicultores escravistas seguiam sendo a classe dominante no Brasil, concentrada no Centro-Sul, à qual estavam atrelados inúmeros outros importantes segmentos sociais. Os trabalhadores escravizados constituíam, não raro, a maior parte de seus capitais. Em geral, eles valiam mais do que as terras em que trabalhavam. E inexistia mercado de trabalho livre para substituí-los. Um impasse histórico dissolvido nos momentos finais da Revolução Abolicionista, no acirramento das contradições sociais e não por decisões conspiratórias dos proprietários, de então, ou do futuro, como se sugere não poucas vezes.
Ainda em inícios dos anos 1880, as grandes escravarias valiam milhões de reais, em valores atuais. Os cafeicultores aceitavam a Abolição, desde que fossem indenizados. Os valores eram tão elevados que a economia imperial dificilmente suportaria uma indenização total. Portanto, fora da escravidão, os escravistas viam-se ameaçados por um mundo de incerteza. A conclusão da revolução abolicionista foi necessária para cortar esse sólido nó górdio, pondo fim às classes sociais e às relações de produção escravistas coloniais. E a Abolição se materializou na conjunção do movimento abolicionista radicalizado com os trabalhadores escravizados da cafeicultura, que se mobilizaram pela liberdade civil, e não pela terra.
Não procede a proposta do saudoso camarada Clóvis Moura, em 1989, que os fazendeiros aceitaram a abolição “compromissada como o Trono queria, conservando-lhes os privilégios, ou correriam o risco de ver a Abolição feita pelos próprios escravos, através de medidas radicais, como a divisão das terras senhorias.” [MOURA, 1989.]
A Casa dos Braganças expressara, desde 1922, a ordem negreira e o Segundo Reinado [1840-1888] assentou sua estabilidade na defesa da cafeicultura escravista. Ela sempre defendeu com unhas e dentes a escravidão e jamais propôs qualquer forma de abolição. E os escravizados não tinham, em 1888, nem condições, nem aliados para impor revolução agrária, com a qual jamais sonharam.
Uma Classe em Declínio
Os trabalhadores escravizados eram classe em declínio, concentrada no Centro-Sul, como proposto. Em 1888, eles não chegavam a oitocentos mil homens e mulheres, em boa parte envelhecidos, em população nacional de mais de quatorze milhões de habitantes. Apenas a Guarda Nacional do país contaria, então, com uns quatrocentos mil membros, fora as tropas do exército, da Armada, etc.
Nos quarenta anos posteriores à Abolição, entraram no Brasil em torno de 3.500.000 imigrantes – número próximo aos quatro milhões de africanos desembarcados no país em quase três séculos de tráfico. Imigrantes que, ao contrário do comumente proposto, foram também explorados, sem, no entanto, conhecer as duras condições de trabalho e de existências dos trabalhadores escravizados. E eles vieram para o Brasil por que a escravidão não mais existia. E eles não vieram para substituir os cativos, mas para descomprimir a falta de mão de obra que continha, há anos, a expansão da cafeicultura.
É uma sandice propor imigração cercada de todos os privilégios do mundo. Devido à Lei de Terras de 1850, a imensa maioria dos imigrantes que desembarcaram no Brasil pagou por uma gleba de terra sem valor e viveu do fruto de seu trabalho, sendo explorado, sem explorar ninguém! Nos anos 1970, no Sul do Brasil eles se organizaram para lutar pela terra. Ao lecionar nas escolas do MST, por longos anos, vi meu alunos enegrecerem, à medida que a luta pela terra avançou através do Brasil. Não há diferença essencial entre o sem-terra branco e o sem-terra negro.
Exército Rural de Reserva
A cafeicultura expandiu-se com a abundantíssima mão de obra fornecida pelo fluxo migratório, utilizando igualmente os trabalhadores nacionais, entre eles os ex-escravizados. Quando os imigrantes e os trabalhadores nacionais superaram as necessidades da produção, formou-se o previsto exército rural de reserva, que permitiu aos cafeicultores retirarem as condições de contratação iniciais, relativamente vantajosas, que garantiram a vinda dos imigrantes.
Os capitais acumulados na cafeicultura do Centro-Sul, na economia colonial-camponesa sulina, etc. financiaram o avanço das relações sociais de produção capitalistas, sobretudo nas cidades, que contavam já com um operariado superexplorado. Nos anos 1930, a burguesia industrial, já hegemônica no meio urbano, no Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, dominou o aparelho do Estado, enquanto o resto do país era mantido como semi-colônias do Centro-Sul industrializado.
É, portanto, um contra-sentido propor, em uma visão teleológica da história, que a superação do escravismo, nos anos 1880, foi planejada, contra o interesse dos escravistas hegemônicos, por classes capitalistas marginais e subordinadas, que se consolidariam apenas décadas mais tarde, após longo período de hegemonia da grande agricultura mercantil exportadora não-capitalista, durante a República Velha [1889-1930]. É própria do weberianismo, e não do marxismo, a identificação-confusão de capital mercantil com capital industrial.
Negros abandonados
Na refutação do caráter revolucionário da Abolição, destaca-se a denúncia paternalista de que os ex-cativos, visto como crianças, teriam sido abandonados a suas sortes, após o 13 de maio de 1888. “A campanha abolicionista, em fins do século XIX, mobilizou vastos setores da sociedade brasileira. No entanto, passado o 13 de maio de 1888, os negros [sic] foram abandonados à própria sorte, sem a realização de reformas que os integrassem socialmente.” [MARINGONI, 2011]. “No viés capitalista da abolição da escravatura brasileira não houve reforma agrária, nem direito para o trabalhador e nem estrutura político-partidária que reorientasse os conflitos entre as classes dirigentes e os ex-escravos.” [SODRÉ, 2023: 55.]
Salvo engano, a proposta estapafúrdia da falta de consciência social dos escravistas foi apresentada em forma pioneira por Florestan Fernandes, em A integração do negro na sociedade de classes, livro de 1964, de viés weberiano e funcionalista. “A desagregação do regime escravocrata e senhorial operou-se, no Brasil, sem que se cercasse a destituição dos antigos agentes de trabalho escravo de assistência e garantias que os protegessem na transição para o sistema de trabalho livre.” [FERNANDES, 2008: 29.]
A única forma de indenização possível, a ser arrancada dos proprietários, a distribuição de lotes de terra, não foi reivindicada e imposta pelos cativos. E, a ela, se opunham os latifundiários, sequiosos de braços despossuídos dos meios para a produção dos seus meios de subsistência para serem contratados em condições draconianas. Diversos fenômenos explicam a não reivindicação da terra pelos ex-cativos. A posse de lotes de servis nos latifúndios escravistas era realidade rara; a experiência horticultora dos cativos era limitada; não poucos sonhavam com o mundo urbano ou se assalariaram nas fazendas cafeicultoras; os escravizados teriam consciência da total falta de força para impor tal reivindicação. Eles priorizaram a conquista possível: a liberdade civil.
O programa político do abolicionismo, recuperado em parte pelo Partido Liberal vitorioso nas eleições após a Abolição, propunha distribuição de terras para os carentes delas, com indenização dos proprietários. Uma proposta política de quase impossível execução, devido à inexistência de forças sociais para a impor. O movimento reformista abolicionista foi facilmente dissolvido com o advento da república federalista, oligárquica e antipopular, em 15 de novembro de 1889, fortemente apoiada pelo Partido Conservador, dos latifundiários, derrotado nas eleições.
Coluna da Escravidão
A monarquia fora, desde 1822, o grande suporte da ordem escravista. Após o 13 de maio de 1888, com a imposição da Abolição pelo abandono multitudinário dos trabalhadores escravizados das fazendas cafeicultoras, a Coroa perdeu o apoio das classes dominantes provinciais hegemônicas. Não por assinar a lei abolicionista. Com as fazendas abandonadas pelos cativos, o parlamento votou a lei abolicionista, que a regente sancionou. Os cafeicultores ricos preferiram que o Estado financiasse a viagem dos emigrantes, como forma de indenização! O novo governo liberal foi derrubado sobretudo por ter-se negado a propor o fim do centralismo imperial, aceito pelas classes dominantes provinciais, a contragosto, em 1822, por ser necessidade da defesa da escravidão, então já parte do passado.
Com a adesão da grande lavoura à república federalista, a monarquia ruiu como um castelo de areia, sem qualquer oposição efetiva. A partir da República, em 1889, os grandes proprietários fundiários, à exclusão dos sul-riograndenses, dominaram ferreamente as suas províncias, agora com o status de estados, e o poder central, após o breve interregno militarista. A Igreja, o Exército, a Marinha, a Justiça haviam sido, igualmente, colunas da ordem escravista.
Na nova ordem, as antigas classes dominantes escravistas ressurgiram sobretudo como oligarquias agrárias e pastoris. No geral, eram as mesmas que, meses antes, mandavam para o tronco os trabalhadores que se rebelavam. Mas não eram mais, legalmente, senhores de baraço e cutelo dos trabalhadores, que haviam sido suas propriedades. Uma transformação revolucionária, no contexto dos limites históricos de antes.
Pecado mortal
As propostas de que as classes dominantes do passado cometeram pecado social imperdoável ao não avançarem “políticas públicas” integrando os libertados na economia nacional – escolas, creches, aposentadoria, etc. – tem alavancado a defesa do direito a indenização individual, por parte do Estado, dos brasileiros com alguma afro-ascendência. Princípio que, se aceito, deveria ser estendido aos descendentes dos nativos, dos colonos, dos caboclos, dos mamelucos, dos trabalhadores do campo e da cidade, todos explorados. Para não falar das mulheres, segmento historicamente mais explorado da população. Mas não se exige uma indenização paga pelo grande capital, mas pelo Estado, ou seja, pela totalidade da população!
Essas propostas fantasiosas de indenização objetivam, no imediato, dar um viés aparentemente progressista para uma agitação conservadora, retirar o movimento social do leito real de sua luta social, política e ideológica. Ou seja, a reivindicação, no aqui e no agora, de educação e saúde pública e de qualidade, assim como moradia, segurança e salário digno para todos os explorados e marginalizados. Procuram desarticular, no longo, médio e breve espaço, a luta necessária e possível da expropriação geral dos grandes detentores dos meios de produção, em favor dos trabalhadores e da população -bancos, latifúndios, grandes empresas, etc.
Em todas as transições intermodais pré-capitalistas, os oprimidos conquistaram o que puderam e seguiram lutando no contexto das novas formas de opressão. Na história, jamais houve uma classe exploradora que, apiedada, com os por ela explorados, empreendesse a sua emancipação. A grande “política social” das classes dominantes na imediata pós-Abolição foi o massacre da república sertaneja de Belo Monte, em 1896-97. Sertanejos que deveriam ter, também, seus descendentes indenizados!
Os ex-escravizados foram tratados pelas classes dominantes como elas trataram sempre os explorados – nativos, caboclos, mamelucos, colonos, camponeses, trabalhadores assalariados, etc. E como seguem tratando os trabalhadores, populares, marginalizados, etc. nos dias de hoje, direta e indiretamente, através do Estado, das instâncias governativas, da produção etc., com destaque para as condições de trabalho, de segurança, de saúde, de salário, etc.
A Abolição foi a única revolução social vitoriosa até hoje no Brasil. Pôs fim à ordem escravista colonial que dominara o país por quase quatro séculos e unificou a classe trabalhadora. Avançou a história pondo, hoje, o mundo do trabalho e a população brasileira nas condições objetivas de empreenderem, finalmente, o início da emancipação social de todos os oprimidos e opressões. Mas, para isso, impõe-se construir as condições subjetivas. Isso é, superar as políticas neoliberais populistas e divisionistas construídas e impulsionadas pelo grande capital para desvias as classes revolucionárias de seus programas e objetivos de caráter universalista. Com destaque, no Brasil, neste momento, para o “identitarismo neoliberal” de raça, de gênero, etc.
BIBLIOGRAFIA:
ARISTÓTELES. Política. São Paulo: Atenas, 1957.
BLOCH, Marc. La société féodale. Paris: Albin Michel, 1968.
BLOCH, Marc. Lavoro e tecnica nel Medioevo. Roma: Laterza, 1984.
BRIZZI, Giovanni. Ribelli contro Roma. Gli schiavi, Spartaco, l’altra Italia. Italia: Il Mulino, 2017.
CARBONI, Florence & MAESTRI, Mário. A linguagem escravizada. Lingua, história, poder e luta de classes. 2 ed. São Paulo: Expressão Popular, 2012.
CARNEIRO, Sueli. “Uma guerreira contra o racismo”. CAROS AMIGOS, fevereiro de 2000, pp. 24-9.
CEM FLORES, Falsa abolição… será?, por Unidade Preta Comunista. https://cemflores.org/2023/05/13/falsa-abolicao-sera-por-unidade-preta-comunista/
COLUMELLA, Lucio Giunio Moderato. L’Arte dell’agricoltura e libro sugli alberi. S. L. – Giulio Einaudi, 1977.
CONRAD, Robert Edgar. Tumbeiros: o tráfico escravista para o Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1985.
CONRAD, Robert. Os últimos anos da escravatura no Brasil. (1885-1888). Rio de Janeiro: Brasília, INL, 1975
DOCKÉS, Pierre. La libération médiévale. France: Flammarion, 1979.
DOMMANGET, Maurice. La commune. Bruxellas: La Taupe, 1971.
FERNANDES, Florestan. A Integração do Negro na Sociedade de Classes. Volume I. 5. ed. São Paulo: Globo, 2008.
FONSECA, Rosa Maria Godoy Serpa da. As leis históricas da população: marco teórico para a compreensão da reprodução humana. 1995 Rev. Latino-americana. Enfermagem – Ribeirão Preto – v. 3 – n. 1 – p. 19-29 – janeiro 1995 1
GARCIA, Renísia C. & LOPES FILHO, Everaudo L.. Por que não comemorar o dia 13 de maio? 13/05/2023, https://noticias.unb.br/artigos-main/6537-por-que-nao-comemorar-o-dia-13-de-maio
GARLAN, Yvon. Les esclaves en Gréce ancienne. Paris: La Découverte, 1995.
GUÉRIN, Daniel. Bourgeois et bras nus. 1793-1795. France: Gallimard, 1973.
GLOTZ, Gustavo. História Económica da Grécia. Lisboa: Cosmos, 1973.
GORENDER. Gênese e desenvolvimento do capitalismo no campo brasileiro. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1987.
LUNA, Francisco Vidal. Minas Gerais: escravos e senhores. Uma análise da estrutura populacional e econômica de alguns centros mineratórios (1718-1804). São Paulo: IPE/USP, 1981.
MAESTRI, Mário. Breve história da escravidão. Porto Alegre, Mercado Aberto. 1987.
MAESTRI, Mário. Carcaça de Negro. Porto Alegre: FCM Editora, 2023.
MAESTRI, Mário. Depoimentos de escravos brasileiros. São Paulo: Ícone, 1988.
MAESTRI, Mário. https://acomunarevista.org/2023/05/14/abolicao-a-revolucao-social-vitoriosa-do-brasil/
MAESTRI, Mário. Os senhores do litoral : conquista portuguesa e genocídio tupinambá no litoral brasileiro. [século XVI]. 3 ed. Porto Alegre: UFRGS, 2013.
MAESTRI, Mário. O gaúcho negro: o cativo e a fazenda pastoril. https://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/aladaa/maestri.rtf [s.d;]
MAESTRI, MÁRIO. Reabilitação historiográfica da escravidão: determinação, autonomia, totalidade e parcialidade na Historia. XII Jornadas Interesculeas, San Carlos de Bariloche, 2009. https://cdsa.aacademica.org/000-008/203.pdf
MARCHANT, Alexander. Do escambo à escravidão. As relações de portugueses e índios na colonização do Brasil. 1500-1580. São Paulo: CEN; Brasília: IEL, 1980.
MARINGONI, Gilberto. O destino dos negros após a Abolição. https://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=2673%3Acatid%3D28
MARX, Karl. Contribuição à crítica da economia política. São Paulo: Martins Fontes, 1977.
MARX, C. & ENGELS, F. A Ideologia Alemã. 9 a. ed. São Paulo: HUCITEC, 1993.
MAZZARINO, S. Se puede hablar de revoluciona social al fin del mundo antigo? BLOCH, Marc et al. La transicion del esclavismo al feudalismo. Madrid: Akal, 1976.
MEILLASSOUX, Claude. Antropologia da Escravidão : O ventre de ferro e dinheiro. Rio de Janeiro : Jorge Zahar, 1995.
MEILLASSOUX, Claude. Mulheres, celeiros & capitais. Porto, Afrontamento, 1977.
MONTEIRO, John Manuel. Negros da terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.
PARK, Mungo. Voyage dans l’intérieur de l’Afrique. Paris: Maspero, 1980.
PETIT, P. La esclavitud Antigua en la historiografia soviética. PETIT, P. El mode de producción esclavista. Madrid: AKAL, 1986. p. 23-47
DOMINGUES, Petrônio José, Negros de almas brancas? A ideologia do branqueamento no interior da comunidade negra em São Paulo, 1915-1930, 2002. https://doi.org/10.1590/S0101-546X2002000300006
SANTOS, Ariovaldo. Marx, Engels e a luta de partido na Primeira Internacional. 1864-1874. Londrina: EdiUEL, 2002.
SODRÉ, Muniz. O fascismo da cor. Uma radiografia do racismo nacional. Petrópolis: Vozes, 2023.
STAERMAN, E.M. & TROFIMOVA, M.K. La schiavitú nell´Italia imperial. Roma: Riuniti, 1982.
STAERMAN, E.M. A caída del regímen esclavista. [1952]. BLOCH, Marc et al. La transicion del esclavismo al feudalismo. Madrid: Akal, 1976.
TEDESCO, Paulo. Como os marxistas veem a Idade Média. Jacobin Brasil. https://jacobin.com/2022/04/marxism-middle-ages-medieval-antiquity-economic-theory-history-capitalism
VAINFAS , Ronaldo. A heresia dos índios: catolicismo e rebeldia no Brasil colonial. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
Traduzimos ao português as citações em espanhol, francês e italiano.
Agradecemos a leitura da linguista italiana Florence Carboni
Este texto não passou pela revisão gramatical da equipe do Contrapoder.