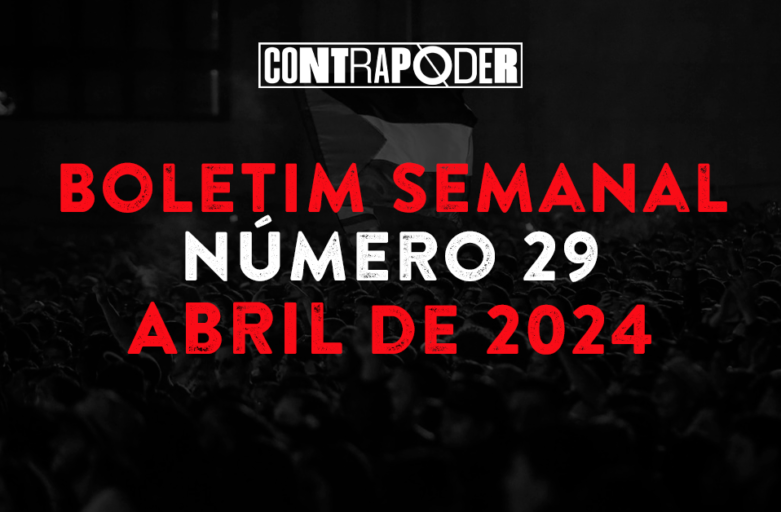A sociabilidade pelo trabalho vista por um prisma da música brasileira[1]
Dedicado a Roberta Pimenta, que com tanto zelo e carinho me ensinou sobre Gonzaguinha (e outras tantas coisas)[2]
“Seria até maldade
dizer que no Brasil dinheiro não traz felicidade”
Dito pelo não dito – Ascendência Mista [2001][3]
O trabalho forma – diz Hegel no capítulo sobre a dialética senhor e escravo na Fenomenologia do Espírito[4]. No sentido hegeliano, o trabalho, porém, precisa de outro momento: o do reconhecimento recíproco. O indivíduo precisa ser reconhecido pelo que é; e o que é, é trabalho – tanto construção de si quanto do mundo, reconhecimento do produtor e do produto, que é externalidade do produtor. Marx, avançando em relação a Hegel, coloca o trabalho sob ótica dupla: trabalho alienado e abstrato[5] e trabalho vivo. Este, como diz nas Teses sobre Feuerbach, é atividade prático-crítica, atividade revolucionária em sentido amplo: de transformação física, psíquica, social[6]. O trabalho – suas nuances na sociedade capitalista, pelo menos – compõe o fundamento primordial da sociabilidade, dimensão central do indivíduo: sua dignidade, suas formas de ser, sentir, pensar e existir, seus relacionamentos. O trabalho socializa a pessoa, faz dela alguém para si e para o mundo; é, neste sentido, produção social de sua formação como indivíduo, sua experiência formativa – para o bem e para o mal.
Na música brasileira – aqui, um recorte entre as décadas de 1970 e 1980 –, as diversas dimensões da sociabilidade ficam explícitas, ora diretamente, ora em metáfora ou indiretamente. Aí, o indivíduo trabalhador é captado na sociabilidade: sua dignidade depende de quem é na e para a sociedade; suas formas de agir são de classe e de estratos de classe; sua miséria e alienação são frutos de sua relação com o mundo, seu mundo, aquele que percebe pelo prisma de sua existência concreta; suas angústias e a falta de sentido da vida, seus sonhos e ambições, seu caráter nuançado… tudo depende de quem é e de como se posiciona nas relações intersubjetivas e sociais. O trabalho, como forma social, determina tudo; determina, inclusive, o não-trabalho, e confere qualificativo à pessoa: “Genésio, a mulher do vizinho/sustenta aquele vagabundo”[7]. Contudo, quanto mais o capital quebra as possibilidades de alguma estabilidade para a vida individual e coletiva, mais angustiada a pessoa, mais sem sentido sua vida e, assim, mais densa e problemática a sociabilidade.
Dizer que o trabalho é alienação, expropriação e redução do indivíduo a um nada é somente uma parte – concreta – da realidade vivida. A sociabilidade pelo trabalho vai além da relação trabalho alienado-capital, apesar de ser um de seus momentos de realização. Também, o trabalho de cunho capitalista não é somente “ganhar a vida” no sentido de acumular dinheiro em forma de receita, de capital ou de salário de sobrevivência. Se hoje o “ganhar dinheiro” pelo trabalho, ou por sua exploração, aparece no imaginário social como forma única de enriquecimento – ou um falso enriquecimento pelo consumo exacerbado, que substitui psiquicamente o real, pois dá alento e esperança ao indivíduo reduzido à miséria da vida, mais que à miséria material –, é porque o capital avança na medida diametralmente proporcional de quebrar os sujeitos por completo, fragmentá-los e reduzi-los à sua órbita e aos seus desígnios[8].
Jonathan Crary, em Terra arrasada, falando sobre como o avanço das tecnologias – especialmente as de “comunicação” e controle virtuais que parecem tornar o presente eterno, fazendo sincronizar todos os tempos e temporalidades – e como o mundo do trabalho cada vez mais fragmentado afeta fundamentalmente os indivíduos, diz o seguinte: “As temporalidades inabitáveis do capitalismo infundem desespero e desesperança nas condições de trabalho e de vida em coletividade. Tudo o que é necessário para um senso mínimo de estabilidade – seja o trabalho, um lugar para morar, comunidades ou saúde pública – foi projetado para estar sempre a ponto de ser descartado, reduzido, tomado, demolido.”[9] Não por acaso nos trabalhos mais vulneráveis – e não só neles – há aumento exponencial de patologias, neuroses, psicoses e doenças diversas: a vida perde sentido em todas as suas dimensões quando a âncora se firma em areia movediça[10]. As relações sociais fomentadas pelo trabalho abstrato capitalista, que repõe o trabalho vivo e as possibilidades de formação subjetiva em um patamar específico, são mais amplas que a aparente relação trabalhador-capitalista ou do trabalho como produção de mercadoria. Afetam e condicionam a totalidade da existência de quem vive do trabalho. A sociabilidade é expressão dinâmica dessa relação fundamental e, igualmente, a reproduz com sua especificidade, suas nuances, seus modos próprios.
Dignidade
“Hoje de manhã eu não fui pro mar/ nem vou nunca mais// O meu barco vai voltar em paz/ com o vento bom do mar// Vou para plantação, eu vou trabalhar/ vou viver em paz/ nem quero lembrar que já fui do mar/ tenho um novo chão/ mas, se a terra dá/ trabalho dá/ saudades do meu mar// Já não posso mais viver sem o mar/ volto para pescar/ vento, meu irmão, volto a te encontrar/ volto pro meu chão// Sei que a morte vem/ um dia vem/ melhor morrer no mar”[11]
O trabalho livre dignifica. Pelo sentido que confere à vida e pela sociabilidade, direta e indiretamente, na relação com a natureza e com os outros, o trabalho forma. É a experiência viva cotidiana, vivida por bilhões de pessoas no mundo. É ele que permeia e faz a mediação da vida prática, afetiva, moral, sensual, pública e privada desses indivíduos[12] – como na canção de Dori Caymmi e Nelson Motta, supracitada. Ainda que em sua forma capitalista – alienada – o trabalho estilhace e esquarteje as pessoas, é ele, ao mesmo tempo, que confere qualquer sentido, limitado que seja, à vida das trabalhadoras e trabalhadores[13].
Pensar o trabalho nesses termos é visar compreensão sobre suas diversas dimensões. Gonzaguinha foi exímio nisso – se não o melhor. Em suas canções estão expostos os sentidos, as contradições, as necessidades, a experiência da vida trabalhadora. Nelas, o trabalho está na base da vida, dos sonhos, das relações afetivas, da dignidade: “O homem se humilha/ se castram seu sonho/ seu sonho é sua vida/ e vida é trabalho/ e sem o seu trabalho/ um homem não tem honra/ e sem a sua honra/ se morre, se mata/ não dá pra ser feliz/ não dá pra ser feliz”[14]. Para quem sobrevive pela venda de sua força de trabalho, é patente a distinção, tantas vezes negligenciada pela sociologia do trabalho e pela economia, por exemplo, entre emprego e desemprego. Não se trata de simples e numérica composição de mercado de trabalho, de quem está empregado e quem não está. A aparente simplicidade se esfacela quando se olha para o que há por trás: sentido da vida versus completo vazio existencial, uma quase anomia. Fraquezas, medos, afetos… tudo se compõe na sociabilidade, na relação consigo e com os outros. No centro disso, para a pessoa pobre, está seu trabalho, por precário que seja. É nele e por ele que socializa com o mundo e o compreende, que se integra, que faz a si mesma. Nesse sentido, como diria Marx, trabalho, em suas múltiplas dimensões sociais para o indivíduo, é práxis formativa.
Vê-se que não se trata apenas de uma relação fria entre trabalho-dinheiro-consumo. Isso é muito fútil e superficial. Algo que os assistencialistas e os governos de “esquerda” não entendem é que não basta dinheiro: as pessoas querem se sentir vivas, Pessoas[15]. Isso demanda certa autonomia de movimento, interação com outros e com o mundo, experiência. O dinheiro, pura e simplesmente, é um fundamento muito miserável diante disso (ainda mais vista a merreca assistencial), e o consumo com fim em si mesmo é carente de sentido, a não ser como ideologia e dominação.
Nas músicas de Gonzaguinha as personagens têm, geralmente, consciência sobre sua situação e sobre o mundo. Não são tapados – tal como não são na vida cotidiana, ainda que muitos tratem aquelas e aqueles que vivem do trabalho, especialmente os mais rebaixados e “iletrados”, como desprovidos da capacidade de pensar, da competência para a reflexão crítica e a percepção realista e profunda das contradições do mundo. Em Pobreza por pobreza, Gonzaguinha versa sobre o destino de um pobre e sua consciência da situação: “Meu agreste vai secando/ e com ele vou secar/ pra que me largar no mundo?/ se nem sei se vou chegar/ a virar em cruz de estrada/ prefiro ser cruz por cá (…) Pobreza por pobreza/ sou pobre em qualquer lugar/ a fome é a mesma fome/ que vem me desesperar/ e a mão é sempre a mesma/ que vive a me explorar”[16]. Como no marxismo – em Marx, Gramsci e Lukács[17], por exemplo –, é pela experiência da vida que as pessoas tomam consciência de si, da classe, da necessidade da luta subjetiva e objetiva.
As relações sociais, ainda que mais ou menos limitadas pelo conhecimento que o indivíduo tem delas, são concebidas e apreendidas a partir da socialização que o trabalho confere. Ele dá à pessoa dignidade, ainda que em miséria econômica; dá consciência das carências e necessidades; concede uma lupa para que se veja no detalhe, próprio de quem vive, as relações das quais participa direta e indiretamente; e dá capacidade de elaboração reflexiva e direcionamento ao que fazer e sobre como guiar a vida ou nela se virar e sonhar[18]. Na música É preciso, de Gonzaguinha, dedicada à Dina, sua mãe de criação, isso se evidencia: “Minha mãe no tanque lavando roupa/ minha mãe na cozinha lavando louça// Lavando louça/ lavando roupa/ levando a luta, cantando um fado/ alegrando a labuta/ labutar é preciso, menino/ lutar é preciso, menino/ lutar é preciso […]. O estribo dos bondes que cruzam no largo/ trilhando avenidas, ruelas e becos/ me deixam na Lapa ou na galeria/ ou no Café Talia/ e é lá que eu encontro/ Papinho no ponto/ e volto pra casa/ com ele cansado/ com pouco trocado// violão calado/ violão calado/ violão cansado, calado, cansado// Ê mãe/ labutar é preciso/ né, mãe?/ lutar é preciso/ ô mãe/ lutar é preciso”[19]. Tanto a percepção do menino, narrador-observador, sobre toda a situação, quanto a reflexão da mãe resultam de um pensamento complexo, demandam experiência vivida[20]. Aqui pode se notar a complexidade, inclusive temporal, da composição. Primeiramente, a percepção pelo menino da mãe labutando – e cantando um fado: a música É preciso é um fado. Depois, a fala da mãe que associa trabalho e luta (uma luta da e pela vida, por reconhecimento, em sentido amplo). Finalmente, em outro momento, o violeiro busca reconhecimento, luta = labuta e vice-versa, e sente sua frustração, “violão cansado” e “com pouco trocado”. A busca do indivíduo por reconhecimento é luta, pois depende do outro, de algo externo a si próprio e, portanto, não controlável. O que ele é, ou será, o que sonha ser depende da relação, que nem sempre é favorável. Isso se dá porque o ser humano é objetivo, isto é, sua subjetividade é fruto da relação com outros – com outras pessoas e com o mundo – e só pode ser resultado da luta: o sujeito é síntese de um processo. Na relação, ele é objeto de outro ser ao mesmo tempo em que faz do outro ser seu objeto. Assim, é um ser que sofre: “O Homem, enquanto ser sensível objetivo é, portanto, um ser sofredor e, porque é um ser que sente seu sofrimento, é um ser passional. A paixão é a força vital do ser humano que se esforça energicamente em direção ao seu objeto.”[21]
A socialização, que tem o trabalho em sua base, confere dignidade e consciência de si e do mundo à pessoa. Ela forma; e forma pelo sofrimento, pela adversidade da experiência como paixão pela vida, numa luta constante por reconhecimento de quem a pessoa é.
Percepção
As canções também podem ser crônicas que percebem e expõem situações sociais de maneira peculiar. A miséria, a violência, a inflação, a coerção estatal, a malandragem, o esvaziamento de sentido das coisas e das relações, a opressão, a dominação, a alienação, as contradições e suas nuances. Isso tudo ora é exposto cruamente, como narrativa, ora é elaborado como crônica complexa.
Em Dias de Santos e Silvas – sobrenomes de grande parte dos brasileiros pobres –, Gonzaguinha constrói uma personagem já de saco cheio da situação em que vive, mas impossibilitada de sair dela. Ela sabe, de modo não ingênuo, de sua condição. Quer se livrar dela; aposta no jogo do bicho e sonha com a grana que poderia ganhar e, com ela, esfregar na cara do patrão todo o rancor que sente, como desforra – individual e de classe. Tudo se passa, temporalmente, em um dia todo qualquer, que sintetiza as angústias do trabalhador: “O dia subiu sobre a cidade/ que acorda e se põe em movimento/ um despertador bem barulhento/ badala, bem dentro, em meu ouvido// Levanto, engulo o meu café/ corro e tomo a condução/ que, como sempre, vem cheia/ anda, para, e me chateia// Está quente pra chuchu/ meu calo dói/ a certeza já me rói/ levo bronca do patrão// Mas sonhei e fiz a fé no avestruz/ que vai me dar uma luz/ levo uma nota pra mão// A tarde transcorre calma e quente/ nas ruas, ao sol, fervilha gente/ batalham, como eu, o leite e o pão/ que o gato bebeu e o rato roeu/ aumenta tudo, aumenta o trem/ aumenta o aluguel e a carne também/ é… mas, sei, vai melhorar/ pior que tá não dá pra ficar (…) A noite desceu sobre a cidade/ nas filas, calor, suor, cansaço/ meu corpo está que é só bagaço/ e se está de pé é de teimoso// Eu desejando minha cama/ furam a fila e alguém reclama/ louvaram a mãe do rapaz/ que diz que faz e desfaz// E só falta uma briguinha/ e eu ir para o xadrez/ pobre não tem mesmo vez/ não dá sorte ou dá azar”[22].
As crônicas de Gonzaguinha, situadas quase que completamente no período mais duro da ditadura militar, na década de 1970, dão conta de diversos aspectos da sociabilidade brasileira do período. Em A cidade contra o crime – e poderíamos indagar: que crime?, quem são os criminosos nesse contexto? – a narrativa versa sobre violências encadeadas: a violência da ditadura, da opressão salarial e inflacionária, a violência da pobreza, da carestia, a violência entre pares, trabalhador contra trabalhador. No fundo, é o capitalismo que está na base da corrente de violência: “Eu faço parte desse medo coletivo/ já não sei nem se confio na polícia ou no ladrão (…) O cara disse: fica quieto, vai tirando toda a roupa/ de conforme o que está no meu direito/ e eu só via um defeito/ a que eu vestia estava todo esburacada/ remendada, esfarrapada, bem puída no maltrato/ vou tentar fazer um trato/ pensei depressa adonde estava aquela quina/ que sobrou do meu trocado que hoje chamam de salário/ trabalhador tu é otário/ e foi aí que eu notei que o pivete/ tremia muito mais que eu, que tava pela bola sete/ olhei melhor pro salafrário/ notei que a arma que o fulano segurava era meio que chegada a um cheiro de sabão/ na rapidez meti a mão/ o trinta e oito se partiu em zil pedaços/ e o coitado do palhaço ficou meio em ação/ aproveitei a confusão/ mandei que ele desvestisse a roupinha/ tá mais limpa que a minha, inclusive a santinha/ não esquece a sunguinha, hein, ô/ ele chorava de bobeira me mostrando a carteira/ que continha a exploração de seu patrão”[23]. A sociabilidade, mesmo em relações adversas – um assalto que vira de ponta-cabeça, como na música –, revela a capacidade de percepção social dos envolvidos: o motivo do assalto, que se revela no fim, é a carestia, a miséria da classe trabalhadora, que, sem ter a quem imediatamente recorrer, se vira como pode; do outro lado, o assaltado em uma condição aparentemente pior que a do assaltante – e depois a do assaltante pior que a da “vítima”; revela-se, também, a capacidade da ginga, da malandragem em sair de uma situação inusitada e adversa e virar o jogo a seu favor – isto, em especial, não se aprende a não ser experienciando: o pobres têm a versatilidade, conferida pela experiência, de se virar em (quase) todo tipo de adversidade[24].
É uma sociabilidade baseada na violência das relações, não na empatia, na solidariedade. Afinal, não se pode esperar que as pessoas se formem santos se seus cotidianos têm a dinâmica da visita diária ao inferno. A violência pode se expressar na versatilidade de se virar como se pode, na malandragem de quem se esgueira e contorna diariamente os problemas que se sobrepõem. É violento uma vez que o outro, por pressão das condições sociais, tem mais possibilidade de ser inimigo que amigo; é violento por imposição da formação social, da situação em que a experiência da vida se dá em ato.
Na música No balanço do trem, composição de Gonzaguinha interpretada por Emílio Santiago, é interessante notar toda a violência cotidiana – que não aparece imediatamente como violência – e seu reverso, a satisfação, mesmo que psíquica, em meio a tudo isso, em um lugar onde uma parte da sociabilidade da pessoa pobre acontece diariamente com sua dinâmica própria, o trem urbano: “Incha, vira se aperta ou se estrepa/ o meu corpo no ar, feito peteca/ não consigo encostar meu pé no chão/ e no canto uma roda de sueca/ um malandro desceu onde não quer/ eu subi, mas cadê minha mulher? […] Puxa, puxa, não pisa, bala, baleiro/ um é dois, quatro custa dez cruzeiro/ a gilete levou meu bolso inteiro/ e o bundu tá matando com tempero/ cinco mil é o aumento pra geral/ é a notícia que vende o teu jornal/ cinco mil é o aumento pra geral/ é a mentira que vende o teu jornal […] Pendurado na porta da chupeta/ o negão tá cercando uma buçanha/ a Raimunda apresenta a coisa quente/ e o sufoco virou um paraíso/ o cansaço é gozado num sorriso/ e o Bellini pegou mais um pingente […] No Natal todo mundo é o boca rica/ tem festança, salgado com batida/ mas, também há batida pra valer/ muita vela já vi gente acender/ meu emprego até que não dá trabalho/ chegar lá é que é coisa do baralho (…) Ôi, no balanço do aperto do trem/ não diga, meu bem, que eu sei que tem”[25]. Mesmo na adversidade, no sofrimento, há alguma beleza e satisfação pela participação nessa sociabilidade excêntrica. No fundo, não há outra sociabilidade: participa-se sem que o processo dinâmico das relações possa ser determinado pelas vontades dos participantes[26].
Uma última percepção: a da alienação individual e suas consequências sociais. Gonzaguinha fez isso em uma música emblemática, que se tornou quase que um hino contra a ditadura, um manifesto pela tomada de consciência da população trabalhadora, um chamamento à transformação social, como denúncia da apatia e da alienação generalizadas, Comportamento geral: “Você deve notar que não tem mais tutu/ e dizer que não está preocupado/ você deve lutar pela xepa da feira/ e dizer que está recompensado// Você deve estampar sempre um ar de alegria/ e dizer: tudo tem melhorado/ você deve rezar pelo bem do patrão/ e esquecer que está desempregado// Você merece, você merece/ tudo vai bem, tudo legal/ cerveja, samba, e amanhã, Seu Zé/ se acabarem teu carnaval? […] Você deve aprender a baixar a cabeça/ e dizer sempre muito obrigado/ são palavras que ainda te deixam dizer/ por ser homem bem disciplinado”[27].
A música brasileira, em especial Gonzaguinha, teve uma capacidade incrível de percepção e tradução estética em suas obras. A sociabilidade da pessoa pobre, e mesmo sua subjetividade, foi captada em diversas dimensões, física e psíquica, pública e privada. Aqui, ainda falta uma: a da indiferença que toda nossa sociabilidade confere à vida e faz, ao mesmo tempo, dessa indiferença motivo de afloração de afetos diversos e de espetáculo.
Indiferença: sociabilidade do espetáculo
A morte talvez seja o tema mais tabu e que mais expressa a sociabilidade brasileira, de múltiplas maneiras. Quase não se fala dela, a não ser tergiversando, em metáfora e místicas religiosas. Ao mesmo tempo, ela é celebrada cotidianamente, como espetáculo particular e público[28]. É tabu, também, porque o trabalhador é descartável para o capitalismo. Sua morte não faz diferença ao capital – mas isso não pode ficar explícito, uma vez que de alguma forma a ideologia poderia perder efeito se fosse expressa por palavras, sem filtros e mediações. Também, nossa sociabilidade foi cunhada com a violência, na base da pancada e da morte daqueles a quem se pode tratar como ninguém. Mas, na morte algo se revela: nossa capacidade de elaborar, de sublimar, de inverter, de criar espetáculo sem morbidez, de reconhecer, ao mesmo tempo, a dignidade e a indigência do morto. Um espetáculo que se agrega ao cotidiano, o balança, e desaparece no tempo[29].
Em canções brasileiras a morte resulta de um complexo que envolve afetos individuais do morto (ou quase morto, veremos), suas angústias e sofrimentos e as condições sociais que o envolvem. À percepção de si daquele que se dispõe à morte, sobre suas atitudes, gestos e palavras, que revelam algo profundo, se opõe a dimensão social de sua morte. Esta aparece como uma ruptura do cotidiano, logo absorvida, que afeta e recompõe a sociabilidade como algo quase catártico[30].
Em uma composição bastante conhecida da música brasileira, Construção, de Chico Buarque, o trabalhador morre por falta de sentido da vida. Sua morte, tensa a partir do ponto de vista do trabalhador que sofre, vira um espetáculo de quebra da rotina e é tratada com indiferença diante do andamento caótico da metrópole capitalista. O morto atrapalha o andamento das coisas, da rotina mecânica do mundo: “Morreu na contramão atrapalhando o tráfego […] Morreu na contramão atrapalhando o público […] Morreu na contramão atrapalhando o sábado”[31].
Em João do Amor Divino, de Gonzaguinha, a morte tem um significado diverso, mais profundamente social e com uma tremenda reviravolta na apoteose. João do Amor Divino sabe de seu sofrimento, de seu não reconhecimento como pessoa. Sabe, também, que é, assim como muitos trabalhadores pauperizados, acostumado à morte diária, ao suicídio cotidiano que os trabalhadores cometem para sobreviver. E o povo espectador, igualmente acostumado e indiferente, quer regozijo com o espetáculo que rompe e adere ao habitual[32]. No fim, João do Amor Divino de Santana e Jesus – um nome com todas as referências bíblicas e religiosas possíveis – dá a volta por cima: foi adversamente reconhecido como alguém: “É que meu nome é João do Amor Divino de Santana e Jesus/ já carreguei, não guento mais o peso dessa minha cruz// Sentado lá no alto do edifício ele lembrou do seu menor/ chorou e, mesmo assim, achou/ que o suicídio ainda era o melhor// E o povo lá embaixo olhando o seu relógio/ exigia e cobrava a sua decisão/ saltou sem se benzer por entre aplausos e emoção/ desceu os sete andares num silêncio de quem já morreu/ bateu no calçadão e de repente ele se mexeu// Sorriu e o aplauso em volta muito mais cresceu/ João se levantou e recolheu a grana que a plateia deu// Agora ri da multidão executiva quando grita ‘pula e morre, seu otário’/ pois, como tantos outros brasileiros/ é profissional de suicídio e defende muito bem o seu salário”[33].
Nossa sociabilidade mórbida tem um quê de graça pelo inusitado. Nela se compõe e recompõe a capacidade do indivíduo de ser reconhecido como sujeito, seja como for. Desde a colônia, a morte pública, mesmo sem querer, tornou-se um evento-espetáculo que fomenta relações das mais diversas entre as pessoas. O protagonista-defunto pode até mesmo ser esquecido, mesmo tendo-se em vista tudo o que proporcionou de novas relações, afetos, reviravoltas. Ele pode ser só um mote para algo maior – e nisso o reconhecimento social de sua importância –, seja Quincas Berro D’Água[34], seja o “corpo estendido no chão”: “Tá lá o corpo estendido no chão/ em vez de rosto, uma foto de um gol/ em vez de reza, uma praga de alguém/ e um silêncio servindo de amém// O bar mais perto depressa lotou/ malandro junto com trabalhador/ um homem subiu na mesa do bar/ e fez discurso pra vereador// Veio o camelô vender anel, cordão, perfume barato/ Baiana pra fazer pastel e um bom churrasco de gato/ quatro horas da manhã baixou o santo na porta-bandeira/ e a moçada resolveu parar, e então […] Sem pressa, foi cada um pro seu lado/ pensando numa mulher ou no time/ olhei o corpo no chão e fechei minha janela de frente pro crime (…) Tá lá o corpo estendido no chão”[35].
Esta multifacetada e complexa sociabilidade brasileira, tão profundamente captada pela música – especialmente de Gonzaguinha –, é síntese histórica: ela não se dá somente por vontades individuais, que são, igualmente, resultado histórico-social. Se tomarmos Gonzaguinha como guia, a transformação desse tipo de relações sociais é possível, pois em todas as suas faces há algo permanente: a dinâmica do capitalismo como sociedade que impõe certas relações, determinados modos e possibilidades de formação pela experiência. Se é o trabalho vivo que abre caminhos à formação, que ele possa ser libertado da dominação do trabalho abstrato, do capital. Se há outra sociabilidade possível, ela demanda ruptura com o existente. Só um processo pode alterar essa realidade: a luta. “Vamos à luta!”[36]
[1] O primeiro texto da saga “Dialética da sociabilidade” pode ser conferido em: https://contrapoder.net/colunas/dialetica-da-sociabilidade-parte-1-a-pequena-classe-media-ilustrada/.
[2] https://www.youtube.com/watch?v=TvHbh5p89aM.
[3] Música disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=p3ioSwPPQO4.
[4] HEGEL, G. W. F. Fenomenologia do Espírito. Trad. Paulo Meneses; com a colaboração de Karl Heinz Efken e José Nogueira Machado. 5. ed. Petrópolis: Vozes; Bragança Paulista: Editora Universitária São Francisco, 2008.
[5] Cabe lembrar que Marx jamais pensou em uma anulação completa do trabalho. Sua visada se deu ao trabalho abstrato e alienado de cunho estritamente capitalista, não ao trabalho vivo. Uma transformação radical da sociedade faria a superação (no sentido da negação determinada) do trabalho sem forma (abstrato) e alheio ao produtor direto: em suma, superação do trabalho abstrato pelo trabalho vivo, livre e formador.
[6] MARX, K. Ad Feuerbach. In: MARX, K.; ENGELS, F. A ideologia alemã: crítica da mais recente filosofia alemã em seus representantes Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e do socialismo alemão em seus diferentes profetas (1845-1846). Trad. Rubens Enderle; Nélio Schneider; Luciano Cavini Martorano. São Paulo: Boitempo, 2007, p. 533-35.
[7] João Bosco e Aldir Blanc, Kid cavaquinho. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=c6hZL535ioY.
[8] O jovem Marx já havia notado isso: “O trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, quanto mais a sua produção aumenta em poder e extensão. O trabalhador se torna uma mercadoria tão mais barata quanto mais mercadorias cria. Com a valorização do mundo das coisas aumenta em proporção direta a desvalorização do mundo dos homens”. MARX, K. Manuscritos Econômico-Filosóficos. Trad. Jesus Ranieri. São Paulo: Boitempo, 2004, p. 80.
[9] CRARY, J. Terra arrasada: além da era digital, rumo a um mundo pós-capitalista. Trad. Humberto do Amaral. São Paulo: Ubu Editora, 2023, p. 40.
[10] Quanto a isso, cf. TOMASSINI, M. G. O mal-estar dos professores da rede de ensino estadual de São Paulo. Dissertação. Universidade Federal de São Paulo, Guarulhos, 2023. Disponível em: https://repositorio.unifesp.br/items/fd5a9724-5868-40f7-bb90-d89245a1960b. Aí o autor explora, com pesquisa empírica e farta fundamentação teórica, os mal-estares de uma categoria cada vez mais vulnerabilizada.
[11] Anamaria e Mauricio, O mar é meu chão. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=GP8l55yON_8. Dori Caymmi e Nelson Motta, O mar é meu chão (versão original). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DXRo0jz321A.
[12] Como exemplo incidental, em “O espelho”, de Machado de Assis, ainda que o significado seja diverso do aqui explanado, a farda de alferes da guarda nacional confere sentido completo, em determinado tempo, ao protagonista. Seu reconhecimento público se dava pelo que era, pelo que representava. Quem somos senão aquilo que representamos socialmente? Cf. ASSIS, Joaquim Maria Machado de. O espelho. In: ___. Papéis avulsos. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 219-33.
[13] Não discutirei aqui sobre as deformações implicadas pelo trabalho, sobre o sofrimento, a alienação, a exploração, o trabalho não pago da reprodução social ou mesmo o trabalho precarizado de milhões de brasileiros – tampouco sobre o trabalho escravizado, e as precárias condições dos indivíduos livres na colônia e no Império, que durante mais ou menos 350 anos mutilou as possibilidades de experiência rica de diversas pessoas. Mesmo tendo sido configurado violentamente, foi por ele – seja no eito, no meio urbano ou fugindo dele – que se abriram e restringiram as possibilidades adversas de experiência e formação sob a escravidão. Não por acaso, como exemplo, no Brasil temos a maior e mais ampla musicalidade do mundo e uma sociedade que poderia ser exemplar por sua complexa diversidade – não fossem as dinâmicas entorpecentes das classes dominantes. Interessa, aqui, pensar a sociabilidade que tem a atividade prática dos indivíduos – o trabalho – como centro, seja o trabalho como emprego (“formal” ou “informal”), seja como trabalho em sentido amplo, de construção de si e do mundo, das experiências e da formação individual do caráter, do sentido, em suma, da vida.
[14] Gonzaguinha, Um homem também chora (Guerreiro Menino). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=keiHSKWi8HU.
[15] Gonzaguinha, Caminhos do Coração (Pessoa = Pessoas). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=KO7v3rmzl5E.
[16] Gonzaguinha, Pobreza por pobreza. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4JqQOTganec.
[17] Marx trata sobre isso, direta e indiretamente, em praticamente toda sua obra. Sobre Gramsci e Lukács pode-se ver, respectivamente: GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere, v. 1.,4. ed. Ed. e trad. Carlos Nelson Coutinho; coed. Luiz Sérgio Henriques e Marco Aurélio Nogueira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006; LUKÁCS, Georg. História e consciência de classe: estudos sobre a dialética marxista. Trad. Rodnei Nascimento; rev. da trad.: Karina Jannini. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
[18] Essa percepção da vida pela experiência do trabalho também pode ser ouvida – e vista, já que são canções imagéticas – em Canção do sal e Morro velho, ambas de Milton Nascimento. Em Canção do sal ouve-se: “Trabalhando o sal pra ver a mulher se vestir/ e ao chegar em casa encontrar a família a sorrir/ filho vir da escola, problema maior de estudar/ que é pra não ter meu trabalho/ e vida de gente levar”. Milton Nascimento, Canção do sal. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=sFhBONhN7Vo. Milton Nascimento, Morro velho. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zaVNV3iMr20. Meus outros textos sobre Milton Nascimento, por ocasião, respectivamente, da comemoração de seus 79 e 80 anos, podem ser conferidos no Contrapoder. Milton Nascimento, 79, disponível em: https://contrapoder.net/cultura/milton-nascimento-79/ e Universo Milton, disponível em: https://contrapoder.net/colunas/universo-milton/.
[19] Gonzaguinha, É preciso. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=nSmJ1QBipLU. A “Mãe” a quem Gonzaguinha se refere na música é Dina – Leopoldina de Castro Xavier –, sua segunda mãe e quem o criou (ele se refere a ela em outras músicas como, por exemplo, Com a perna no mundo). Gonzaguinha foi criado por Dina e seu companheiro, Henrique Xavier Pinheiro, seu segundo pai – ou seu Padrinho, como é comumente referenciado –, que lhe ensinou violão. Sua mãe biológica, Odaléia Guedes dos Santos, era cantora e morreu de tuberculose quando Gonzaguinha tinha 2 anos de idade (ele a homenageia na música Odaléia, noites brasileiras). Foi criado no Morro de São Carlos, no Estácio. Teve uma vida muito conflituosa com seu pai, o Gonzagão. Só em 1979 selaram a paz, quando fizeram o espetáculo Vida de viajante e rodaram o Brasil todo com o show. Sobre a questão do trabalho feminino no lar, trataremos em outro momento no pormenor.
[20] Experiência, conceito recorrente aqui, não é um simples “viver um momento qualquer”. Ela demanda capacidade de absorção e elaboração do vivido. Por exemplo: muitos viveram o período nefasto recente da ditadura militar – período de grande produção e militância de Gonzaguinha –, mas nem todos tiveram a capacidade de perceber suas dimensões tenebrosas. Viveram, não experienciaram.
[21] MARX, K. Manuscritos Econômico-Filosóficos. Trad. Jesus Ranieri. São Paulo: Boitempo, 2004, p. 128. Grifos meus; tradução modificada.
[22] Gonzaguinha, Dias de Santos e Silvas. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=E1339FXg900.
[23] Gonzaguinha, A cidade contra o crime. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=YJQJbjM4dvQ.
[24] Sobre isso, cf. o clássico de Antonio Candido, Dialética da malandragem. CANDIDO, A. Dialética da malandragem. In: ___. O discurso e a cidade. 5. ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, p. 17-47, 2015. Cf. também XAVIER, V. dos S. Um quê a mais: uma proposta interpretativa da subjetividade brasileira a partir da Dialética da malandragem, de Antonio Candido. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, n. 73, p. 248-66, ago. 2019. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/rieb/article/view/161919/155867.
[25] Emílio Santiago, No balanço do trem. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=dH36kGfWOCo.
[26] Interessante, como curiosidade e exemplo, é o conto, escrito entre 1934 e 1942, Primeiro de Maio, de Mário de Andrade. Ali aparece o trabalhador empolgado com a data cívica diante do que considera como uma apatia geral, e se enerva com isso. Os trabalhadores percebem e se fazem por aquela sociabilidade que compõem e são preenchidos de significado – ou falta dele – por ela. É interessante também notar que Mário de Andrade, com precisão, não nomeia as personagens: todas são designadas por números, e isso pode ser interpretado pelo esvaziamento da subjetividade do trabalhador subjugado por um sistema em que importam as mercadorias, inclusive a mercadoria trabalho. Cf. ANDRADE, Mário. Primeiro de Maio. In: ___. Contos Novos. São Paulo: O Estado de S. Paulo; Klick Editora, s/ data, p. 43-53.
[27] Gonzaguinha, Comportamento geral. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=RLxQ1UyHDD4
[28] Sobre como a morte é um evento, ainda que seja tabu sua racionalização discursiva, é interessante e representativa – pois é um costume que está se perdendo – a entrevista em que Zeca Pagodinho fala sobre os velórios no subúrbio: https://www.youtube.com/watch?v=PxTicMcIliM&t=12s.
[29] No capítulo XLVII de Quincas Borba (p. 50-51), de Machado de Assis, Rubião, personagem principal do romance, busca uma memória passada do enforcamento de um negro em praça pública (lembrando que os escritos de Machado de Assis são ambientados em meados do século XIX, quando a escravidão fazia parte da vida cotidiana). O interessante é que caso olhemos o capítulo e os imediatamente anterior e posterior, a cena do enforcamento não tem outra valia a não ser o regozijo e a afirmação da pessoa de Rubião. Os capítulos não têm continuidade, como se o evento fosse algo aleatório e quase insignificante; é um espetáculo à parte, absorvido pela rotina. A morte do outro desconhecido é um evento que atravanca o andamento “normal” das coisas ou um espetáculo que balança momentaneamente a ordem do dia. Cf. ASSIS, Joaquim Maria Machado de. Quincas Borba. São Paulo: O Estado de São Paulo; Klick Editora, 1997.
[30] De forma bem sumária e simples, catarse é um conceito que o filósofo Aristóteles utiliza em sua Poética e pode ser traduzido por “purificação da alma”: aquele que vê o espetáculo (as tragédias gregas, no caso aristotélico) identifica-se e se purifica pela trama que expõe uma situação que poderia ser comum a muitos, a todos. A tragédia mais conhecida analisada por Aristóteles é Édipo Rei, na qual o filho mata o pai (sem saber) e se casa com a mãe (igualmente sem saber; fica sabendo somente depois). Édipo, quando toma conhecimento de sua tragédia, cega-se furando seus olhos. A tragédia de Sófocles cria, assim, uma interdição (uma lei moral) contra o incesto. Aqueles que tiveram acesso à tragédia de Édipo se identificam a ele e purificam suas almas, sabendo como devem e nãodevem agir. A catarse, então, é um momento de recomposição do indivíduo e da coletividade, de purificação e redenção, ainda que momentânea. Cf. ARISTÓTELES, Poética. 2. ed. Trad. Paulo Pinheiro. São Paulo: Ed. 34, 2017.
[31] Chico Buarque, Construção. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=wBfVsucRe1w.
[32] Não por acaso o Brasil é repleto de programas “jornalísticos”, filmes, novelas, “reality shows” que explodem na audiência pela polêmica, pela violência e, sobretudo, pela morte.
[33] Gonzaguinha, João do Amor Divino. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=uBh_2hPXLm4.
[34] AMADO, Jorge. A morte e a morte de Quincas Berro D’água. São Paulo: Cia das Letras, 2008.
[35] João Bosco e Aldir Blanc, De frente pro crime. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IBPIxnG6sjM. Veja-se também o conto “O Ladrão”, de 1941-42, de Mário de Andrade, no qual um suposto ladrão aparece à noite em uma vizinhança – suposto, pois, dele só se soube de um barulho, ninguém o viu e, portanto, pode não ter existido. Mesmo sem existir fisicamente, torna-se mote para relações, conversas, paqueras na vizinhança, já que todos saem à busca do ladrão inexistente e tomam contato entre si. Cf. ANDRADE, Mário. O Ladrão. In: ___. Contos Novos. São Paulo: O Estado de S. Paulo; Klick Editora, s/ data, p. 32-42.
[36] Gonzaguinha part. Roberto Ribeiro, E vamos à luta. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=hWjEDvNYOPU.